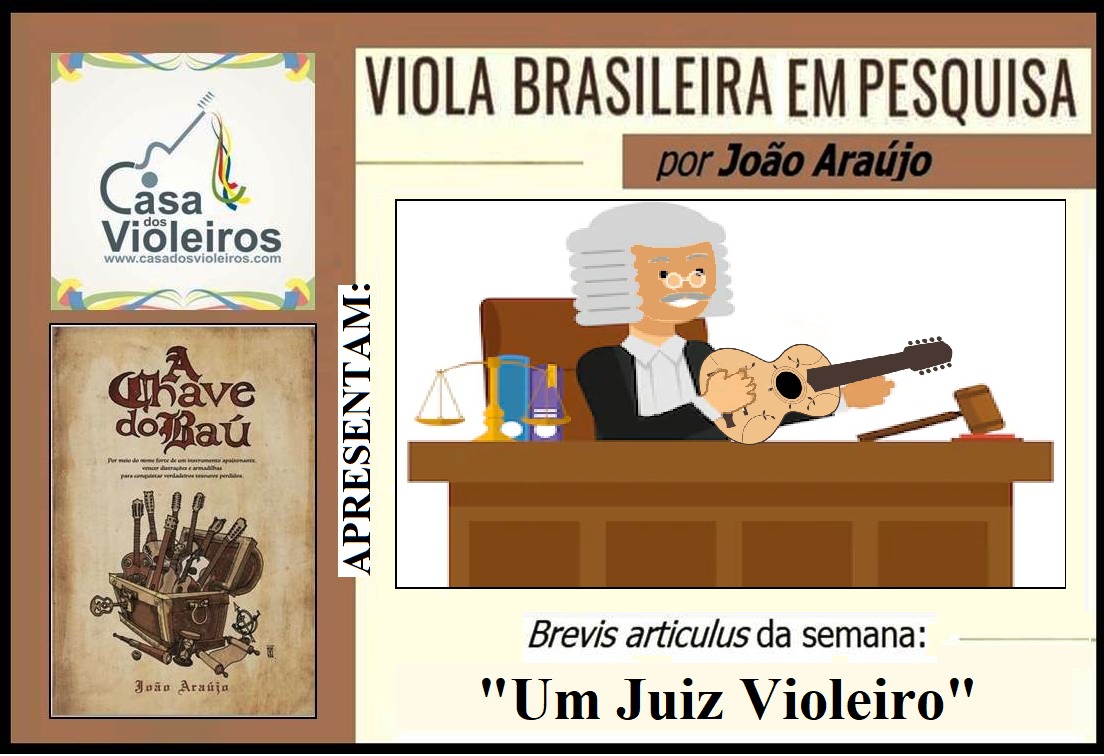VIOLA BRASILEIRA EM PESQUISA
........................................por João Araújo.

COMO A MAIORIA DOS EUROPEUS VEEM AS VIOLAS
I have chosen this fiddle among the many, because it is a good illustration of the oval vielle of the twelfth, thirteenth and fourteenth centuries, and because the name "viola" is written in the MS. just above it.
(“Escolhi este fiddle entre vários porque é uma boa ilustração da viola oval [?] dos séculos XII, XIII e XIV, e porque o nome “viola” está escrito no MS, logo acima).
[Kathleen Schlesinger, no livro Instruments of Modern Orchestra and Early Precursors of Violin, 1910, v2, p.393].
Viola, Saúde e Paz!
No processo de aprofundamentos das pesquisas, característico destes Brevis Articulus que aqui publicamos, chegamos à checagem de algumas fontes pouco citadas por estudiosos pelos tempos, como é o caso da musicóloga britânica Kathleen Schlesinger (1862-1953), da qual só vimos uma citação, na Encyclopédie de la Musique, de 1925, publicada sob a coordenação do musicólogo francês Albert Lavignac (1846-1916).
Para nossa surpresa, é um trabalho primoroso, repleto de análises e reproduções de desenhos a partir de manuscritos, alguns bem raros. Uma farta pesquisa sobre esculturas, pinturas e textos em diversas línguas e épocas também é apontada no livro. No início do século XX, a então curadora do Museu Britânico teria sido bem respeitada por suas publicações. Talvez, com o passar do tempo, possa ter sido menos citada por ter sido mulher: infelizmente, a estatística de nosso banco de dados, construído a partir dos estudos mais citados desde o século XV (e fontes citadas nestes), aponta número bem menor de autoras. Entretanto, atestamos que fizemos descobertas muito importantes exatamente nestes pouco citados estudos “femininos" (por assim dizer).
Talvez Schlesinger tenha sido pouco citada por algumas posturas particulares que teria escolhido; por exemplo, é a única que observamos que teria inventado e adotado a nomenclatura guitar-fiddle para designar o principal conjunto de antecessores do violino... Ela mesmo explicou que era um nome moderno, de cunho próprio (além do próprio termo fiddle não deixar de ser um genérico moderno, inventado para nomear qualquer friccionado por arco)... mas foi uma colocação infeliz, pois são dois nomes ligados a formas de tocar bem distintas (dedilhada e friccionada por arco), por convenção que já vinha desde bem antes da pesquisadora. A tendência esmagadora dos estudiosos é separar categoricamente estas duas classes de instrumentos. Separam até demais, diríamos nós, se fôssemos perguntados...
Parece que o conservacionismo (assim como certa forma de usar nomenclaturas) impera na musicologia há muitos anos, assim como em outras áreas. Isto serve inclusive como alerta para nós, que esperamos, então, certa resistência a nossos questionamentos atrevidos, com embasamentos inéditos, vários deles baseados em estudos de nomes, que nunca vimos terem sido feitos tão profundamente antes...
Outra surpresa encontrada no livro da inglesa foi o exemplo em destaque na abertura, até certo ponto atestador de algo que constatamos por centenas de apontamentos: a maioria dos estudiosos europeus, embora excelentes como Schlesinger, teriam se equivocado nas análises, ao considerar "violas" apenas como instrumentos friccionados por arco, deixando assim as violas dedilhadas fora das equações investigativas.
De certa forma, “é bom para nós”, pois nos deixaram então um caminho ainda inédito na musicologia ocidental (e por isso mergulhamos fundo nele).
No apontamento em destaque (assim como no restante do livro) observa-se como ela na verdade veria todas as vielles (“violas”, em francês), por todo o território europeu, dos séculos XII ao XIV. A base seria aquele o instrumento que ela teria visto em um manuscrito (identificado como Sloane 3983), estimado ao século XIV, referente à região belgo-francesa Flandres e que, segundo ela, seria um fiddle (ou seja, "um instrumento tocado por arco"). Um dos principais argumentos seriam dois furos no formato da letra "C" vistos na caixa de ressonância metade ovalar, metade achatada como um quadrado com os cantos arredondados. Segundo ela, instrumentos tocados por arco não teriam bocas redondas nas caixas, o que é uma tese que até poderia justificar o desenvolvimento acontecido pelos séculos, mas não atesta que todos os instrumentos teriam sido assim no passado, principalmente durante um grande período de transição... Um período pouco observado em estudos, mas que os registros apontam ter existido.
O desenho não indica como teria sido o fundo do instrumento, se liso ou abaulado. Quatro cordas, que passariam por um cavalete onde se veem cinco furos representados (?) e que se estenderiam pelo tampo, onde não se vê em detalhes, mas parece que as pontas seriam fixadas na lateral inferior ou no fundo. Na cabeça, na forma de um trevo de três folhas, apenas três (?) tarraxas grandes, desenhadas de forma livre, artística. O suposto arco não constaria do desenho. O manuscrito, escrito em latim, apontaria literalmente o nome viola que, embora a pesquisadora não tenha citado o mais remoto registro conhecido, demonstrou saber que teria surgido realmente a partir do século XII (certamente pela estatística dos manuscritos que pesquisou, e foram muitos).
Nós, atrevida e pioneiramente, afirmamos: "ledo engano coletivo da grande maioria dos estudiosos!". Apontam só violas de arco, muito provavelmente, porque a família dos instrumentos tocados por arco se tornou "erudita", de participação importante nas orquestras, estudada nas escolas, etc... enquanto as violas dedilhadas seriam apenas "instrumentos populares".
Dizemos “a maioria dos estudiosos” porque, além dos poucos estudos específicos sobre violas e vihuelas dedilhadas, em mais de uma centena dos mais citados estudos europeus que investigamos, apenas três teriam citado as dedilhadas, e sempre com poucas linhas, como curiosidades. E, também curiosamente, observamos só uma citação por século (!), e todas em inglês, significando talvez que cada estudioso possa ter influenciado a citação do secundante, mas nenhum teria levado a pesquisa mais a fundo. Isso acontece mais do que precisaria. São elas, as citações: Carl Engel (Researches into the Early History of the Violin Family,1883, p.122) chegou a citar até as violas brasileiras; Curt Sachs (The History of Musical Instruments, 1940, p.274) e Tyler & Sparks (The Guitar and its Music, 2002, p.191) citaram apenas violas portuguesas dedilhadas. Nem precisamos contar que sabemos disso porque saímos “caçando de vela acesa” nossas violas pela História, né? Sobre-entenda-se.
Não: nem todas as "violas" (e variações deste nome surgidas nas línguas relacionadas) seriam tocadas por arco. E isto teria origem, na verdade, desde o século X até os dias atuais. No caso, hoje em dia, só na língua portuguesa, mas “bom pra nós também” que os portugueses, por nacionalismo, teriam optado esta forma anômala e exclusiva de chamá-las, enquanto o resto da Europa, a partir do século XVII, teria optado por chamar dedilhados semelhantes de variações do termo espanhol guitarra. O contexto histórico-social disso, no popular: portugueses e espanhóis “nunca se bicaram”, é fato.
Vários estudiosos (inclusive a própria Schlesinger) atestam por centenas de registros (escritos, desenhos, esculturas), colhidos por toda a Europa, que os arcos só teriam registro no território europeu a partir do século X e que os primeiros instrumentos nos quais teriam sido utilizados arcos (rababs, rotas, gigas) teriam sido apenas dedilhados antes. Estes teriam passado a ser tocados de ambas as formas por um longo período de transição (o tal que falamos que existiu, lembra?) e sendo, enquanto isso, chamados pelos mesmos nomes.
Dada a interpretação muitas vezes equivocada destes dados, embora a nós trazidos exatamente por grandes pesquisadores europeus, não nos custa resumir aqui como alguns deles os apontaram em seus estudos:
REBEC, CROUTH, GIGUE (em texto em francês) seriam os apontados pelas pesquisas de Paul Garlant, na Encyclopedie de la Musiquede Lavignac (1925, p.1760);
REBEC, ROTTE, GEIGE (em texto em inglês) apontariam as conclusões de Carl Engel (Researches into the Early History of the Violin Family,1883, p.152);
REBEC, CROWTH, GIGE (em texto em alemão) seriam os apontados por Curt Sachs (Real-Lexikon der Musikinstrumente, 1913);
RABÉ, ROTA, GIGA(em texto em espanhol), por Rosario Martinez (tese Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos, 1981, p.888).
É importante denotar que o fato de registros conhecidos apontarem “a partir do século X” não comprova que os arcos não fossem utilizados antes, por todo o território; mas atestam, pela estatística, que àquela época estariam ainda bem no início do tal período de transição.
O que não teria sido bem considerado pelos estudiosos é que, ainda durante o longo período, entre os séculos XII e XIII, é que se conhecem registros do nome "viola" (com a característica de terem surgido em variações próximas em várias línguas), quase simultaneamente e com bem mais registros que guitarras e outros cordofones que sempre teriam sido dedilhados. O contexto histórico-social deste surgimento teria sido o auge do Trovadorismo, em que artistas viajavam pelos vários reinos existentes, narrando poeticamente várias características e costumes da época, com mesclas do latim popular e línguas e dialetos ainda em ascensão. Isso incluiria, por exemplo, o nome viola de registros mais remotos em latim, occitano, catalão e ainda em espanhol (neste caso como variação de viuela); violle e viele em francês; videle em alemão antigo; fidele em inglês anglo-saxão e outras variações próximas.
Embora ainda na fase de transição, a maioria dos estudos (antes dos nossos) parecem ter concluído que a separação seria latente e indiscutível, considerando “violas” como friccionados desde sempre... E o que é pior, e que aponta que teriam sido traídos por visões modernas e pouco precisas: ao não considerarem violas dedilhadas nas equações investigativas, vários estudiosos apontam que alguns instrumentos com registros anteriores ao século XII (!) também teriam sido como violas friccionadas por arco, mesmo que não existam indicações claras naqueles registros, como os de nomes latinos vidula e phiala (século XI) e principalmente fidula (século IX). O levantamento, tradução e organização das fontes nas línguas originais foi inclusive a motivação de nosso artigo Chronology of Violas according to Researchers (Ferreira, 2023).
Em nossa reinvestigação atenta observamos, sem ter sido apontado por outros estudos, que o nome phiala foi ligado a arcos, mas com ressalvas: [...] Arcus dat sonitum phiale, rotule monochorde(“O arco [é usado para] gerar som na phiala, um monocórdio com rodas”) seria o registro mais remoto com apontamento de arcos, já do século XIII (!), na Summa Musicӕ, creditado a certos “Perseus e Petrus” (?-?). Além de não ser atestação válida (um instrumento ainda seria igual por cerca de 200 anos, em outra região, mesmo citado pelo mesmo nome?), não há evidência de instrumentos como as “violas” tivessem tido só uma corda em qualquer época: aquela phiala do século XIII tem probabilidade maior, portanto, de ter sido uma grande tromba marina, com a citada “roda” servindo para locomoção do instrumento. É um monocórdio bastante citado, normalmente tendo mais de dois metros de comprimento.
Já sobre fidula, observado em poema do padre alemão Otfrid ([863-871]), observa-se que teria sido entendida como palavra original alemã, mesmo que não tenha sido observada em nenhum outro registro antigo nessa língua. Entretanto, somado ao registro de fiþele (transcrito fidele / fithele), de manuscrito em inglês do século XII, a fidula teria originado os entendimentos modernos de genéricos para instrumentos de arco fidel (em alemão) e fiddle (em inglês). Hoje, mais utilizados como sinônimo de “violino” e/ou “violino rústico, rabeca”. Só que nem aquela fidula do século IX, nem as citações de fidele / fithele conhecidas, até o século XIV, tem evidência de terem sido instrumentos tocados por arco. Encontramos apenas mais uma citação antiga de fidula, no século X, mas em texto em latim De Musica do padre e musicólogo francês Odo de Clúnia, que apontou cithara sive fidula, ou seja, que a fidula seria como uma citara, instrumento dedilhado... percebe a gafe? Cithara só poderia ter sido um dedilhado...
Alguns estudiosos importantes até reconhecem que a fidula original não teria sido tocada por arco, mas, interessantemente, ainda assim utilizam largamente fiddle como genérico para friccionados em seus textos. O já citado Carl Engel chegou a fazer um pequeno desenvolvimento, com apontamento de fontes a partir do século XIV, onde de certa forma defendeu (ou justificou) o uso genérico, tanto em alemão quanto em inglês... só que as fontes originais inglesas indicadas apontariam, na verdade, o já citado fiþele, transcrito fidele ou fithele. Daí até fidel e fiddle há um coeficiente de adaptação / tradução. Não rastreamos profundamente, pois consideramos a prática equivocada, mas vimos que em fins do século XVIII John Hawkins não usaria o genérico fiddle, mas chamaria os tocadores de fidlers (A General History of the Science and Practice of Music, 1776); e poucos anos depois, Charles Burney (A General History of Music, 1782) já usaria muito o tal genérico.
Outro genérico muito utilizado na língua inglesa, um pouco antes de fiddle, foi viol: parece viola, mas não é, né? Entendemos que não seja por preguiça de acrescentar uma letra a mais, e sim para evitar termos em outras línguas. Traduzir, porém acrescentando um certo sentido de nacionalismo, já vimos antes na História (as nossas violas, na verdade, teriam sido apenas um nome antes, já demonstramos por aqui algumas vezes). Aliás, mudar (depois de algum tempo) de viol para fiddle também aponta nacionalismo (o segundo nome tem ainda mais “cara de inglês”).
Este termo viol lembramos tê-lo observado pelo muito citado musicólogo alemão Michaele Prӕtorio “Michael Praetorius” (Syntagmatis Musicis, de 1619). Chamou a atenção porque o autor, escrevendo a maior parte das vezes em latim, acrescentou muitos termos também em alemão, e vez ou outra “escorregavam” alguns em italiano e francês. No caso, observamos viol de bracie e viol bastarda (como numa língua “italiana pobre”, ou “estilizada”). Talvez seja o mais remoto registro, e talvez tenha sido criado por engano, de grafia ou de gráfica, pois não seria exatamente de nenhuma língua europeia, muito menos do inglês, já que se aproxima da forma latina. Não nos interessa tanto investigar, como já dissemos, mas o certo é que os ingleses parecem ter gostado do nome, e desde pelo menos Christopher Simpson (The Division-Violist, 1659) veio sendo usado como se fosse “viola” e às vezes como genérico, até fiddle passar a dominar.
De nossa parte, embasados em nossos estudos sobre nomenclaturas, apontamos que o uso de genéricos, assim como traduções e aplicações de nomes modernos a instrumentos antigos é altamente prejudicial, causando inúmeros equívocos de entendimento. Nomes de instrumentos pelos tempos já são complexos de entender por si mesmos, sem precisar de mais confusões agregadas. Por outro lado, os nomes em suas formas / línguas originais carregam resquícios históricos interessantes, que não deveriam ser ocultados, e sim destacados.
Alguns instrumentos, como as rabecas, com o passar do tempo se consolidariam exclusivamente como tocadas por arco, enquanto suas “irmãs”, as mandoras, seguiriam só como dedilhados. O mesmo com as violas: a maioria delas também passaria a ser tocada por arco, mas não todas... Se olharmos com bastante atenção e buscando o máximo de abrangência, na História Ocidental as “violas” jamais teriam deixado de ter seu nome ligado à ambas as formas de tocar, e não apenas a uma, além da bivalidade ser claramente apontada em alguns registros.
Para tanto, é preciso ter muito cuidado nas análises e não se deixar levar por suposições, traduções e muito menos concepções já modernas: apontamos que a fase de transição teria sido especialmente longa em algumas regiões, porque no século XIV ainda haveria citação de vihuelas de arco e vihuelas de pendola (dedilhadas) pela Espanha, bivalidade que duraria pelo menos até o início do século XVII, conforme se observa desde o Libro de Buen Amor, de Joan Ruiz (estimado ao século XIV) até Juan Bermudo (Declaracion de los Instrumentos Musicales,1555) e Domenico Cerone (El Melopeo y Maestro,1611).
O nome vihuela para instrumentos dedilhados cairia em desuso pelos espanhóis, mas nos séculos XV e XVI haveria "violas e violas" na Itália, ou seja, instrumentos de mesmos formatos e armações de cordas que as vihuelas espanholas, e também tocados de ambas as formas. Neste caso, a conferência precisa passar pelo menos por Tinctoris (De inventione et uso musicae, ca.1486), Francesco Milano (Intavolatura de Viola o vero Lauto, 1536) e Silvestro Ganasi (Regola Rubertina, 1542).
Pelo menos mais dois registros do século XVI apontam a utilização de um mesmo nome para dedilhados e friccionados por arco: o alaudista alemão Hanz Judenkünig (1450-1526)utilizaria a mesma metodologia para geiges (friccionados) e alaúdes (dedilhados), em seu método Utilitis et Compendiaria Introducto (ca.1523); e, em inventários do Rei Henrique VIII, falecido em 1547, a anotação [...] Gitterons […] caulled Spanishe Vialles (“Gitterons chamados Vialles Espanholas”), onde gitterons aponta para “guitarras”, instrumentos dedilhados. Esta última citação faz parte de manuscritos pesquisados pelo musicólogo inglês Francis Galpin (Old English Instruments, 1911) que, “interessantemente”, apontou as vialles como friccionadas por arco... (para quem não sabe, Galpin foi um excelente pesquisador, famoso e que merece todo respeito, mas...).
No século XVI e XVII, as violas portuguesas teriam significativos registros, que entende-se que estudiosos do resto da Europa possam ter desprezado, a princípio, pelos desenhos representarem na verdade guitarras “chamadas de violas”; entretanto, a partir do século XVIII, as violas portuguesas começariam a ter características diferenciadoras das guitarras, culminando no fato de que, do início do XIX até os dias atuais, tanto em Portugal quanto no Brasil, as violas dedilhadas passariam a efetivamente “existir”: não seriam mais apenas um nome sem correspondência a instrumentos distintos, pois os espanhóis abandonaram o formato com duplas de cordas e resignificaram o nome “guitarra” para um instrumento de seis cordas simples, apelidado “violão” pelos portugueses. Assim, a partir daquela época, guitarras e violas teriam se tornado bem diferentes, mas as violas dedilhadas não entrariam nas equações investigativas de muitos estudiosos. E olha que nós checamos...
Ou seja: seguiram havendo continuamente instrumentos com nome de “viola” (ou vihuela) que seriam bivalentes (quer dizer, um mesmo nome para instrumentos tocados de forma diferente). Qualquer tipo de registro onde o arco não fosse representado ou descrito não comprova que os instrumentos teriam sido tocados por arco... e muito menos comprovaria que em todas as regiões e épocas teriam sido tocados só daquela forma.
Nem curiosidades históricas (ou exceções) teriam chamado a atenção de outros estudiosos pelos tempos, como as chamadas "lira bizantina" e “lira de braço”, que tinham nome de dedilhados, mas eram tocadas por arco. Talvez, como dissemos, registros não tenham sido considerados por serem exemplos de instrumentos populares, que não faziam parte das orquestras e do círculo erudito como as violas de arco.
Não é primazia nossa estudar violas dedilhadas. Há alguns estudos (que naturalmente conferimos à exaustão) sobre: vihuelas espanholas, cujo nome caiu em desuso no século XVII; sobre as violas italianas dedilhadas (que passariam a ser chamadas chitarras também a partir do mesmo século XVII) e sobre as violas portuguesas e brasileiras, que tecnicamente só se pode dizer que tenham começado a existir de fato desde meados do século XIX. Nossa primazia está em analisar todo o conjunto ocidental, tanto histórico quanto de variedades de fontes e estudos em todas as línguas concernentes, contextos histórico-sociais, investigar e contextualizar a grande variação de nomes, e de desenvolver uma técnica metodologia consistente. Tudo “junto e misturado”, a partir da “chave do baú”, que é a técnica metodológica que desenvolvemos, e estamos a chamar de onomato-organologia... Mas aí já são outras prosas…
Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286

O VIOLÃO: COMO E PORQUE SURGIU
“[...] Recebendo de Espanha o violão, como a viola vulgarizado pelos mouros, o português denominou-o no aumentativo de viola, instrumento-rei.”
(Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro, 1954)
Viola, Saúde e Paz!
Segundo a internet, Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) teria sido historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, folclorista, poeta, cronista, professor, advogado e jornalista brasileiro. Teria vivido sempre em Natal, no Rio Grande do Norte e, por seus inegáveis méritos, é muito respeitado. Sua "obra-master", o Dicionário do qual destacamos um pequeno trecho na abertura, teria levado cerca de 15 anos para ter a primeira edição concluída e depois ainda teria sido bastante incrementado, visto que a edição que tivemos contato, de 2005, traz referências até do ano 2000 (portanto, 14 anos depois da morte do autor).
Um trabalho respeitável, sem dúvida alguma: teriam sido muitos anos pesquisando. Cascudo teria lido muito, consultado centenas de pessoas, feito viagens. Entretanto, como infelizmente se tornou comum nas publicações sobre folclorismo, vários de seus apontamentos não indicam fonte, nem desenvolvimentos: há muitas afirmações de cunho pessoal, às vezes divagações, ou fruto de intuições, como o trecho em destaque. Esse modo de agir não é muito recomendável, pois tais comportamentos às vezes geram lendas, como a óbvia indicação de que “violão” seria aumentativo de “viola”: neste caso parece ser indiscutível, mas etimologia de verdade muitas vezes não funciona assim, na base do que “parece mais óbvio”. E tem que ter atestações, senão é só "opinião".
Entendemos ser, na verdade, até um pouco leviano tratar a origem de palavras desta forma, mas infelizmente as pessoas comuns fazem muito; e pior, apreciam que seja feito, assim como apreciam lendas (outro combustível amplamente utilizado por folcloristas sem as devidas indicações, para que as pessoas não sejam enganadas). Ninguém deveria agir assim, muito menos um “historiador, sociólogo, antropólogo, etnógrafo...”; mas é verdade também que muitas pessoas parecem querer ser enganadas, gostam de acreditar em suposições, lendas, mitos e afins como se fossem verdades. Então... paciência, segue o andor.
Por outro lado, talvez por ter havido realmente pesquisa, às vezes algumas intuições tem algum fundamento e são passíveis de atestação. Teria sido o caso, no trecho em destaque, a opinião de que o violão teria vindo da Espanha e que haveria disputa com mouros. Outro trecho bem apontado, no caso, na frase final do mesmo verbete de Cascudo, seria: “[...] Não conheço referência ao violão, anterior ao século XVIII”. Realmente não haveria... mas para afirmá-lo é preciso contextualizar, desenvolver, apontar fontes e referências de época. Ainda no mesmo verbete, outras alegações do tipo “[...] o violão é urbano, a viola é interiorana”, possivelmente inspirada no que Cascudo tenha lido de Amadeu Amaral (livro A poesia da Viola, de 1921) é totalmente desprovida de atestação, vez que o violão acabou por atingir a preferência também nos rincões do Brasil, a partir de 1840, enquanto as violas, embora em menor número, nunca deixaram de existir nos grandes centros urbanos, como Vila Rica (maior centro urbano durante o Ciclo do Ouro), Rio de Janeiro, São Paulo e outros. Além disso, é preciso contextualizar que as violas não são originárias do Brasil, seja do interior ou dos centros urbanos: vieram de Portugal e, assim como lá, aqui foram evoluindo conforme o tamanho e outras características da diversidade cultural de cada país / região.
É preciso, pois, ler com bastante atenção e conferir informações sempre, e comparar por vários dados de época e contextos, para não sair espalhando lendas... mas, infelizmente, até estudiosos às vezes deixam de se preocupar com fundamentações (por equívoco ou por conveniência): "Paciência 2, a missão", poderia ser o nome do filme...
Para um aprofundamento um pouco maior, como nos propomos a fazer aqui nos Brevis Articulus, para falar sobre as origens do “violão” precisamos antes repassar algo que já citamos no livro A Chave do Baú: a história das guitarras espanholas, com curiosos capítulos desde cerca do século XIII (citação em cancioneiros ibéricos) até a já citada consolidação do instrumento, que por lá aconteceu um pouco antes daqui, aproximadamente a partir da década de 1820.
Pensa que confundimos guitarra com violão? Não... Na verdade, buscamos certa especialização pioneira no estudo de nomes de instrumentos: “violão” é um dos apelidos que os portugueses teriam inventado para as guitarras espanholas desde a época da última transição delas, como dissemos, bem apontada por Cascudo, a partir de meados do século XVIII. Outro apelido que atestamos teria sido “viola francesa”. Alguns apontam que “guitarra francesa” também teria sido utilizado, porém não o encontramos em textos de época de portugueses, e o contexto histórico-social não o indica (já, já, explicaremos melhor este último detalhe). Mas podemos adiantar: o apelido que incluiria o termo “guitarra”, se foi utilizado, teria sido raramente (fique ligado nisso).
Temos observado e descoberto muitos pontos interessantes que ainda não teriam sido apontados em outros estudos, a partir de nomes de instrumentos, desde pelo menos o século II aC. (somado ao cruzamento com vários aspectos, inclusive de outras Ciências). Fizemos reinvestigações atentas de fontes das diversas línguas envolvidas, tanto de registros quanto de estudos. Um destes pontos interessantes é que a nomenclatura “guitarra”, assim como o formato de caixa cinturado e de fundo plano, acabaram por se tornar os preferidos para cordofones portáteis populares por espanhóis e, a partir deles, de praticamente todo o território europeu, em especial desde o século XVII. Entendemos, pelos contextos histórico-sociais, que esta preferência se deveu à uma ação tácita de rejeição a invasores mouros, como bem citado por Cascudo, numa espécie de nacionalismo ou patriotismo espanhol. Este já teria registros desde o século XIV (ver Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz), mas ao século XVII o nacionalismo estaria mais inflamado que nunca, com a chamada União Ibérica (espanhóis dominando inclusive Portugal). "Grande comoção social, mudança nos cordofones": este é um filme que temos visto em várias versões, mas parece que pelo mesmo diretor...
Antes um pouco, no século XVI, guitarras seriam cordofones de tamanho menor, com 4 ordens de cordas (3 ordens duplas, uma singela) e dividiriam espaço com vihuelas de 6 ordens (5 duplas e uma singela). Esta "ordem singela" comprova que os instrumentos de caixa cinturada concorreriam com instrumentos “mouros” (invasores da Península entre os séculos VIII e XV), instrumentos que teriam sido largamente utilizados no território europeu inclusive pelos Trovadores (com auge nos séculos XII e XIII): respectivamente, a concorrência (ou espelhamento) teria sido contra as pequenas manduras (chamadas bandurrias pelos espanhóis) e os alaúdes (chamados pejorativamente “vihuela de Flandres” pelos espanhóis)...
E sim: o artifício de tratar por “apelidos” um instrumento oriundo de cultura concorrente teria este precedente espanhol, muito parecido com o uso do apelido “viola francesa” aplicado por portugueses. E a intenção teria sido a mesma: mascarar a correta origem, para não "dar palco aos inimigos". Flandres teria sido uma importante região comercial franco-belga, mas não haveria dúvida possível da origem árabe/persa dos instrumentos mouros, de inconfundível formato: como uma pera cortada ao meio, ou "periforme", com laterais e fundos abaulados. Assim como não haveria dúvida possível da origem espanhola das guitarras, quando chamadas “violas francesas” por portugueses, embora alguns estudiosos não tenham "sacado" o embuste. Nós não temos dúvida: atestamos por vários registros que a ligação espanhola com as guitarras (principalmente este nome) já existia há tempos e tinha suas razões.
Observamos o detalhe do apelidamento vihuela de Flandres (entre outras atestações) em livro de Juan Bermudo (Declaracion de los Instrumentos Musicales, 1555, p.90-98), mas para um entendimento mais claro do período da primeira transição das guitarrasespanholas é bom conferir também os métodos de Luiz Milan (El Maestro, 1536), Juan Amat (Guitarra Spañola y Vandola..., estimado a 1596)e Pietro Cerone(El Melopeo y Maestro, de 1613). Muitos estudos citam apenas o famoso método de Amat, onde realmente não teria sido usado o nome vihuela... mas simplesmente teria sido feita opção pelo nome vandolapara cinturados de seis ordens de cordas, além da abordagem a guitarras de cinco ordenes e de quatro. Já o citado método de Cerone teria sido o último onde ainda se abordaria também vihuelas dedilhadas, que depois então desapareceriam dos registros por mais de um século. Recomendamos, para uma análise ainda mais completa, conferir também a boa tese de Maria do Rosario Martinez (Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos, 1981).
O nome vihuelaera também utilizado, pelos espanhóis, para instrumentos tocados por arco (e ainda o é); e isso provavelmente colaborou para a queda em desuso das vihuelasdedilhadas, mas é mais provável ainda que os espanhóis, que já teriam optado por diferenciar seus instrumentos dos instrumentos mouros pelo formato de caixa, tenham resolvido diferenciá-los mais ainda pela armação de cordas, surgindo então a guitarra de cinco ordens(4 duplas, uma singela). Somando três dos métodos citados (Milan, Bermudo e Amat) se atesta que a ideia que já vinha sendo gestada desde o início do século XVI, com o curioso detalhe de que em leis sobre construção de cordofones da época, como as Ordenanzas de Sevilha (1502) e as Ordenanzas de Granada(1541), não teriam sido citadas guitarras, apenas vihuelas(de tamanhos variados) e outros instrumentos. O português Manuel Morais (artigo A Violão de Mão em Portugal, de 1985), cita as duas, mas Felipe Pedrell (Empório Cientifico e Histórico de Organografia, de 1901) apontou que a de Sevilha teria sido em 1502.
Aquela “nova guitarra” (9x5), então, se tornou famosa por toda a Europa da época, sendo muito citada até os dias atuais, por estudiosos, pela alcunha de “guitarra barroca”. Este nome citamos apenas para ajudar na identificação: não aprovamos o uso de nomenclaturas diferentes das originais de época, nem traduções, muito menos usar nomes como se estes fossem capazes de retroagir no tempo. À cada época, os instrumentos teriam sido chamados apenas de “guitarras”, no máximo com acréscimos indicando as armações de cordas... portanto, assim é melhor chamá-las. Entretanto, entendemos que, por enquanto, não teria havido outros estudos como os nossos, com tamanha profundidade quanto aos nomes dos instrumentos, então... "Paciência 3", já está virando série...
Denotamos, também indo além dos estudos convencionais, que a mudança foi significativa: teriam saído de cena dois instrumentos (um com 4 ordens, outro com 6 ordens) e emergido apenas um no lugar, este com cinco ordens e tamanho intermediário entre os dois anteriores... mas a mudança incluiu uma curiosa manutenção do nome guitarrapara o novo instrumento. O passado quase nunca se consolida em pouco tempo, normalmente há longas fases de transição, onde se atestam vários fatores influenciadores, quase nunca um só. Neste caso, com o passar do tempo, certamente terá colaborado a escolha do nome guitarrafeita por Amat, cujo método foi traduzido ou até copiado em outras línguas, como os mais remotos registros conhecidos: chitarra spagnolaem italiano (por Montesardo, 1606); guitarreem francês (por Moulinie, 1629); Gitarreem alemão (por Doremberg, 1652) e guitarem inglês (por Corbetta, ca.1677). E também terá colaborado o fato de que a guitarrapredecessora, de 4 ordens, já ter feito relativo sucesso antes, pelo território europeu. Estas informações, entre outras fontes, podem ser checadas no bom livro de Tyler & Sparks, The Guitar and its Music, de 2002.
Denotamos também que a ressignificação do nome, feita pelos espanhóis, não causaria a extinção dos instrumentos em territórios vizinhos: por exemplo, as vihuelas dedilhadas seguiriam existindo na península itálica pelo menos até o século XVII, assim como as de arco (estas, até hoje em dia); só que lá, ambas seriam chamadas “violas”, nome antigo, do latim, assim como depois continuariam sendo chamadas, até os dias atuais, também pelos portugueses e por nós. Por isso temos aqui "violas e violas": é porque as vihuelasespanholas e as violasitalianas, até o século XVI, já seriam assim, com nome bivalente (para dedilhadas e para friccionadas por arco).
Já os cordofones cinturados de tamanho menor e menos cordas seriam chamados pelos portugueses “violas pequenas”, desde antes; e a partir do século XVII ascenderiam outros nomes como “machinho”, “machete”, “rajão”, “braguinha”... e até “cavaquinho”, e o hawaiano ukulelê(estes dois últimos, já a partir do século XIX). Estes instrumentos todos não deveriam mais ser chamados de “guitarras”, que se tornou nome de instrumento maior e com mais cordas (e nem os portugueses iam querer chamá-los assim), mas, tecnicamente, são apenas variações daqueles pequenos cinturados espanhóis.
Chegamos então ao século XVIII, com os espanhóis investindo em suas guitarras, e estas continuavam fazendo sucesso. Apesar disso, entre meados do século XVIII até o início do século XIX, outra fase de transição das guitarrasaconteceu: novamente teriam sido desenvolvidas alterações (chamadas organológicas) no instrumento de preferência, que passaria, ao final da longa fase, a armar com seis cordas simples (o tal “violão”). E, novamente, a antiga e preferida nomenclatura guitarraseria a escolhida para seguir identificando o novo instrumento. Técnicas de construção e novos estudos (métodos) foram então produzidos e aprimorados, alguns deles ainda valendo até hoje. A afinação, em quartas, continuou sendo a mesma, que já vinha desde os periformes mouros, alaúdese mandoras(lembra deles?).
Acrescentamos, com ineditismo de aprofundamento, que, como antes acontecera, novamente o instrumento anterior (guitarrade cinco ordens, então já consolidado em cinco duplas de cordas) não deixaria de existir pela vizinhança por causa da nova ressignificação do nome pelos espanhóis: aquelas guitarras, que eram chamadas de “violas” pelos portugueses, simplesmente continuaram a existir como eram… Só que, então, passariam a ser “violas” sem a equivalência física com guitarrasespanholas, pois as espanholas teriam mudado de configuração. Sim, é o que atrevidamente apontamos como a verdadeira origem de nossas violas dedilhadas: de um nome genérico, passariam a existir de fato a partir daquela época.
Os portugueses já teriam começado a introduzir pequenas particularidades nas suas “violas” dedilhadas, como duas ordens triplas e utilização de cordas metálicas (como os italianos já fariam em suas chitarraspelo menos desde o século XVII), mas seguiriam chamando de “violas” todos os cordofones portáteis, inclusive variações surgidas durante a fase de transição como guitarrasde cinco cordas simples e de doze cordas, em seis ordens duplas (estas últimas, com auge em 1799 e significativo uso pelo menos até 1826, segundo o Method complète pour la Guitarre, do compositor espanhol Dionísio Aguado y Garcia); portanto, só a partir da consolidação da “mais nova guitarra” (ou “violão”), as violas dedilhadas portuguesas poderiam ser apontadas como tendo configuração distinta, exclusiva, e não mais apenas um nome genérico. Ou seja, antes elas não existiriam, de fato, só o nome: é o que também atrevidamente apontamos. Vários estudiosos apontam "as violas portuguesas dos séculos XV a XVIII", mas o que não se consegue é apontar um registro sequer dessas "violas" que teria sido diferente de guitarras, vihuelas ou alaúdes, sempre muito bem descritos nestes séculos todos... "Paciência... qual número mesmo?" Já estamos quase a perder o fio da meada da série...
Da série ao sério: dos modelos surgidos naquela época de transição, apenas o 12x6 (doze cordas em seis ordens) não teria sobrevivido em Portugal, sendo predominantes hoje os de armações 12x5 (que teria surgido em Portugal) e 10x5 (igual das guitarras).
A pergunta que não quer calar é: “por que os espanhóis teriam resolvido mudar mais uma vez a configuração de seus cordofones de sucesso?”.
Como sempre, acreditamos que as respostas sejam complexas, normalmente uma somatória de vários fatores, que se atestam por análises a períodos bem dilatados. Entre estes fatores, numeramos alguns que consideramos serem os mais importantes, suficientes para trazer uma luz embasada:
Primeiro, porque o mesmo tipo de mudança nas armações e tamanho dos instrumentos, mantendo o nome guitarra, já teria sido feito antes, e com sucesso.
Também porque estava-se em plena ascensão da Revolução Industrial, onde a mentalidade capitalista já começaria a apontar que ter um produto característico favoreceria comercialmente a região de criação e de mais investimento naquele produto. Um mesmo tipo de entendimento e ação, também a partir da mesma época, teria sido aplicado pelos italianos, que começaram a investir mais nas violas da gambae da braccio(que culminariam no atual naipe das orquestras modernas), e até pelos portugueses, que embora tenham passado a poder ter “violas” como referência (mas não exclusiva, pois já seriam bem famosas na Colônia Brasil), acabaram por investir no surgimento e ascensão da “guitarra portuguesa”.
Ainda dentro da visão de “produto”, observamos que os portugueses prejudicariam na época a divulgação do nome correto das guitarras(chamando-as de “violas”). Portugal teria então considerável influência no território europeu, por sua atuação comercial, e haveria circulação de muitos de seus documentos escritos, além dos seus costumes e visões. A ação espanhola não resolveria o problema quanto ao nome utilizado pelos portugueses, mas criar uma “nova guitarra” sem dúvida ajudou que elas não fossem mais confundidas com as “violas” portuguesas.
Já o retorno ao uso de seis ordens (usadas antigamente em alaúdes e vihuelas) facilitou a utilização do produto espanhol pela Europa, vez que alaúdes não teriam caído de uso em outras regiões européias: a rejeição maior teria sido mesmo ibérica. Assim, tablaturas / partituras, ou mesmo o repertório informal, tocado em alaúdes, poderia simplesmente ser tocado pela “nova guitarra / violão”. Observa-se que a própria guitarra portuguesa ter-se-ia consolidado também em seis ordens que, embora sejam duplas, não impediriam que elas tocassem o repertório de alaúdes (nem de violões).
Outra mudança que também já estaria em curso, apontada por estudiosos, é do tipo de repertório, que teria passado de "mais instrumental" para "mais canto acompanhado por instrumento" e com execuções mais simples que antes, pelos cordofones. Esta visão, que a princípio faz sentido, também teria sido oriunda do novo pensamento capitalista em florescimento (quanto mais gente utilizasse, mais vendas, tornar o instrumento mais acessível é comercialmente mais interessante). Entretanto, aponta ser fruto de visão com recorte temporal insuficiente: a mudança de tendência não seria suficiente para alterar tanto o cordofone mais popular. As cantigas (de amor, de escárnio, de amigo), à base de "cordofone e voz", já seriam famosas desde o tempo dos Trovadores (sec. XII e XIII), aumentado ainda desde a época do surgimento das óperas (sec. XVII), quando teriam sido executadas nos intervalos daquelas. Também, desde o mesmo século XVII, com a ascensão da polifonia, os cordofones teriam gradativamente passado dos toques mais rasgados para toques mais rebuscados, sem que modificações tão significativas acontecessem nos instrumentos. Por fim, abrindo o leque temporal de análise, da primeira ressignificação espanhola, das mesmas "guitarras" (no início do século XVII) não teria havido esse tipo de alteração costumes: a causa teria sido nacionalista, um momento de afirmação do império espanhol (que à época, entre 1580 e 1640, inclusive incluiria Portugal, então governado por espanhóis). Isso, sem contar a visão com leque temporal mais amplo possível, onde apontamos e atestamos, atrevida e pioneiramente, ao mundo, que mudanças significativas em cordofones populares são causadas por (ou refletem) momentos de grande impacto, de grande comoção social.
O violão passou então a fazer grande sucesso, a partir da sua consolidação observada pela Europa no início do século XIX, conquistando a preferência de uso entre cordofones por todo o território europeu, incluindo Portugal, e as terras conquistadas, como as Américas. Felizmente, sem que eliminassem as violas dedilhadas, que ainda sobrevivem, e hoje ajudam a contar e atestar toda a História (tanto a dos cordofones quanto das comoções sociais que teriam testemunharam). Mais tarde, a partir do século XX (não por coincidência, após as Grandes Guerras Mundiais), o violão viria a inspirar a “guitarra elétrica” estadunidense, que com a ascensão do rock(entre outros estilos onde é utilizada) também passou a ser um sucesso mundial, talvez até maior que suas avós “acústicas”, até os dias atuais… Mas aí já são outras prosas…
Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP Artigo - 214286

SOBRE JESUÍTAS E VIOLAS
[...]Quamobrem nec organa aut musicus canendi ritus, missis aut officiis suis adhibeant
(“Portanto, nem instrumentos nem cantos [ritos musicais cantados] devem ser executados em missas e ofícios”)
{Prima Societatis IESU Instituti summa, agosto de 1539. Original na Biblioteca do Vaticano, AA. Arm. I-XVIII, 6461, ff. 145-148, segundo Marcos Holler, tese Uma História de Cantares de Sion na terra dos Brasis, 2016, v.2 [Documentação], p.2}
Viola, Saúde e Paz!
Sabia não? Pois é! Desde a sua criação, os padres da Companhia de Jesus, popularmente conhecidos como “jesuítas”, teriam restrições quanto a práticas musicais. O texto em destaque faz parte do que pode ser traduzido como “Sumário Institucional da Companhia de Jesus”. A palavra organa, traduzimos como “instrumento musical” e não como “órgão”, embora este já existisse, por causa de nossos pioneiros estudos sobre o termo, já citados aqui em outros Brevis Articulus; e também por fazer mais sentido, pois não seria apenas um o instrumento musical a ser proibido, mas todo e qualquer. Aliás, é sempre assim que fazemos quanto a traduções: analisamos o máximo possível dos contextos, ou “fenômenos circundantes” daquele assunto.
Além de serem proibidos quando a Companhia foi criada, depois de um período onde nem sempre todos teriam obedecido, Ignácio de Loyola (fundador da Companhia) voltaria a "pegar pesado" sobre as mesmas proibições, a partir de 1552, nas Constitutiones Societatis IESU cum earum Declarationibus (“Constituições da Companhia de Jesus com suas Declarações”). Estas teriam sido mais seguidas até cerca de 1556, quando Loyola faleceu. De qualquer forma, e para efeitos formais, elas teriam sido “colocadas no papel”, em latim, depois, em 1558. Depois disso, gradativamente as regras teriam afrouxado, mas teria restado sempre uma restrição, pelo menos aos padres: que eles, diretamente, não deveriam se envolver com execuções musicais. Teria sido de onde teria circulado, na base do “boca-a-boca”, a expressão jesuíta non cantat... Para essa, nem precisamos “gastar o latim” com tradução, né? Mas esta informação é importante, sugerimos guardá-la na cachola por um tempo.
Um bom trabalho a respeito, que indicamos, é a já citada tese de Marcos Holler, cujo título ainda traz como complemento “A música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-1759)”. Ou, a quem preferir, também muita coisa se encontra no livro Os Jesuítas e a Música no Brasil Colonial, do mesmo Holler, publicado em 2010. Na verdade, este livro foi dos primeiros que adquirimos, há quase vinte anos atrás, quando começamos nossas buscas mais profundas pelo que hoje sabemos serem certificações, atestações, dados fundamentados, “provas”...
Sim, “provas” (ou, pelo menos, algo próximo disso). Isso porque havia à época, e talvez ainda paire pelo ar, “na cabeça do povo”, alguns mitos sobre os jesuítas e as violas, no Brasil. Assim que vimos o título do livro de Holler, não tivemos dúvida: naquele livro tinham que estar os registros, as “provas” da relação dos padres com as violas, lá desde o início da Colônia. “Raiz” mais profunda que esta não pode existir, certo?
Hum... nem tanto... Certo, mesmo, é que já tínhamos, àquela época, alguma noção da lógica das coisas, nas pesquisas... mas o livro foi decepcionante para nossas buscas práticas, diretas, como de qualquer pessoa: entre vários outros instrumentos musicais, na verdade, as citações nominais a “violas” nas listas dos bens dos jesuítas são quase zero. Durante algum tempo ficamos com este dilema na cabeça: “Como assim? Então não haveriam tantas violas? Elas não deveriam ter sido as de maior número nos inventários?”.
Hoje, já vasculhamos mais detalhada e profundamente não só os trabalhos de Holler e outros grandes pesquisadores, como Paulo Castagna e Rogério Budasz; também fomos atrás da maioria dos originais, que hoje estão digitalizados e disponíveis para baixar pela internet. Uma lista sobre citações ao termo “viola” no Brasil desde o século XVI, que achamos seja exaustiva, disponibilizamos e é a principal parte de nossa monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil, que estamos a publicar e revisar desde 2021. E sim: não é mais preciso pesquisar tudo como fizemos, a não ser que façam questão: já deixamos tudo “mastigado”, inclusive com traduções a partir de várias línguas. E não precisa agradecer, fazemos por entender que seja nossa missão (se temos as habilidades e o interesse necessários, só pode ser porque temos que divulgar).
Por este trabalho todo, vários entendimentos se tornaram claros. Dois deles, destacamos: um, que as investigações sérias são trabalhosas; os dados de época disponíveis não são muitos, mas o suficiente para levar bastante tempo para conferir e entender aquela parte do passado. E o outro entendimento, fruto do primeiro, é perceber porque “histórias inventadas” (mitos, fake news e similares) são criadas e, principalmente, porque elas passam “boca-a-boca” (ou, hoje em dia, “postagem-a-postagem”), sem que a maioria sequer questione, principalmente se forem histórias bem inventadas, emotivas, curiosas e que agradem algum tipo de interesse, como o ego e/ou as finanças das pessoas.
Criar histórias é fácil: já a História de verdade é complexa de atestar, de conferir... além de, na maioria das vezes, não ser direta, com respostas simples, na base do “preto ou branco”. O passado sempre é feito de longos recortes, as coisas não foram acontecendo como as “lacrações” de hoje em dia, quando as pessoas têm contato com algum segmento de informação e logo fazem um julgamento, “...ah, então era assim”. O passado, na verdade, está pouco se lixando se a gente “tem direito a ter opinião”: ele aconteceu do jeito dele, no tempo dele, com a multiplicidade de fatores que teve que acontecer. E pronto. A gente que “se vire” para tentar encontrar e somar tudo... fora isso, só fazendo nossos julgamentos estúpidos “segundo nossas opiniões”. O passado não está nem aí pra nós, mas imagino ele morrendo de rir das nossas pequenices de Conhecimento, se comparadas ao enorme universo de informações do qual ele é feito!
Voltando, após um parágrafo de “filosofâncias não tão vãs assim”, chegamos que os jesuítas chegaram ao Brasil em 1949: logo, segundo o que expomos na abertura, estariam num período (recorte) em que a Companhia tinha sido criada já há cerca de 10 anos, as proibições às práticas musicais existiriam, mas podemos dizer que “não tinham pegado” (como acontece até hoje com algumas leis brasileiras). Mas não é porque era aqui: o tal “jeitinho brasileiro” nunca teria sido invenção nossa, é só estudar História.
Fato é que teríamos registro, por exemplo, já em 1549, segundo cartas de Manoel da Nóbrega (1517-1570), de que os índios “[...] pedião ao P.e Navarro que lhes cantasse asi como na procissão fazia”.
[Se estiver achando “estranho”, nas citações literais (iniciadas por aspas e “[...]”) escrevemos do jeito que está nas fontes, ou seja, se nelas houver erros, de português ou qualquer outro, os mantemos aqui].
Naquele caso, o cantor teria sido o jesuíta João Azpicuelta Navarro (1520-1557). Nóbrega teria sido o líder, e os demais primeiros “inacianos” por aqui teriam sido Leonardo Nunes (1509-1554), Antônio Pires (?-1565), Diogo Jácome (?-1565) e Vicente [Rijo] Rodrigues (1528-1600): cinco portugueses e Azpicuelta, que era espanhol.
Vários registros de jesuítas tocando e cantando seriam observados desde aquela data. Especificamente sobre “violas” (também chamadas “descantes” e/ou “citaras”), evidenciam-se registros a partir de 1583, por narrativas de uso dos instrumentos, com citação específica tendo sido feita por ocasião de visita datada de 1584, por Fernão Cardim (ca.1549-1625). Segundo ele, em três aldeias próximas ao Colégio da Bahia teria havido “escola de ler e escrever”, onde os padres “[...] ensinam os meninos indios; e alguns mais habeis também ensinam a contar, cantar e tanger”. Entre várias fontes que conferimos, este texto pode ser conferido no livro Narrativa Epistolar de uma viagem e missão jesuítica, publicado em Lisboa, em 1847.
Para episódios em que “não só o milagre, mas também o nome do santo” tenha tido apontado, vários indicam a partir de Diogo da Costa (?-?), que entre 1690 e 1695 teria registro de ter tocado (e bem) violas; entretanto, temos a perspicácia de perceber que o baiano Eusébio de Mattos (1609/1692), irmão do grande poeta Gregório de Mattos (1636/ca.1696), teria professado na Companhia de Jesus de 1664 até 1677, antes de se tornar beneditino (e antes de Diogo da Costa). Eusébio teria sido, assim como seu irmão, tocador de viola e poeta, e o mais remoto jesuíta tocador que se tenha registro.
Também viria de nossos esforços investigados inéditos o apontamento de que a mais remota citação ao termo “viola” como instrumento musical no Brasil também se deveria aos jesuítas, mas sem que tivessem sido eles a tocar: Manuel da Nóbrega, entre 1562 e 1570 (data que estimamos pelo cruzamento de vários registros), teria recebido “[...] um devoto amigo, que lhe tangia uma viola às portas fechadas”. A narrativa teria sido feita por José de Anchieta e pode ser conferida, entre outras fontes, no livro Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. J. (1554-1594), publicado em 1933.
Apontamos que não há evidências que teriam sido os jesuítas a trazer as violas para cá; que as teriam utilizado, sim, durante o processo de aproximação e catequização dos indígenas, mas sempre (pelos registros) em conjunto com outros instrumentos; e que quase todos os registros conhecidos devemos aos jesuítas, por suas cartas escritas daqui para fora, pois as que aqui ficaram teriam sido perdidas depois, junto com quase tudo que possuíam (segundo os inventários, lembra?)... Haveria algumas poucas evidências de dedilhados chamados “viola”, no primeiro século, além dos utilizados pelos jesuítas (por exemplo, no nordeste, em autos). O que passar disso, podemos afirmar, é lenda, é mito. É bom ter cuidado.
Os jesuítas teriam sido perseguidos e banidos entre 1759 e 1777, esta última data referente aqui à então Colônia e a Portugal, pela posse da Rainha Maria I. A chamada “rainha louca” teria feito, entre as primeiras ações após receber a coroa, a cassação do Marquês de Pombal, principal artífice da perseguição aos padres. No resto do mundo, a perseguição só viria a ser encerrada em 1814, pelo Papa Pio VII.
Por termos levantado alguns registros que são pouco citados, achamos interessante listar uma sequência de fatos que montamos sobre a perseguição:
Em 1757 o Governador e Capitão-Mor do Grão-Pará e Maranhão, o português Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1701-1769), escreveu o Directorio que se deve observar nas povoaçoes dos Indios (às vezes citado como “diretório dos índios” ou “diretório pombalino”), que já amaldiçoava a atuação jesuítica e propunha severas restrições; aquele Directorio foi aprovado e assinado pelo seu irmão (o Marquês de Pombal) e pelo Rei, Dom José I, só no ano seguinte, em 17 de agosto de 1758.
Alguns dias depois daquela assinatura teria ocorrido um atentado contra o Rei, em Lisboa e, em 14 de setembro de 1758, já a primeira Ordem Régia de reclusão dos jesuítas exatamente na mesma região de Mendonça Furtado, o Grão Pará e Maranhão. Coincidência ou não, é exatamente da Região Norte que hoje se tem menos registros sobre violas e nada delas sobrevive hoje (inclusive já escrevemos um Brevis Articulus a respeito, confiram).
Em 03 de setembro de 1759 surgiria então a Lei que baniu os jesuítas de todas as Colônias ligadas a Portugal; em 1770, dos territórios espanhóis; e, em 1773, a extinção da Companhia de Jesus, pela bula Dominus ac Redemptor, do Papa Clemente XIV.
Além das fontes já citadas, cruzamos informações também de artigos como: A Língua Geral como Identidade Construída, de Maria Cândida Barros e equipe, publicado na Revista de Antropologia da USP em 1996; e Os Jesuítas no Brasil: entre a Colônia e a República, de Carlos Menezes Souza e Maria Cavalcante, publicado pela Unesco em 2016 e Apóstolos Divinos ou da Coroa: Jesuítas no Brasil e Paraguai, de Alice Faria Signes, publicação UFRJ de 2011.
O que nos chama a atenção, pela Linha do Tempo bem caprichada que montamos, é que, por exemplo: de 40 inventários dos autos de sequestros dos bens jesuíticos registrados entre 1759 e 1780 (bem pesquisados por Holler, Castagna e outros), apenas uma viola teria sido listada: exatamente uma “violla quebrada”, na Fazenda de Santa Cruz, Rio de Janeiro, inventário de 6 de maio de 1768 (e talvez, daí, a inspiração para a música Viola Quebrada, do pesquisador Mário de Andrade, com arranjo de Heitor Villa-Lobos)... Isso, enquanto em outros registros da época, instrumentos chamados “viola” teriam sido relativamente bem citados (confira lá na nossa monografia).
Outra observação é que, em documentos de alfândega pesquisados por Mayra Pereira (tese A Circulação de Instrumentos Musicais no Rio de Janeiro, de 2016), no período da perseguição (1759-1777) teria sido registrada apenas uma “viola de páo”, de uma lista de exportações portuguesas de 1767... enquanto que, entre os anos de 1744 (antes da perseguição) a 1777 (exatamente quando D. Maria I assumiu o trono), teria havido vários registros de "violas". Naturalmente, neste caso, é preciso considerar que podem não ter sido encontrados todos os registros alfandegários e que o período histórico teria sido de grande dificuldade econômica em Portugal, desde o chamado “terramoto” de 1755; entretanto, no citado registro de 1767 (portanto, no auge da perseguição), há outros instrumentos, como flautas e rabecas, também citados de 1744 e 1777, quando as menções a violas e suas cordas teriam sido muito maiores. Há, na somatória geral destes registros de alfândega, inclusive, um curioso e significativo número de citações a “cordas de cítaras”, sem que haja citações a tantos instrumentos com este nome, mas sim de “violas”... E sabemos que, segundo Rafael Bluteau e seu Vocabulário Português, e Latino publicado durante praticamente todo o século XVIII, os portugueses chamariam as “violas” também de “cítaras”... (no caso, seriam instrumentos com braço, não como saltérios, como hoje as cítaras são mais conhecidas).
Com efetiva citação a violas, no período da perseguição, observamos apenas mais dois registros, ambos em Minas Gerais: em 1769, violas tocadas por escravizados, na região do Alto São Francisco, segundo fontes pesquisadas por Rubens Ricciardi (tese Manuel Dias de Oliveira: um compositor brasileiro dos tempos coloniais, do ano 2000); e em 1761, na cidade mineira de Vila Rica (atual Ouro Preto, em Minas Gerais), um testamento indica a atuação do luthier Domingos Vieira, fabricante de diversos tipos de violas, que teria falecido em 1771 mas cuja oficina teria funcionado pelo menos até 1777, segundo artigo de Paulo Castagna e sua equipe, de 2008: Domingos Ferreira: um violeiro português em Vila Rica.
Entendemos que os registros apontam certa ligação das violas com os jesuítas, não apenas pela maioria dos mais remotos registros terem vindo deles, pois a partir do século XVII já haveria outros tipos de fontes e, após o século XVIII, com o banimento, aquelas fontes jesuíticas secaram. Inclusive acreditamos que possa ter havido alguma colaboração até com o surgimento do violão (como dissemos antes, a História nunca é só “branco ou preto”). A perseguição teria se dado na mesma época em que as guitarras começariam a mudar para 6 ordens; teria sido brutal, causando certa comoção, e os jesuítas teriam significativa influência pela Europa (no mínimo, seriam bem conhecidos, os textos eram divulgados, etc...). Sempre lembrando, os portugueses, inclusive os jesuítas, chamavam as guitarras espanholas da época de “violas”, inclusive em seus textos, o que não se pode negar que atrapalharia a identificação de um instrumento como claramente espanhol. Criar uma "nova guitarra", diferente, faria sentido: a identificação como "instrumento original espanhol" ajudaria a trazer divisas ao país (um pensamento capitalista já crescente, à época). Os portugueses continuaram não ajudando, pois chamam até hoje aquelas novas guitarras espanholas de "violão" ou "viola francesa", o que confunde muito pesquisador até hoje... mas é fato que os espanhóis claramente investiam na marca “guitarra” para seu principal cordofone desde, pelo menos, o século XIV... só que isso já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP – Artigo 214286
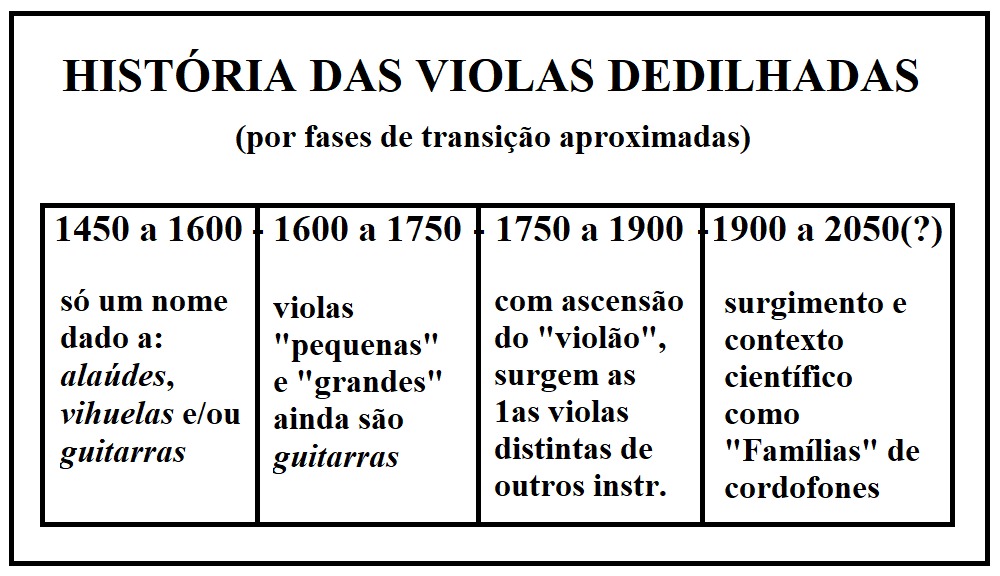
A HISTÓRIA DAS VIOLAS EM QUATRO PERÍODOS
“[...] chegamos à conclusão de que a guitarra italiana, guitarra espanhola, guitarra francesa, viola portuguesa, viola brasileira foram nomes diferentes de um mesmo instrumento.”
[Theodoro Nogueira em Anotações para um estudo sobre a viola, jornal A Gazeta, 24/08/1963]
Viola, Saúde e Paz!
Não fomos os primeiros a intuir que as violas dedilhadas de fato não teriam existido, até o século XVIII (teria sido primeiro apenas um nome que italianos e depois portugueses utilizavam para outros instrumentos já existentes). Além do destaque da abertura, de 1963, entre alguns poucos outros, o português Manuel Morais já teria apontado em seu artigo A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789), de 1985, que “[...] desde meados do século XV a inícios do XIX o vocábulo Viola é empregue como nome genérico de uma família de instrumentos de corda com braço”. O que é difícil de aceitar é a curiosa “classificação abrangente” apontada a seguir pelo estudioso, onde instrumentos dedilhados e outros tocados por arco, com diferentes armações de cordas, formatos e nomes, pudessem ter sido todos “violas”... Se for, podemos afirmar que seria uma forma de classificação única na História dos Cordofones ocidentais. A conclusão é que apenas o nome, este sim, seria aplicável a todos: mas seriam instrumentos diferentes que, conforme o português mesmo aponta e lista, teriam outros nomes e características próprias, bem distintas, o que “violas” não teriam, porque na verdade não existiriam. Entretanto, não observamos ninguém antes de nós que tivesse a coragem de afirmar o que os fatos e contextos demonstram.
A nós cabe, portanto, a primazia em afirmar com atrevimento: “na verdade, não existiriam violas, só instrumentos diferentes e conhecidos, chamados de violas”. Não apenas afirmar, mas desenvolvemos e atestamos por centenas de registros e por contextos histórico-sociais. Isso por sermos melhores pesquisadores? De forma alguma, e muito longe disso. É porque seguimos um caminho científico diferente, bem amplo, com paralelos a outras áreas da Ciência além da Musicologia (como História, Sociologia, Linguística e outras); com ela, em destaque, um aprofundado estudo sobre nomes de instrumentos, em fontes e estudos nas principais línguas europeias desde o latim do século II aC. Que saibamos, nunca tinha sido feito assim antes (e por isso fazemos).
Percebemos inclusive que pouquíssimos estudiosos teriam dado mais atenção às violas dedilhadas, a não ser portugueses, brasileiros e estudos sobre as vihuelas espanholas, estas que teriam caído em desuso a partir do século XVII.
Por nossa inovadora maneira de investigar, inclusive, não admiramos que nossos apontamentos não sejam muito considerados (ainda) nos dias atuais, embora tenham profundo embasamento científico. Afinal, são séculos de análises feitas antes e por estudiosos mais famosos que nós: é normal que demore algum tempo até que sejamos entendidos, checados e reconhecidos. Estimamos que levará, talvez, uns 50 anos até que nossos apontamentos sejam melhor considerados, ou seja: nossa monografia, o livro A Chave do Baú, os artigos e estes Brevis Articulus aqui seriam provavelmente destinados de fato a quem nos lerá no futuro, quando infelizmente não teremos a oportunidade de esclarecer dúvidas, corrigir possíveis equívocos nossos e colaborar mais para o avanço da Ciência. Paciência, cest la vie, shit hapens...
Em termos da História das violas dedilhadas portuguesas e brasileiras, o que a maioria dos estudiosos aponta é um equivocado e aparentemente óbvio “bilinguismo português”, ou seja, que os portugueses simplesmente utilizariam um nome diferente, uma espécie de simples tradução (por exemplo, usar “viola” ao invés de vihuela). Ainda assim, um nome diferente não comprova que os instrumentos teriam sido diferentes: seria necessário apontar as diferenças. Assim como, um nome igual não comprova que os instrumentos sejam iguais, como é o caso das “violas” de arco e as “violas” dedilhadas. O fato é que não seriam conhecidas características diferenciadoras nas “violas dedilhadas” até pelo menos meados do século XVIII. Assim, até o próprio bilinguismo ajuda a atestar que as violas não seriam diferentes, apenas o nome.
Em nosso desenvolvimento observamos que teria na verdade havido, pelos portugueses, uma ação patriótica (ou nacionalista), popular e tácita, corroborada por registros e por um contexto histórico-social de notório conhecimento público, que são disputas ou rivalidades entre portugueses e espanhóis, e destes com invasores mouros.
Por não ter sido apresentado sob esta visão antes, cabe a nós também a primazia em pontuar quatro momentos históricos, desde a origem da utilização do termo “viola” como genérico para cordofones dedilhados em Portugal até os dias atuais. É o que fizemos na monografia, em linguagem acadêmica, e que tentaremos “traduzir” aqui neste Brevis Articulus.
PERÍODO 1 (entre meados do século XV até fins do século XVI): as “violas dedilhadas” ainda não existiriam, e sim instrumentos chamados de “viola” pelos portugueses.
Seu início é estimado ao ano de 1455, data do mais remoto registro conhecido de “violas”, que teria sido apontado pelo militar português Brito Rebelo (1830-1920), em seu livro Curiosidades Musicais - um guitarreiro do século XV. Não teríamos tido acesso ainda ao original, mas confiamos nas citações dos portugueses Ernesto Veiga de Oliveira (livro Instrumentos Musicais Populares Portugueses, ano 2000, ver páginas 163 e 164) e Manoel Morais (já citado artigo A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789), de 1985, ver página 397); além dos secundamentos feitos nas décadas seguintes por grandes pesquisadores brasileiros como Paulo Castagna (dissertação Fontes bibliográficas para a pesquisa da prática musical no Brasil nos séculos XVI e XVII, 1991, ver página 221); José Ramos Tinhorão (livro História Social da Música Popular Brasileira, 1998, ver páginas 26-27) e Rogério Budasz (livro A Música no tempo de Gregório de Mattos, 2004, ver página 09).
Todos estes estudiosos, além de outros, apontaram que teriam existido “violas dedilhadas” em Portugal desde o século XV, mas nenhum deles foi capaz de apontar diferenças entre aquelas possíveis “violas” e outros instrumentos existentes. Outros instrumentos bem investigados e descritos até por eles mesmos, que seriam alaúdes (de caixas periformes) e cinturados de caixas com fundos paralelos, a saber: guitarras espanholas de quatro ordens, vihuelas de seis ordens e depois as guitarras também espanholas, chamadas hoje “barrocas”, com cinco ordens de cordas. Além, naturalmente, das violas de arco, bem diferentes pela maneira de serem tocadas. Não é curioso que para todos os demais instrumentos sejam apontadas classificações claras, a partir de diferentes nomes e características, mas das supostas “violas dedilhadas” não haveria nenhuma característica diferenciatória, exclusiva, a não ser o nome? Não é curioso que só as “violas” teriam as mesmas características de todos os demais instrumentos da época?
Que “violas” teriam sido aquelas? Nós respondemos sem medo: nenhuma! Haveria apenas o nome “viola”, nome que de fato já existiria desde o século XII conforme registros em textos em latim, occitano, catalão e até em espanhol (ver detalhes em nosso artigo Chronology of Violas according to Researchers). Assim como as vihuelas espanholas, “viola” era nome utilizado por italianos e portugueses tanto para friccionados por arco quanto para dedilhados, basta ver métodos como os dos espanhóis Fuenllana (1554), Bermudo (1555), Amat (1596) e Cerone (1613). No território italiano também haveria registros assim, com bivalência quanto ao modo de tocar, desde aproximadamente 1486 (ver Tinctoris, De Inventione et usu musicae). A bivalência de nome para dedilhados e friccionados por arco se encerraria a partir do século XVII por quase todo o território europeu, só seguindo até os dias atuais por causa dos portugueses, que optaram por mantê-la. Observe como o comportamento português é sempre diferente!
Portugueses simplesmente teriam optado por utilizar o nome “italiano” (ou latino) “viola” para evitar nomes espanhóis como vihuela e guitarra, e até árabes, como alaúde. Isso, apontado também por contextos histórico-sociais claros de disputa, de rivalidade. Entre as dezenas de evidências deste peculiar comportamento português, destacamos que eles utilizariam nomes como “violas grandes” e “violas pequenas”, enquanto outros povos diferenciariam muito bem vihuelas e alaúdes (maiores, com mais cordas) das primeiras guitarras (menores e com menos cordas). Neste particular, jamais interpretaríamos a padronização de nomenclatura como falta de acuidade intelectual de um povo que teria sido o primeiro a se levantar como Reino Independente no território europeu: ao contrário, damos ênfase exatamente ao forte nacionalismo inato dos lusitanos. Particularmente? Achamos bonito e temos até inveja daquele senso português inato, de defesa da pátria, da própria cultura.
O término do primeiro período é estimado a 1596, com a decadência de registros nominais de vihuelas e de guitarras espanholas (de quatro ordens de cordas), em função da ascensão da guitarra espanhola de cinco ordens (instrumentos que seriam, todos, “violas” para os portugueses). As hoje chamadas “guitarras barrocas” então dominariam a preferência no território europeu mais ou menos pelo século e meio que se seguiu, segundo, além dos estudos já citados, também outros importantes e isentos como a Encyclopedie de la Musique (na edição de 1920, volume 4, ver páginas 2023 a 2027).
PERÍODO 2 (entre o século XVII até meados do século XVIII) é quando começariam a ser observadas duas características que no futuro viriam a distinguir as violas portuguesas de outros instrumentos: os usos de “cordas de arame” e o de “ordens triplas de cordas”.
A gama de instrumentos diferentes chamados de “viola” pelos portugueses teria gradativamente se tornado menor, dada a já citada preferência pelas guitarras de cinco ordens de cordas ("barrocas"), que teria trazido uma decadência, em registros, dos alaúdes, vihuelas e guitarras menores, antigas, de quatro ordens. A transferência do nome guitarra para instrumentos maiores e com mais cordas não caracterizaria na verdade o desaparecimento total das anteriores, que já teriam relativa fama pelo território europeu: na verdade, teria aberto a oportunidade para os instrumentos virem a ter, com o tempo, outros nomes consolidados. Em Portugal, as chamadas “violas pequenas”, “machetes” ou “machinhos”, depois, com o passar do tempo, também seriam identificadas por “braguinha”, “rajão”, e, mais no futuro ainda, até o “cavaquinho” e o “ukulelê” hawaiano. Naturalmente, estes instrumentos não seriam exatamente iguais, pois instrumentos vão evoluindo de acordo com a sociedade onde estão inseridos, mas o princípio básico de todos é de serem pequenos cordofones cinturados, com até quatro ordens de cordas.
No Brasil, “violas pequenas” teriam mais remoto registro conhecido na Lista dos itens musicais encontrados no Registro dos Generos de varias fazendas que se despachaò nesta Alfandega do Rio de Janeiro – ano de 1700, segundo Mayra Cristina Pereira (tese A Circulação de Instrumentos Musicais no Rio de Janeiro, 2013, p.127). Cá como lá, logo depois seriam observados registros de “machinhos” e “machetes”, mas não os demais nomes observados em Portugal, sendo que o nome “cavaquinho” só teria sido utilizado aqui bem depois de ter surgido por lá, causando aqui o surgimento e consolidação de dois instrumentos diferentes: o cavaquinho (4 cordas simples) e as Violas Machetes, que com o tempo migrariam para 10 cordas em 5 ordens, muito provavelmente por causa da ascensão do cavaquinho.
Gradativamente, duas características teriam começado a surgir especificamente em violas portuguesas: a utilização de trios de cordas (em duas das cinco ordens) e a utilização de arame ao invés de tripa, embora cordas de arame já fossem utilizadas em cordofones europeus há algum tempo. Observa-se que ordens com trios de cordas (sem citação ao material delas) foram citadas no método Liçam Instrumental creditado a João Leite Pita Rocha (1752, ver página 2) e violas com dois trios de cordas, e indicações de que cordas de arame dariam menos despesa e seriam mais duráveis, apareceriam no método Nova Arte de Tocar Viola, de Manuel da Paixão Ribeiro (1789, ver página 6). Estes dois métodos são largamente citados por estudiosos, porém sem que indiquem ter percebido que aquelas teriam sido as primeiras características de “violas” que seriam fisicamente (ou organologicamente) um pouco distinguíveis de guitarras e outros cordofones. Entre estes grandes pesquisadores, por décadas, podemos apontar: Paulo Castagna (1992, p.2), Veiga de Oliveira (2000 [1964], p.158-161) e Júnior da Violla (2020, p.19 a 25).
Cordas metálicas já seriam utilizadas desde o século XVII nas então chamadas chitarras italianas, de cinco ou seis ordens, segundo Tyler & Sparks (The Guitar and its Music, 2002, ver páginas 199 a 210) e Darryl Martin (artigo The early wire-strung guitar, 2006, página 125).
No Brasil não foram observados muitos detalhes dos instrumentos chamados de “viola” neste período, mas pode-se apontar terem existido pelo menos dois tamanhos: “violas” e “machetes”, estas últimas que teriam sido menores e predominariam entre afrodescendentes. Podemos também apontar o reflexo históricos das ordens triplas metálicas por Violas de Queluz remanescentes (as mais antigas, que apresentariam 12 cravelhas, mesmo que armassem com apenas cinco pares de cordas) e também nas Violas Nordestinas dos repentes, que ainda utilizam uma ordem tripla de cordas.
O período se destaca porque os portugueses ainda continuariam chamando de “viola” outros cordofones, então, existiriam “violas portuguesas” (com pequenas diferenças), mas existiriam ainda guitarras e outros instrumentos “chamadas de viola”. É um claro período de transição na História das violas.
PERÍODO 3 (entre meados do século XVIII e o final do século XIX): as violas evoluiriam finalmente para instrumentos diferenciáveis das guitarras, porque a nomenclatura guitarra teria tido seu uso ressignificado (novamente) pelos espanhóis, passando a ser aplicada para instrumentos com a armação 6x6 (6 cordas em 6 ordens, o chamado “violão”).
Ao fim do período de transição, nas primeiras décadas do século XIX, a ascensão do “violão” teria proporcionado a caída em desuso de guitarras de cinco ordens, segundo os estudiosos... Entretanto, aquele instrumento (que também era chamado de “viola” pelos portugueses), não teria desaparecido, apenas teria continuado a existir, com cordas metálicas e sendo chamado de “viola”: cinco ordens duplas aparecem até os dias atuais, entre os modelos mais conhecidos de violas, tanto em Portugal quanto no Brasil. É uma grande lição histórica dos instrumentos populares: eles guardam consigo resquícios, que são verdadeiras atestações das comoções sociais que teriam testemunhado.
Sobre a delimitação estimada desta fase de transição (das guitarras de cinco ordens até a consolidação do violão, de seis ordens), diferente de outros estudos, preferimos estimar pelo cruzamento e somatória de várias fontes:
Entre aproximadamente 1752 e 1764 teriam sido publicados em Madrid dois métodos citando vandolas de seis ordens: um por Pablo Minguet (conferimos edição de 1754) e outro por Andrés de Sotos (conferimos a edição de 1764). As datas foram analisadas, entre outras fontes, também na Encyclopédie de la Musique (1920, v.4, p.2025). Consideramos a questão do nome vandola para instrumentos de seis ordens, citado desde Amat (1596), como pouco aprofundada em estudos e talvez ainda mereça um artigo específico; mas, neste caso, o fato é que são apontamentos com descrições (como afinações) sobre cordofones de seis ordens, como as antigas vihuelas, das quais por mais de um século não se conheceriam outros registros. Já apontamos que o desaparecimento de uma nomenclatura não significa exatamente o sumiço do instrumento, que pode simplesmente seguir em outras culturas por outros nomes.
Em 1760, anúncio do jornal Diario Noticioso Universal, de Madrid, apontaria a venda de uma “vihuela de 6 órdenes”, do luthier Granadino (?-?), segundo Tyler & Sparks (2002, p.195). Nos anos seguintes teria havido mais alguns apontamentos, mas destacamos este porque o nome vihuela não teria sido observado para dedilhados desde 1613, conforme já citamos;
Entre 1770 e 1780 teria sido um período estimado como do surgimento do violão bastante apontado por estudiosos, com apontamento equivocado de origem francesa ou italiana. Observamos estes apontamentos desde o artigo Stalking the oldest six-string guitarescrito entre 1972 e 1974 pelo estadunidense Thomas F. Heck (1943-2021). Ao fim do próprio artigo, entretanto, o pesquisador apontou dúvidas sobre as alegadas procedências (mas não quanto às datas de fontes que consultou). Quem, entretanto, acompanhasse a peculiar preferência e modo de utilização do termo guitarra pelos espanhóis, pelo menos desde o século XIV, não teria qualquer dúvida da origem do “violão” (ou “nova guitarra”, que seria a terceira versão de uma série);
De 1773 a 1787 seriam os três possivelmente mais antigos violões remanescentes encontrados em museus europeus segundo Márcia Taborda (tese Violão e Identidade Nacional, de 2004, ver página 47), que checamos e confirmamos por outras citações e pela internet;
Paralelo aos apontamentos anteriores, há ainda declarações feitas no método Principios para tocar la guitarra de seis órdenes, do compositor italiano Federico Moretti (1769-1839), que apontou que em 1799 seriam utilizadas seis ordens na Espanha e que na Itália, em 1792, ainda não se utilizariam seis, apenas cinco ordens (menos por ele próprio, que desde 1787 já tocaria com sete ordens simples).
De todas estas informações e mais algumas, concluímos que as seis ordens teriam gradativamente voltado ao inconsciente coletivo europeu, a partir dos espanhóis, após estes mesmos terem lançado as guitarras cinco ordens com sucesso por mais de um século, comprovável por diversos métodos publicados em inglês, italiano, alemão, francês. A ação de “modificar guitarras que estavam dando certo” pode parecer ter sido aleatória ou equivocada, a princípio, mas chamamos a atenção mais uma vez ao contexto histórico-social: estariam em pleno desenvolvimento as fases da Revolução Industrial, com a nova ideia de produção e venda em série. Instrumentos musicais, assim como outros produtos, significariam atração de divisas a quem os produzisse melhor, em primazia, e/ou com características únicas e exclusivas.
Um capítulo transversal desta fase é a ênfase ao ano de 1799 das guitarras 12x6, que alguns estudiosos chamam de “guitarras clássico-românticas”, como, entre outros, Paulo César Veríssimo Romão (1799, O Ano dos Métodos para Guitarra de Seis Ordens, 2011, p.2). Aquelas guitarras “intermediárias” (vez que depois também engolidas pela ascensão do violão), teriam originado “violas portuguesas” iguais, que não sobreviveriam lá até os dias atuais, mas que no Brasil surgiriam como o atual modelo Viola de 12 Cordas da Família das Violas Brasileiras.As atestações mais remotas aqui são só da década de 1920, por fotos e um instrumento sobrevivente que teria sido utilizado pela dupla Mandy & Sorocabinha, segundo Júnior da Violla (As seis ordens de uma ilustre desconhecida, 2020, p.68); mas é preciso considerar que alguns registros escritos desde o século XIX apontariam simplesmente “violas com 12 cordas”, o que não atesta, mas também não descomprova se teriam sido de cinco ou de seis ordens.
Em coerência com a ação patriótica que teria sido executada pelo menos desde o século XV, os portugueses também não chamariam as novas guitarras pelo nome correto, pois o nome continuaria remetendo, e então mais ainda, aos espanhóis. O procedimento teria sido similar ao acontecido antes com machinhos e machetes: quando espanhóis deixavam de chamar um instrumento de “guitarra”, estes continuariam existindo em outras regiões e culturas, porém, sob outros nomes. Já quanto às novas guitarras espanholas, as nomenclaturas mais adotadas pelos portugueses (até os dias atuais) seriam “viola francesa” e “violão” (claramente derivadas da nomenclatura “viola”, já utilizada para as guitarras antecessoras). Ressalta-se que não há evidência concreta de origem do violão a partir da França, e sim, pelo apelido utilizado, uma continuação da ação de rejeição nacionalista portuguesa. Mesmo o termo “guitarra francesa”, apontado por alguns estudiosos como tendo sido bastante utilizado, só observamos uma vez citado por portugueses e já no século XX, por Veiga de Oliveira (2000 [1964], p.214); e, no Brasil, apenas 20 citações do nome “guitarra francesa” entre 1810 e 1849, em milhares de fontes pesquisadas, como periódicos (jornais e revistas).
No Brasil, em confirmação de que a nomenclatura patriótica era de fundamentação portuguesa, não nossa, entre as décadas de 1810 e 1830 observou-se que “guitarra” teria sido o nome mais citado para cordofones similares, com larga vantagem aos demais; só a partir de 1818 teriam começado a surgir os primeiros registros de “viola francesa”, “guitarra francesa” e “violão”, segundo dados disponíveis na Biblioteca Digital Nacional. A década de 1840 é apontada como de evidência da consolidação do violão no Brasil também por outros estudos, como: em análises de anúncios de aulas de música, por Carlos Eduardo Azevedo e Souza (tese Dimensões da vida musical no Rio de Janeiro, 2003, p.289) e estudos de romances por Renato Castro (artigo Musical artefacts in literary texts, 2015, p.39).
Neste período também teriam começado a surgir os registros de “sobrenomes”, alguns deles que se consolidariam depois nos modelos hoje vigentes: “Machete” e “12 Cordas” foram observados a partir de 1827; “Viola de Cocho”, entre 1851 e 1868; “viola sertaneja”, a partir de 1870; “viola cabocla”, 1876; “Viola de Queluz”, 1884.
No início do século XIX talvez pudesse ter sido alcançada certa “vitória” da ação de resistência portuguesa expressa pela nomenclatura nacionalista: eles teriam, finalmente, instrumentos de verdade (e não apenas um nome) para representá-los, e bem na mesma época de consolidação do pensamento capitalista. Entretanto, não é o que registros apontam e conforme relataram, entre outros, os já citados Manuel da Paixão Ribeiro (1789, p.2) e Veiga de Oliveira (2000[1964], p.165).
Se as violas já estariam em decadência no tempo de Paixão Ribeiro, mais ainda com a ascensão do violão... mas não na Colônia, tornada independente a partir de 1822: aqui haveria muitas violas, conforme já dito, com destaque pelas machetes, dos pretos. E portugueses saberiam disso, pois por lá já fariam sucesso, na mesma época, pretos brasileiros, violeiros exímios como Domingos Caldas e Joaquim Manoel.
Daí se observa que o instrumento que Portugal viria a adotar como representativo cultural junto ao resto do mundo (e com vistas a busca de divisas) acabaria sendo a chamada “guitarra portuguesa”, e exatamente a partir do início do século XIX. Faz parte do contexto histórico-social a aproximação com a Inglaterra feita por D. Pedro I, desde ações pela Independência do Brasil em 1822. Esta aproximação teria sido levada a Portugal após a vitória dele na Guerra dos Dois Irmãos, em 1834, exatamente quando é estimado o início da fabricação das “guitarras portuguesas” por lá (embora já existissem antes); aquelas “guitarras” seriam então praticamente iguais à english guitar ou“guitarra inglesa”, que depois cairia em desuso (OLIVEIRA, 2000[1964], p.197).
Com referência a este outro instrumento, de caixa arredondada e armando com seis ordens duplas de cordas metálicas, o nome “guitarra” é observado frequentemente em registros feitos por portugueses, diferentemente do tratamento dado às antigas guitarras cuja nomenclatura praticamente não se observa desde o século XV. Por serem instrumentos de caixas muito diferentes, atesta-se também a rejeição portuguesa ao uso do nome guitarra para seus cinturados preferidos até então, as chamadas “violas”. Os nomes germânicos gitar, gittern e antescittern, também traduzidos como guitarra, viriam de uma bifurcação por caminho diferente do caminho das línguas latinas, mas todos apontam resquícios primordiais, da cithara latina, kithara grega e kethara assíria. Duas curiosidades: portugueses aceitariam a versão cithara / citara para suas violas, mas não “guitarra”, segundo Rafael Bluteau (1720, v.8, p.508); e pelo menos um estudioso, Nuno Cristo (Em defesa da Cithara lusitânica, 2021) defende que a “guitarra portuguesa” teria vindo de cítaras desde o século XVI, embora não haja registros continuados conhecidos por lá, enquanto a citada aproximação com a Inglaterra e os caminhos de registros de nomes sejam notórios. Ou seja, mais uma vez se atesta, e desta vez em pleno século XXI, visões diferentes de portugueses.
Mesmo com a preferência pelo violão e ainda que tenha tido menor evidência em alguns centros, instrumentos chamados de violas foram registrados na maioria das regiões brasileiras, em repertórios diversificados, com destaque nos dos pretos (cantigas e temas dançantes em batuques, em desfiles, dentro e fora das igrejas, etc.). Inclusive no maior polo comercial do século XVIII, surgido em função do Ciclo do Ouro, a cidade de Vila Rica (atual Ouro Preto), em Minas Gerais (CASTAGNA & SOUZA & PEREIRA, 2008) e em capitais como o próprio Rio de Janeiro (segundo a já citada Mayra Pereira, 2013). Não se atestam, portanto, equivocadas alegações de que “a viola teria migrado para o interior do Brasil”, que são colocações oportunas para a defesa de um suposto caipirismo ancestral, que igualmente não se atesta por registros de época, mas que é entendimento coletivo ainda defendido por muitos pesquisadores e outros tipos de fiéis.
PERÍODO 4 (entre o início do século XX e o início do século XXI): a grande expansão de um dos modelos de viola brasileiros.
Surgiu, gradativamente, o modelo mais conhecido e de maior evidência nos dias atuais, consolidado hoje pelo nome Viola Caipira. Registros apontam, entretanto, que até a década de 1970, além das nomenclaturas dos demais modelos, que citamos no período anterior, a nomenclatura mais empregada era simplesmente “viola”, com registros também de “viola paulista”, “viola sertaneja”, “viola cabocla” e “viola brasileira”, para modelos com pequenas diferenças. Com processo de fabricação similar ao de guitarras, desenvolvido na grande capital São Paulo por imigrantes como Del Vecchio e Giannini a partir de 1900, o modelo não apresenta equivalência aos modelos artesanais preexistentes, inclusive os chamados de “viola paulista”, que pela lógica caipirista deveriam ter sido os mais relacionados. Definitivo entendimento a respeito, embora desprezado ou não entendido corretamente por diversos estudiosos adeptos ao caipirismo, é indicado em pesquisa de campo da década de 1950 feita por Alceu Maynard de Araújo (ver compilação de artigos A Viola Cabocla, 1964). Entender que, por ter-se consolidado com o nome Viola Caipira este modelo teria sido o ancestral, ou único, é um equívoco talvez só explicável por motivações financeiras, ególatras e/ou de crença popular.
As violas tiveram grande salto de popularidade com os registros em discos, a partir de 1929, graças a Cornélio Pires, conforme apontado por dezenas de estudos (lembrando que entre aquelas haveria Violas 12 Cordas). Após meados da década de 1970, início de uso maciço do nome pela gravadora de Tião Carreiro, o modelo Viola Caipira foi crescendo em número de adeptos e de potencial econômico, com tudo o está relacionado ao capitalismo vigente no país já desde àquela época, como fabricação em série, avanços tecnológicos, ações de marketing e investimento de empresas. Coerente com o caipirismo, cujos produtos (livros, discos, apresentações, etc.) já tinham provado ser de bom atrativo comercial.
Já a partir de 2015 (talvez, numa possível nova fase de transição surgindo?), uma cadeia de acontecimentos vem apontando novas perspectivas das violas no Brasil, com a correta ampliação de visão para além apenas do modelo Viola Caipira:
Em 2015 e 2016, o Projeto SESC Sonora Brasil levou mais de 500 apresentações de vários modelos da Família das Violas Brasileiras nas cinco regiões do Brasil, colaborando para a consolidação da diversidade e dos próprios modelos, individualmente, segundo por exemplo Roberto Corrêa (artigo Cinco ordens de cordas dedilhadas, 2015) e Denis Rilk Malaquias (Música Caipira de Concerto, 2019, p.46);
A proposição em Minas Gerais, e depois em âmbito nacional, pelo reconhecimento oficial da viola como Forma de Expressão válida aos registros em Livros de Patrimônio Imaterial, que temos a honra de ter introduzido nos anos de 2015 em Minas Gerais e em 2017 no âmbito nacional, no IPHAN;
Artigos acadêmicos de estudiosos importantes, como os já citados Roberto Corrêa (As Violas do Brasil, 2017) e Paulo Castagna (Viola Brasileira, 2017).
Os demais modelos além da Viola Caipira (a saber Brancas “Fandangueira” e “Caiçara”, Buriti, Cabaça, Cocho, Machete, Nordestinas e 12 cordas) continuam a sobreviver, com atrativo comercial e reconhecimento público menor, mas representando a verdadeira abrangência da história das violas. Estas chegam aos dias atuais com possíveis indícios de uma nova fase histórica, quando se espera será mais considerada, estudada, preservada e reconhecida toda a Família das Violas Brasileiras. Nova fase que deverá ser apontada no futuro a partir desta postulação científica apresentada por João Araújo, em 2021 (monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil)... mas aí já são outras prosas.
Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP – Artigo 214286
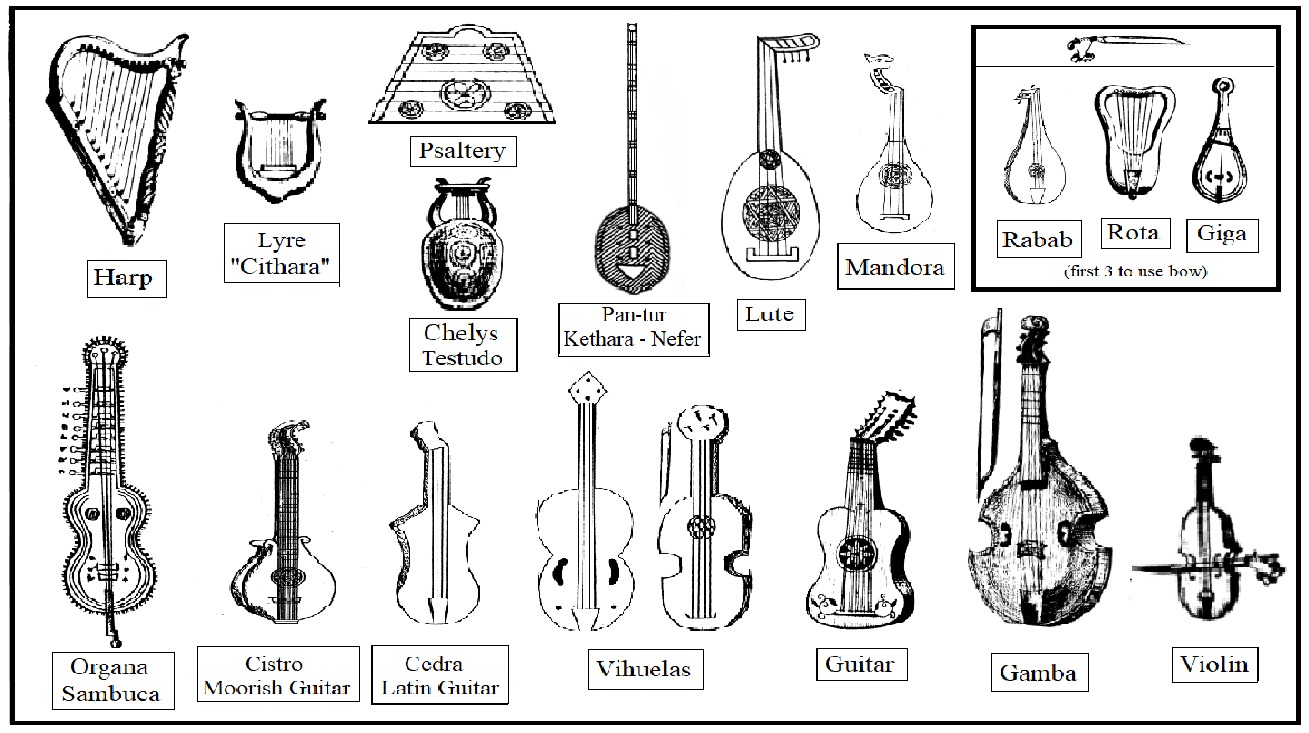
A HISTÓRIA MUITO BEM CONTADA PELOS CORDOFONES
Viola, Saúde e Paz!
A postulação de que instrumentos de corda (“cordofones”) populares com braço e caixa de ressonância seriam testemunhas (ou reflexos) da História deve ser creditada a João Araújo, cujo desenvolvimento partiu de estudos e apontamentos de pesquisadores de várias áreas do Conhecimento. Foi primeiro apresentada em dezembro de 2021 em nossa monografia, testada em nosso estudo Chronology of Violas according to Researchers, de 2022 (publicado na Revista da Tulha, da USP, em 2023) e teve aprofundamentos publicados durante todo o ano de 2023 em Brevis Articulus como este.
Com "postulação científica" queremos dizer não apenas apresentar uma hipótese, mas atestá-la, comprová-la, sustentá-la por fatos, dados, desenvolvimentos, metodologias científicas. Há sempre o desafio da comprovação quando se trata do passado: pessoas comuns (principalmente aquelas que não querem, por algum motivo, ter o trabalho de conferir dados) costumam dizer que é “apenas mais uma tese”. Realmente, se pensarmos que ninguém é capaz de voltar ao passado e trazer comprovações físicas indiscutíveis, com boa dose de radicalismo e má vontade, podemos pensar assim. Qualquer forma, se é preciso ser tolerante com os que optam por negar a Ciência por “achismos” contra dados e registros, também precisa-se ter tolerância com os que pesquisam e nunca afirmam nada “da boca pra fora”.
Destacamos e acrescentamos inclusive que, no nosso caso, não trabalhamos cientificamente com nenhuma das técnicas existentes para postular “teses”, mas com apontamento de dados: fazemos questão de apontar significativo número de fatos e dados de época, de fontes de várias línguas (comprováveis por registros) e contextos histórico-sociais de notório conhecimento público, usados também por todas as áreas da Ciência.
Por que cordofones com braço? Porque já era nossa área de atuação há décadas, nosso ponto de partida, mas também porque observamos que este tipo de instrumento apresenta, historicamente, interessantes variações coincidentes com eventos históricos de grande comoção ou impacto social, em especial o recorte da História Ocidental, de onde teriam vindo os cordofones brasileiros. Infelizmente, não dá pra “abraçar o mundo todo de uma vez”, e assim optamos por este limite (chamado “delimitação”, em trabalhos científicos).
Aprofundaremos aqui um pouco mais um resumo que apontamos nas primeiras páginas de nosso livro A Chave do Baú com o título de “Eventos de Grande Impacto Social” / “Reflexos em Instrumentos Musicais”.
Na verdade, o primeiro evento de grande impacto social da Humanidade (não citado no livro) teria acontecido antes, durante um grande período, no qual muitos seres humanos gradualmente teriam passado da condição de nômades para se fixarem, passando a criar animais e cultivar alimentos para a subsistência, ao invés de só caçar. Os estudos atuais apontam que teria acontecido aproximadamente 9 mil anos atrás e é um primeiro alerta para quem vier conosco neste texto/estudo: não é possível ter precisão nesta datação, assim como em outras, e também não teria acontecido em todo o planeta ao mesmo tempo, num mesmo nível (sabemos que, se pensar bem, até os dias atuais há grupos humanos pelo planeta ainda prioritariamente nômades, e outros ainda prioritariamente caçadores / pescadores). Dos tempos deste primeiro grande evento de modificação social, e até antes dele, sabe-se pouco sobre os instrumentos musicais utilizados, mas sabe-se que eles já existiriam, principalmente instrumentos de sopro similares a flautas rústicas.
A possibilidade de apontar datas com um pouco de mais precisão acontece a partir do segundo evento de entre nossos destacados, que teria sido a invenção da escrita: desconsiderando sinais, rabiscos e desenhos anteriores (que naturalmente teriam influenciado os escritos que vieram depois, mas ainda não seriam considerados “língua escrita”), o que a Ciência considera do que já foi descoberto e decodificado até hoje é que na antiga Suméria, um pouco antes que no Egito, teriam surgido as primeiras amostras de linguagens escritas que refletiriam as falas, que tivessem registros organizados e úteis para controle e repasse de conhecimentos. Sim, é outro alerta para nossa jornada aqui: ainda podem ser descobertos outros registros, além de alguns ainda poderem vir a ser decodificados e considerados “escrita” válida, consistente. Ciência é assim: é o “hoje”, ou o “o que se pode afirmar até agora”.
Acreditamos que, por estarmos aqui a deixar registro escrito sobre procedimentos científicos, não precisemos detalhar quanto o evento da escrita vem causando modificações na sociedade mundial, no caso, desde aproximadamente 3800 aC.
Sobre instrumentos musicais, podemos dizer que teria havido antes já um processo de evolução nos cordofones, pois há registros de: instrumentos grandes, de cordas apenas esticadas em suportes, onde cada corda emitiria apenas um nota de cada vez (“harpas”); versão menores destes, portáteis (“liras”); versões destes últimos, portáteis, mas já com caixas de ressonância acopladas ao longo das cordas (“saltérios”) e também versões também com caixas de ressonância, mas com menos cordas do que os anteriores, acopladas ao longo de braços, o que permitiria que cada corda fosse capaz de emitir várias notas diferentes (então, precisar-se-ia menos cordas por instrumento para obter resultados similares).
O desenvolvimento pode ser intuído sem muito medo de errar, até porque é atestado por todo o mundo, inclusive por registros anteriores aos escritos (como esculturas, pinturas, desenhos, etc.): as “cordas que emitem som” teriam gradativamente conquistado tanta importância para os humanos que mereceriam ser carregadas junto, onde fossem; para facilitar tal demanda, teriam sido construídas versões menores, portáteis... mas que, entretanto, teriam menor quantidade de som que as maiores. Então, nestas por estas circunstâncias teria surgido a necessidade de ampliação do som deles, as chamadas “caixas de ressonância”. Mais tarde ter-se-ia descoberto que seria possível usar menos cordas para conseguir efeitos similares e até melhores, apertando as cordas ao longo de braços.
Algo que chama a atenção é que, sejam quantos milênios tenham sido necessários para estes desenvolvimentos, modelos antigos não teriam sido abandonados, convivendo com os novos e assim é até os dias atuais (harpas, liras e saltérios ainda são utilizados). Indicamos este fato como uma evidência de certa tendência dos instrumentos musicais, um padrão de continuidade, o que infere que quando se observa alteração nesta tendência, teria havido alguma razão.
Os nomes hoje mais consensuais daqueles instrumentos, que apontamos já em versões na língua portuguesa como faremos sempre aqui (harpa, lira, saltério) são, inclusive, originários de línguas surgidas bem depois, e apontam um reflexo dos (ou nos) instrumentos pelo evento social da invenção da escrita: a partir daquela época podemos afirmar que os instrumentos teriam nomes (pois, como dissemos, eles já existiriam antes).
Os nomes mais remotos conhecidos de cordofones com braço e caixa de ressonância são o PAN-TUR sumério e o NEFER egípcio. Depois, mas ainda aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, seria observado um reflexo de contexto histórico-social pela dominação dos assírios, que depois de sucessivas guerras e invasões acontecidas teriam encampado a região suméria (estes últimos, que acabaram extintos). Assírios dos quais se conhece registro de cordofone com braço chamado por eles KETHARA, praticamente igual ao ancestral PAN-TUR sumério.
Atentos aos contextos, destacamos o aspecto de "dominação", que seria observado diversas vezes depois, durante a História: um povo que, ao dominar outro, insere em substituição seus próprios costumes e sua língua. Estes fatos são atestados por nossos estudos sobre nomes de cordofones, que vão além das regras linguísticas e inserem na equação investigativa visões e análises musicológicas, históricas, sociais e outras.
Um próximo evento de grande impacto social teria sido a grande atuação naval /comercial dos fenícios, estimada entre 1700 a 300 aC. (aplicando-se, no caso, a regra de que antes do chamado "marco zero da era cristã" os anos devem ser contados de maneira retroativa). Teriam sido muitos séculos de compras e vendas produtos por um grande território ligado ao Mar Mediterrâneo (terras hoje chamadas africanas, europeias, asiáticas, oriente-médio e outras). Aos fenícios também é creditado o início do desenvolvimento de uma linguagem escrita padronizada para toda a região, que faria sentido para facilitar o contato entre povos de culturas tão diferentes. Instrumentos musicais teriam sido comercializados, sendo observados instrumentos ancestrais similares em praticamente todas as distantes regiões, que não teriam tido grande contato antes dos fenícios. Similaridades inclusive na popularidade e em pequenas variações (evoluções) mais presentes em cordofones “de mão”. Assim como todas as invenções e descobertas humanas, incluindo as influências fenícias, as características dos instrumentos teriam se espalhado, passando a evoluir com pequenas variações conforme cada diferente cultura. Entretanto, algumas características fundamentais podem ser apontadas com diferenciadoras, como as que apontamos aqui para descrever harpas, liras, saltérios e "cordofones com braço e caixa".
Um evento seguinte, de grande impacto social, destacamos pela atuação grega, entre os séculos VIII e II aC., que podemos dizer que tiveram duas principais características de impacto: seguindo a “trilha” fenícia pelo mesmo vasto território, os gregos teriam até ampliado a área de influência, alcançando e depois dominando, por exemplo, chineses e indianos. Também teriam dado seguimento, a partir dos fenícios, à criação e expansão do seu alfabeto grego. Nota-se que teriam assimilado (ou se apropriado) grandemente de vários conhecimentos das diferentes culturas, em especial a egípcia, mas também não se pode negar que teriam feito desenvolvimentos e, ao implantar o grego como língua de referência, intercambiaram e espalharam conhecimentos pela vasta região. Nos últimos séculos, com os gregos já então governados por macedônios, o impacto social aumentaria pela violência, como dominações armadas e escravizações.
Quanto aos instrumentos musicais, por exemplo, os cordofones com braço, conhecidos então já há séculos, teriam ganhado seu primeiro estudo, que depois viria a colaborar muito com evoluções da música por várias culturas, pelos séculos. Creditado ao grego Pitágoras (ca.570-ca.500 aC.), muito provavelmente por conhecimentos matemáticos assimilados dos egípcios, teriam sido descobertas relações científicas entre as notas musicais emitidas ao longo dos braços dos instrumentos, que foram repassadas e até hoje são utilizadas em todo o mundo, em diferentes tipos de escalas musicais.
Os instrumentos também refletiriam a história da influência grega pelos nomes: além de harpa e lira, entre outros, surgiria da citada kethara assíria (e também de certa qitara africana, esta já por reflexos dos intercâmbios fenícios anteriores), o nome grego KITHARA; significativamente, também surgiriam as interessantes variações gregas PANDURA e PHANDURA, com resquícios do ancestral PAN-TUR sumério, mas carregando resquícios diretos de um mesmo tipo de bifurcação, observada originalmente em línguas da região do Cáucaso: PANDUR e FANDUR. Esta bifurcação dos nomes provavelmente teria surgido pelas dificuldades de pronúncia em línguas muito diferentes, por séculos (aqui traduzimos para o português aproximações das pronúncias).
Este capítulo grego é especialmente indicativo dos detalhados reflexos históricos atestáveis em instrumentos musicais, apontando que a língua grega não teria sido tão imposta às diferentes culturas. Teria havido uma certa conservância dos radicais dos nomes originais dos instrumentos em outras línguas, apesar da já citada fase final grega, mais violenta e dominadora.
Logo a seguir aos gregos, teria vindo a fase de domínio romano, entre os séculos II aC. e V dC. Seguindo o exemplo grego mais violento, embora sem alcançarem China e Índia (para citar os mesmos exemplos anteriores), não se observam tantos avanços científicos gerais, mas não se pode deixar de dar crédito aos romanos por avanços nas áreas de combate e administrativo-estruturais, como estradas, aquedutos, agricultura entre outros. O alfabeto latino teria influência do grego, e teria havido uma imposição do latim como língua oficial em todo o território dominado. Teriam sido feitas muitas traduções para o latim a partir do grego, às vezes adaptadas, que sobrevivem até os dias atuais.
Instrumentos musicais apontam reação parcial ao evento nos nomes: harpa elira seguiriam praticamente iguais, assim como as traduções ou variações latinas cithara (de kithara) e pandorion (de pandura) O outro par da bifurcação deste último instrumento, que teria pronúncia iniciada pelo som da letra “f” (phandura), não seria mais observado; entretanto, desde o início do período de domínio romano se observa significativo uso do genérico fides e seu diminutivo fidicula, relativos a “cordas”, apontado para todos os tipos de cordofones. Estudiosos das áreas linguísticas e musicológicas não teriam observado, mas pelo nosso olhar embasado em contextos histórico-sociais, nos parece bem clara a rejeição de cunho nacionalista, por parte de vários romanos, aos nomes de outras línguas, atestado pelo uso destes termos genéricos (que vimos também depois, em línguas derivadas do latim). Também é daquela época, e entende-se que pelos mesmos motivos, o surgimento de registros de vários nomes derivados de cithara, ou seja, variações, como cedra, cetra, cistro, cetula e similares, para cordofones com braço que não teriam assim tantas variações de formato, a não ser que já se apontava certa preferência, nos instrumentos apontados por estas variações em latim, a formatos de caixa diferentes dos árabes / persas originais, que teriam sido em forma de gota, ou de uma pera cortada ao meio.
O próximo evento de grande impacto social seria a influência da Igreja Católica romana, após a queda de Roma (século V), que seria mais significativa até o século XV, em período histórico chamado “Idade Média”. A Igreja manteria o latim como língua oficial de suas práticas, inclusive escritos que seriam os de maior número por todo o território anteriormente ocupado por quase todo o vasto período. Poucos além dos religiosos saberiam ler e escrever, numa época então de povos / nações que continuariam em seguidas guerras por conquistas de espaço e consolidação de suas culturas, então pelos territórios retomados dos romanos.
Pode-se dizer que, naquele período, até o século VIII a Igreja praticamente determinaria o que se fazia musicalmente no território europeu. Este panorama começaria a mudar com a chamada "Invasão Moura" (árabe, muçulmana), que iria influenciar significativamente o cenário até o século XV, quando foram expulsos. O choque entre culturas bem diferentes representa capítulo importante para o surgimento dos cordofones que hoje seriam originalmente europeus: os árabes teriam levado seus instrumentos e sua relação com a música, bem mais evoluídos e livres, causando reações nos povos europeus invadidos. Não seria à toa que, por exemplo, a partir do século X, assim como ações mais enfáticas de perseguição aos mouros como as Cruzadas, teria começado a evolução de estudos da música europeia, hoje chamada “tonal”. Considera-se a evolução a partir de Guido D’Arezzo, padre italiano, pois então a Igreja ajudaria a divulgar os estudos. Também a partir deste mesmo século X é que se teriam os registros conhecidos de uso de arcos em cordofones pelo território europeu, uma reação considerável observada nos instrumentos mais populares. Esta mudança também refletiria início de um longo período de transição, durante o qual os mesmos instrumentos seriam tocados tanto da antiga forma (dedilhados) quanto da nova forma (via fricção por arco), mantendo os mesmos nomes. Outros formatos de caixa, como o cinturado, teriam começado a ascender em preferência ao formato periforme tradicional árabe, segundo esculturas, pinturas, desenhos e similares. Poucas variações de nomes seriam observadas pelo já exposto, de que as nações estariam em fase de disputas, e haveria poucos registros escritos, além dos em latim.
Capítulo especial de contexto histórico-social refletido se observa a seguir, entre os séculos XII e XIII, embora também pouco aprofundado neste sentido por outros estudiosos. Teria sido o auge do Trovadorismo, quando a cultura mambembe, originária dos mouros, já estaria então totalmente absorvida pelos europeus, que se atesta por textos rimados (poesias “à moda moura”) escritos até por padres, o que significa textos espalhados por todo o território europeu. Estas poesias, e/ou eventuais letras de músicas, atestariam o grande intercâmbio (ou “empréstimos”, como dizem os linguistas) entre o latim popular e diversas línguas em evolução dos diferentes reinos, e instrumentos musicais apontariam esta fase, numa atestação por uma profusão de registros de nomes muito parecidos, registrados em textos em latim, occitano (ou langue d'oc, ou romance, ou "língua dos trovadores"), catalão e as mais antigas versões de francês e dialetos alemães e ingleses. Entre estes registros, se destacam variações próximas ao nome “viola” que catalogamos em nosso citado artigo Chronology of Violas according to Researchers.
O Trovadorismo seria sido interrompido por outro evento de grande impacto, a chamada Peste Negra, do século XIV, que também traria outras grandes mudanças sociais. É a partir do século XIV que também que se observa, entre outros registros, poema em espanhol escrito pelo padre Juan Ruiz, o Libro de Buen Amor, que aponta separação de preferência por instrumentos não árabes, representada pelo formato cinturado de caixa, seguido pelas caixas em formato redondo, predominante até os dias atuais: estes, com o tempo, também migrariam para fundo de caixa plano, diferente dos fundos abaulados árabes. Constata-se também o início de diversas modificações (de nomes, formatos, armações de cordas e outras) observadas em cordofones então “europeus”, que iria acontecer nos séculos seguintes, enquanto os instrumentos árabes se manteriam até hoje praticamente iguais ao consolidado naquela época.
Capítulo transversal de contextos histórico-sociais teria lugar entre povos hoje chamados “espanhóis” e “portugueses”, um longo período com capítulos que se pode apontar desde que Portugal se ergueu como reino independente (século XII), em região estratégica da chamada Península Ibérica (termo derivado do grego) ou Hyspanica (termo derivado do latim). As duas nações vizinhas guerreariam entre si pelos territórios, mas também atuariam juntas pela expulsão dos mouros, conseguida só no século XV; logo em seguida iniciariam disputa chamada “Aventura Marítima”, concorrendo e conquistando novas terras, em destaque na América do Sul, cujo marco histórico se conhece pelo Tratado de Tordesilhas, celebrado já em fins do século XV; mais tarde, entre 1580 e 1640, o rei espanhol Felipe II chegou a governar também Portugal, acirrando ainda mais a rixa já de séculos. A partir daquele período, a História aponta o surgimento do chamado Império Espanhol que, apesar de algumas derrotas, nos séculos seguintes teria vitórias significativas, por exemplo, contra ingleses e franceses.
Instrumentos musicais refletem a influência espanhola no território europeu pela assimilação de suas preferências por cordofones cinturados, com fundos planos, a princípio espelhos de instrumentos árabes: entre os menores, com 4 ordens de cordas, guitarras espanholas espelhariam mandurras árabes (apelidadas bandurrias); entre os maiores, com 6 ordens de cordas, vihuelas espanholas espelhariam o al’ud (“alaúde” árabe, apelidado vihuela de Flandres). A referência é clara: os instrumentos espanhóis substituiriam perfeitamente os árabes, com as mesmas armações de cordas e tamanhos, e as caixas diferentes não trariam grandes modificações de sonoridade, mas uma personalização de nacionalismo, de rejeição, que se reflete também no uso de nomes traduzidos ou apelidos pejorativos e/ou que distorceriam a procedência dos originais. A partir do século XVII, a pequena guitarra espanhola migraria para cinco ordens de cordas (hoje muito citada como “guitarra barroca”) e, a partir do século XIX, para seis cordas simples (apelidada “violão” ou "viola francesa" pelos portugueses). Todas estas tendências originadas no contexto espanhol têm evidência de seguimento por outras nações, atestáveis em bom número de métodos então publicados, por exemplo, de gitern ou guitar (em inglês); guiterre ou guitare (em francês); Guitarre ouGitarre (em alemão) e chitarra (em italiano).
Praticamente toda a Europa da época seguiria a influência espanhola em cordofones populares, por formatos e até nomes similares, como listado, menos Portugal. O contexto histórico-social transversal, neste caso, aponta os motivos, e nos cordofones mais populares se atestam anomalias históricas observadas exclusivamente em Portugal, como a origem e manutenção, até os dias atuais, de “violas dedilhadas” (idênticas, até o século XIX, a instrumentos chamados de variações do nome guitarra, menos pelos portugueses) e a ascensão e também manutenção, até os dias atuais, de cordofones com caixa arredondada chamados “guitarra” apenas pelos portugueses (a chamada “guitarra portuguesa”). Pelo resto do ocidente, até os dias atuais, consolidou-se considerar os cordofones de caixa arredondada e fundo plano como “família dos cistres”.
Este citado contexto que estamos a chamar de “transversal” se alongaria até tempos de outro evento de significativo impacto social por toda a Europa, a Revolução Industrial, cujas fases são estimadas entre o início do século XVIII e início do século XIX. Este evento se consolidaria pela visão de fabricação e venda em série de produtos, onde os instrumentos musicais naturalmente também foram inseridos. Acoplada à nova visão, chamada hoje “capitalismo”, o antigo nacionalismo ou patriotismo também se somaria, num entendimento de que, se uma determinada região se especializasse em determinados instrumentos (na fabricação, evolução, ensino, prática, etc.), esta especialização traria mais divisas, além de destacar características culturais exclusivas, identitárias daquela região. Durante esta fase, instrumentos musicais populares apontariam reflexo e testemunho de época, por exemplo: na consolidação das orquestras, a partir do investimento inicial italiano em violas de arco, cuja variação de tamanhos levou ao naipe de cordas e às orquestras modernas; a citada guitarra espanhola ("violão"), seguida depois pela “guitarra elétrica” estadunidense; e a já também citada “guitarra portuguesa”, direcionada ao fado, não coincidentemente surgida na mesma época de ascensão do violão por toda a Europa, inclusive em Portugal, apesar da velha rixa.
Por fim, destacam-se os efeitos das grandes guerras mundiais do século XX, seguidas por movimentos pela paz mundial, refletidos pela ascensão das já citadas guitarras elétricas no rock e, paralelamente (e também um pouco “transversalmente”), um período de contínua e crescente tendência à globalização das informações, acompanhando e ao mesmo tempo incentivando evoluções nas comunicações globais. Transversal porque não se pode negar que a globalização também estaria ligada a uma das principais características do capitalismo, que é expansão ao máximo de "mercados". Esta globalização, hoje praticamente “on line 24 horas”, se espelha nos instrumentos numa tendência de consolidação padronizada de formatos, nomes, armações, afinações, técnicas. Também se pode atestar o testemunho dos instrumentos pela eletrificação e/ou surgimento de versões digitais deles, e/ou das suas sonoridades: por exemplo, hoje é possível escrever e executar uma música tocada por orquestra inteira via programa de computador, com timbres relativamente aceitáveis quando aplicadas tecnologias e equipamentos de ponta.
Por fim, aconteceu recentemente mais um evento de grande impacto social mundial, uma pandemia: tudo indica que, nos próximos anos, deverá haver algum tipo de reflexo nos/dos cordofones populares, possivelmente no mundo todo. Difícil, entretanto, é prever exatamente como e quando será, mas é o que a História aponta.
Talvez, quem sabe, essa mudança já esteja acontecendo, em forma de maior interesse e acuidade no estudo histórico dos instrumentos? Afinal, nossos estudos, que entendemos sejam em grande parte inéditos na musicologia europeia (pelo menos, segundo o significativo número de fontes que levantamos), surgiram durante a última pandemia... Mas aí já são outras prosas. Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP- Artigo 214286
 QUANTO MAIS COMPADRES, MAIS VERDADE?
QUANTO MAIS COMPADRES, MAIS VERDADE?
[...] Que responderá a isto o Caipora*Semanario, e a servil recova de, que he almucavar? Fallão ou não verdades os Redactores do Constitucional? São eles os desorganizadores, ou são os Caiporas, Semanário Cívico, e sua gente? Quem forma os Partidos aquelles ou estes? Citem-nos os Caiporashuma só linha da nossa Folha, em que não preguemos União e mais União [...] E quantas vezes nos tem insultado os Caiporas? [...] Basta como o Semanario, e Caiporas.
*Assim chamaremos, d’hoje em diante os inimigos do Brasil, e da Nação.
(Jornal O Constitucional, 03/07/1822, nº 37, p.1, grifos originais)
Viola, Saúde e Paz!
O recorte em destaque nunca teria sido considerado por Cornélio Pires, nem Antônio Cândido, nem Inezita Barroso. Na atualidade, não é decantado pelos maiores sociólogos, antropólogos, folcloristas e similares, nem por musicólogos e historiadores, ou pelos considerados maiores "papas" das violas dedilhadas... Só a lista de doutores que hoje em dia incrivelmente defendem o caipirismo como se fosse uma "cultura ancestral" é imensa e praticamente o Brasil inteiro parece concordar.
Em todo o mundo, por enquanto, só João Araújo parece ter coragem, capacidade e maluquice suficiente para apontar (e provar, cientificamente) que há, no mínimo, um grande equívoco neste "entendimento coletivo" tão defendido.
Por isso, não há por que acreditar em João Araújo, um maluco desprezado pela maioria dos violeiros, e que teria pouquíssimos "compadres", não é mesmo? E nem precisa acreditar, pois, diferente de todos os demais, o que fazemos é apresentar registros de época e contextos científicos que atestam o que dizemos. Centenas deles estão em todos os nossos atrevidos desenvolvimentos: desprezar dados e hostilizar o mensageiro é comportamento típico de quem não teria como refutar a verdade dos fatos...
Dentre centenas de dados de época, o destaque aqui deste Brevis Articulus é a mais remota evidência (mas não a única) de que o termo “caipora” seria, em 1822, um apelido político, utilizado por apoiadores da monarquia absoluta.
Naquele mesmo ano, o pesquisador francês Saint-Hilaire teria ouvido outro termo parecido, na então Vila São Paulo: “caipira”, um nome que teria chamado bastante a atenção do professor pesquisador que, à época, já demonstrava familiaridade com diversas línguas, entre elas o latim, o português e até tupi/guarani/língua geral. Alguns anos depois, de volta à França, e após bem referenciado levantamento científico (que checamos item a item, como fazemos sempre), o pesquisador concluiu que caipira não seria termo original indígena. E observou que seria utilizado como apelido político, por pessoas do mesmo viés que destacamos, então chamados "miguelistas". Tudo isso está bem apontado no livro Voyage dans les provinces de Saint-Paul et Saint-Catherine (publicação em francês de 1851, Tomo I, ver páginas 238-239, inclusive o rico rodapé).
Saint-Hilaire não teria feito desenvolvimento tão apurado quanto hoje podemos fazer, pois além de aparentemente não ter lido aquela e/ou outras matérias similares dos jornais, o termo “caipora” já apareceria corrompido de significado em dicionários a partir de meados da década de 1820, como ainda o é hoje em dia, mitológico. Dicionários, algumas vezes, mais atrapalham que ajudam e assim parece que, até hoje, só João Araújo conseguiu perceber que "caipora" e "caipira" teriam o mesmo significado e propósito, quando foram criados, e pelo "homem branco", não por indígenas. Não encontramos nenhum registro dos dois termos antes do início do século XIX, mas são, no mínimo, “curiosos” os exercícios de "linguística intuitiva" que as pessoas acreditam, muito provavelmente por ser conveniente acreditar.
Um dos exercícios criativos mais vistos é que caipira teria algo a ver com "carpir" ou "capinar". Seriam mutações bem interessantes: a partir de caa, do tupi/língua geral original, um “brotamento espontâneo” das letras "r" ou "i" em substituição a uma letra “a”. Mais interessante: teria sido apenas nesta palavra, posto que caa teria seguido em outras até hoje, como caapi (cipó amazonense) ou simplesmente teria sumido um “a”, mas sem surgir outra letra no lugar, como em “capim” (que é como se fosse caapim).
O moderno “exercício livre” de etimologia, entretanto, não é atestável por registros de época e estudos sérios. Pelo menos, checamos cerca de duas dezenas deles, anteriores a 1910, e só encontramos um certo CAA PY'R, apontado mais remotamente em publicação não assinada chamada Diccionario Portuguez, e brasiliano, de 1795. Este aparenta muito ter sido escrito pelo padre e botânico José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811), um estudioso, sem dúvida, principalmente de botânica, mas sem registro de que tenha tido contato com indígenas em toda a sua vida, inclusive cuja maior parte teria passado em reclusão, com livros e plantas. A citação que parece fazer sentido, e consegue muitos "compadres" aos quais seja conveniente apoiar até hoje. Só observe que o possível termo indígena não teria as letras "i" nem "r", cujas sonoridades existiriam, como na palavra pira ("peixe").
Mais incrível ainda é o fato de ser conhecido, e há bem mais séculos, o termo carpere (“arrancar, colher, arranhar”, em latim e italiano). Devemos acreditar que o latim teria influenciado menos a língua portuguesa que uma língua indígena? Ou que teria sido um "chute", um "exercício etimológico amador"?
Mais interessante e estarrecedor ainda? Entre informações sugeridas num mesmo dicionário, o de Beaurepaire-Rohan, Diccionario de Vocabulos Brazileiros (de 1899, o mais remoto a sugerir a distorção de significado), “caipira” ser termo ligado aos paulistas teria agradado, mas "carpir" ter raiz em carpere não teria agradado tanto... De que poderíamos chamar isso? Talvez, “apontamento científico seletivo”?
Não sabemos o que é mais difícil acreditar: se durante cerca de 90 anos (entre 1820 e 1910) nenhum estudioso perceber que “caipira” teria algo a ver com "carpir" (mas é óbvio, pois "caipira" significava outra coisa e já se sabia abertamente); como "brotaram letras" em apenas algumas palavras e noutras não (como pira teria variado de seu significado mais observado em tupi, relacionado a “peixe”, e cai, que sempre teria existido sem ter "evoluído" de caa, teria variado, seletivamente, de seu significado mais observado que seria relacionado a “fogo, queimar”); ou, finalmente, se os romanos poderiam ter sido influenciados por línguas indígenas daqui, mais de mil anos antes da Invasão chamada “descobrimento” do Brasil...
Muitos parecem achar cômodo aceitar todas estas incríveis possibilidades, ou, se não todas, qualquer uma delas, tanto faz (além de nós, não observamos quem questione publicamente). E estudiosos famosos convenientemente seguem defendendo a incrível explicação “etimológica”, sem apresentar desenvolvimentos e/ou comprovações de época. Observe bem, é só a citação "caipira veio de caapir...". E não: etimologistas de verdade não confirmam isso, observe que em dicionários sérios de tupi-guarani não há esta afirmação (infelizmente, também não desenvolvimento como este nosso, "ainda").
Por brasileiros, a mais remota citação escrita do termo caipira, claramente como um apelido político, inclusive assumido por quem escreveu (que, portanto, não se sentia ofendido pela alcunha), vimos no jornal paulista O Tamoyo (12/09/1823, nº 5, p.6).
Numa análise que, curiosamente, os chamados grandes pesquisadores não costumam citar quando tratam deste tema (sequer os historiadores), contextos histórico-sociais apontam que a partir da Revolução de 1820, em Portugal, o regime Monárquico Constitucional então lançado teve rejeições, tendo acontecido a primeira revolta (chamada "VilaFrancada") em 1823. A rejeição teria tido bom número de adeptos até pelo menos o fim da Guerra dos Dois Irmãos, em 1834. Hostilizar brasileiros contrários ao absolutista D. Miguel (irmão de Pedro I) faria sentido, muito mais com um apelido que remetesse a selvagerias indígenas, lendas de demônios, etc. Só que portugueses nunca falaram tupi, guarani ou língua geral: teriam inventado, ora pois, apelidos ou "xingos" próximos a nomes indígenas de fato, atestados desde o século XVI, que seriam: curupira (entidade maligna que viveria nos rincões selvagens, segundo os indígenas) e caapora (indígena que viveria nos mesmos ermos, portanto, os mais selvagens).
Além do já citado Saint-Hilaire, o pesquisador bávaro Carl Martius (que também teria convivido, e muito, com os indígenas) apontou fontes e estudos sobre os termos indígenas originais, em seu Glossaria Linguarum Brasiliensium, lançado em 1846, ou seja, após cerca de 40 anos de estudos e pesquisas. Sabia que coincidentemente estes dois pesquisadores levaram consigo alguns indígenas para viverem com eles na Europa? Alguma dúvida de que teriam tido muito contato com as línguas indígenas? É bom considerar também que Martius escreveu aquele glossário em latim, português, “tupi” (entre outros dialetos indígenas mesclados com as Línguas Gerais) e ainda comentários em alemão. Não, ele não era linguista ou etimologista, mas era cientista e sem dúvida entendia muito de várias línguas.
Será que precisamos lembrar a diferença que existe entre apontamentos de quem conviveu com indígenas, conhecia e estudava em diversas línguas, etc... e pessoas que, embora também estudiosos, não teriam convivido com os falantes, e lançam e/ou defendem teorias convenientes, tempos depois? Se nenhum deles for seu “compadre”, qual acha que teria mais propriedade para publicar sobre o assunto: quem conviveu ou quem não conviveu com indígenas?
Ah, sim, é bom frisar, pois não vimos por aí: caapora teria sido relativo a indígenas, os mais selvagens, não a "qualquer ser humano" que morasse em "qualquer mato" ou "na roça" (como interpretou Amadeu Amaral)... É bem criativo também este "empréstimo" inventado, muito aceito e repetido, posto que oportuno. A deturpação do significado contaria com colocações selecionadas, consideradas agradáveis, do já citado dicionário de Beaurepaire-Rohan. Linguisticamente? Sem querer ser rudes, mas talvez isto possa ser melhor considerado como “uma aberração”. Uma “forçada de barra” ou equívoco grosseiro, que precisaria de profunda pesquisa etimológica de dados concretos para ser provada, não apenas a opinião de uma pessoa... E o dicionarista, um militar carioca, não aponta ter estudado línguas indígenas, nem convivido com elas, além de ter lançado interpretações pessoais várias vezes em seu dicionário, sem citar fontes, sequer desenvolvimentos concisos. Entretanto, como já destacamos, algumas colocações dele agradaram os primeiros caipiristas e seus "compadres" até hoje, sendo selecionadas para serem repetidas, sustentadas; outras, como a citação às mesmas conclusões dos grandes pesquisadores estrangeiros Saint-Hilaire e Martius (porém, sem citar os nomes deles), de que "caipira" nunca foi termo original indígena, parecem não agradar tanto...
Vasculhamos (e disponibilizamos) todas as citações ao termo "caipira" entre 1820 e 1910, não encontrando sequer uma de alguma possível "cultura", só outros significados. Preconceito, pejorativismo? Sim: a partir aproximadamente de 1840 haveria registros, pontuais, junto ao significado de apelido político, mas não apenas contra pequenos produtores rurais paulistas, como interpretou Pires e dizem “amém” todos que seguem o genial empresário artístico, como ovelhas ao bom pastor.
O contexto histórico-social aponta claramente que o preconceito seria contra toda uma classe proletária, chamada pejorativamente de "caipira" por praticamente todo o país, mas também outros termos regionais de igual valor, sendo que nenhum dos outros termos é considerado nome de uma "cultura" até hoje. Importante: apesar de sugerido assim em dicionários desde 1889, "caipira" nunca foi termo utilizado apenas em SP... e centenas de matérias de jornais comprovam isso. Duvidou? Confira gratuitamente, pela internet, o bom acervo da Biblioteca Nacional Digital, e dos jornais Estadão e Folha de São Paulo. Nós conferimos.
É bom lembrar, em tempos de memória histórica tão fraca (ou deturpada, talvez?), que o que chamamos aqui de "proletários" (quer dizer, trabalhadores mais simples, “chão de fábrica”) abrangeria também pretos e até alguns estrangeiros. Em SP, por causa do Ciclo do Café, haveria mais proletários ligados à atividade rural, é claro... Mas o pejorativo não se aplicaria a pequenos produtores, mas a trabalhadores da "grande indústria" rural da época. É bom lembrar também que a maioria dos brasileiros seria rural, a divisão de classes estava apenas começando e não faz sentido antes da Revolução Industrial. Pergunte ao seu pesquisador de estimação, aquele "compadre" seu e de todos: mesmo os defensores do caipirismo deveriam confirmar isso, se não for inconveniente por alguma razão particular.
Imaginar que teria existido uma cultura ancestral "caipira", que seria uma "raiz" brasileira, é genial, criativo, agradável e lucrativo, mas não se atesta (ao contrário, a História desmente claramente, basta ser honesto ao estudar). É incrível, entretanto, que tantos doutores não admitam isso publicamente e, ao contrário, até gostem de se autodeclarar "caipiras de fato"... Por que? Porque a ideia é genial!
Consideramos genial a interpretação lançada e defendida arduamente por décadas por Cornélio Pires por aspectos como os seguintes:
1 - Com excelente e até precoce visão de “marcas” e de marketing, teria percebido que “caipira” seria um nome/marca forte, e que passaria facilmente como “original indígena”. Desta forma, alegou suposta ligação com os mais remotos tempos brasileiros, e, portanto, uma “cultura ancestral”;
2 - Ao recontextualizar um preconceito realmente existente (de que “caipiras” seriam perseguidos e menosprezados), Pires não apenas levantou o moral de uma classe simples, mas também atraiu a simpatia das demais classes sociais, dada a nobreza da suposta causa. Esta “isca” foi mordida e cuspida fora por um “peixe grande”, o então já bom vendedor de livros Monteiro Lobato, o único além de nós que parece ter tido coragem de denunciar a engenhosa estratégia de Cornélio e a combateu, pois o sucesso de Pires prejudicaria as vendas de livros de Lobato. Não, não teria sido por puro preconceito, como se afirma bastante, embora ele fosse sim um eugenista declarado, mas por óbvias motivações financeiras. A prova é que Lobato, que chegou a afirmar que “[...] meu Urupês veio estragar o caboclo de Cornélio”, calou-se a partir de quando se juntou a Amadeu Amaral, primo e mentor de Cornélio Pires, como sócio em uma editora que então passaria a publicar livros dos dois grandes vendedores (Lobato e Pires). Afinal, “se vende bem, que mal tem?”... E assim o alegado “preconceito” de Lobato teria acabado.
3 - Cornélio aponta ter tido plena consciência de que podia lançar sua reinterpretação sem se preocupar com fundamentações científicas, pois suas publicações eram artísticas: no livro As estrambóticas aventuras do Joaquim Bentinho, de 1921,chegou a afirmar que seus registros tinham pretexto de serem “casos e mentiras”, e que lexicógrafos (elaboradores de dicionários) é que deveria “[...] pescar regionalismos de verdade” neles.
4 - Outra grande “sacada” de Pires foi induzir uma ligação com o "divino", com a religiosidade católica fervorosa brasileira, ao apontar reinterpretações que remeteriam aos primeiros tempos do Brasil-Colônia, como de manifestações como as danças. Neste sentido, colaboram lendas como as do chamado “São Gonçalo”, que além de nunca ter sido santo, mas apenas beato, desde o século XVI é citado via diversos tipos de lendas até hoje. Pesquisamos alguns relatos sérios sobre a interessante vida de Gonçalo, onde não encontramos nenhuma citação de atividade musical pelo beato (muito menos relacionado a violas). Relatos como o famoso Sermão de São Gonçalo, do jesuíta português Antônio Vieira, que aponta tê-lo escrito cerca de 1690. Cheio de lendas, menos de danças e violas, e ainda um duplo sentido, uma semântica várias vezes repetida com o termo "santo" e seus significados católico e popular. Entretanto, no Brasil há uma chamada "Dança de São Gonçalo" praticada não só na época de Pires, como antes e até os dias atuais: este tipo de dança tem registros de ter começado só em 1621, em Portugal, mas no recontexto criado foi sugerida como tendo sido ligada aos primeiros jesuítas, por um (!) texto que realmente citou uma dança, porém sem qualquer citação a Gonçalo, que realmente teria sido vista por Fernão Cardim em 1584. Em contexto histórico-social normalmente “não lembrado”, ou não considerado pelos seguidores de Pires, danças similares teriam existido, como celebrações de vitórias em guerras importantes e, especificamente em Portugal e na Espanha, desde a expulsão dos mouros, em 1492. Para conhecer uma boa pesquisa histórica sobre danças, sugerimos ler Curt Lange, Danças do período Colonial...
É genial ou não? Aponta que Cornélio teria plena consciência do que estava a fazer: defender uma “cultura inventada”, perseguida e menosprezada, ajudou muito nas vendas. Ele só talvez nem imaginasse que, com o passar dos anos, tantos outros “compadres” seguiriam suas reinterpretações livres, que agradam muito até hoje, tanto para elevar o moral de quem não gosta de ler, quanto de religiosos, quanto de quem quer faturar de alguma forma com a história.
Prova-se ser boa estratégia para vender livros, aulas, palestras, defender teses em faculdades e até candidaturas políticas, como teria sido o caso de Antônio Cândido... Sabia? Foi! E foi por SP, exato quando defendeu seu doutoramento. E utilizou ainda, em soma, outras interpretações lendárias antigas, como a de que os paulistas teriam DNA superior e que os bandeirantes teriam sido grandes heróis. Achamos essa estratégia bem nojenta, mas o fato é que agrada a alguns egos paulistanos desde a década de 1930, então...
É tudo mais ou menos como a história de "Papai Noel": uma criativa interpretação livre, sustentada e "vendida" por décadas, que agrada a muitos. Apenas uma história, que embora genial, foi criada para alavancar vendas, agradando e sendo multiplicada por afinidades de muitos, principalmente interesses comerciais.
Não é nada ilegal, entretanto, pois somos um país capitalista. E temos liberdade de Credo também, portanto, cada um pode "crer" no que quiser. E é permitido vender muito para quem quiser "ter fé" numa boa história. Tudo certo, portanto. E faz sentido, afinal, o caipirismo teria sido criado e sempre foi utilizado para alavancar algum lucro: Cornélio vendeu muitos livros, palestras, apresentações, discos... Antônio Cândido, tentou ser eleito... O estilo chamado “sertanejo universitário”, pegando carona em algumas características do caipirismo, vendeu e ainda vende muito... Inezita tinha um programa de TV para alavancar... Diversos “caipiras” atuais, embora moderníssimos, tem suas aulas de viola, livros, apresentações, palestras e outras coisas para vender.
É bom lembrar que a ideia genial hoje contempla ainda que, para ser “caipira”, basta alegar qualquer ligação com o interior (quem nunca a tem?), ou mesmo só afinidade, e estar-se-ia pronto para começar a defender e a faturar com a causa nobre.
Já os que aparentemente não teriam nada “para vender”, faturam em satisfação dos egos, como nobres participantes ou apoiadores de uma “cultura oprimida e que não se pode deixar desaparecer” ... É estranheza em cima de estranheza: afinal, se é “ancestral”, ou seja, antiquíssima, e teria sobrevivido por conta própria por cerca de 400 anos, por que teria chance de sumir agora? Que "raiz rasa" seria essa? Ou a verdade é que seria lucrativo defender a tal cultura?
Felizes também estariam muitos por não precisarem ler, pesquisar e refletir muito (a tradição oral "resolveria tudo" e, afinal, há até muito “doutores” que defendem o mesmo). Ler e refletir dá muito trabalho. Também se fatura por conseguirem muitos “compadres e comadres”, gente simples, todos “humildes como eles mesmos”, receptivos, amigos, “irmãos caipiras” por praticamente todo o Brasil.
É outra característica genial da ideia, pois realmente pode-se dizer que ainda há pelo Brasil uma classe “interiorana”, pacata, trabalhadora, ligada ao ruralismo, de muito valor, mas com pouco reconhecimento público. Só que antes, esta classe teria sido a esmagadora maioria, assim como a agricultura era desenvolvida, na prática, por escravizados sequestrados da África. E antes, “mais antes ainda” (o que seria a verdadeira cultura ancestral), as características chamadas hoje "caipiras" teriam sido praticamente todas indígenas. Não seriam, portanto, “caipiras”, nem os indígenas nem os pretos, na verdadeira raiz histórica brasileira.
É bom lembrar que, para se fazer parte hoje da verdadeira classe rural, os frutos são conquistados com muito suor: tem que pegar na enxada de sol a sol, não basta apenas se autoproclamar “caipira” e sair postando nas redes.
Imaginar que o passado teria sido "exatamente como o presente" é equívoco muito básico, principalmente se apontado por estudiosos, por isso entendemos que não seja simples equívoco, já que são pessoas de grande conhecimento: mais provavelmente haja muito de conveniência, de manipulação da verdade nisso (para não dizer desonestidade, pois a intenção não é de ser rude).
Os que ignoram a verdade estão felizes e os que faturam, quer ignorem conscientemente ou não, estão mais felizes ainda... A interpretação genial tem várias “meias verdades” juntas, em paralelo... Está tudo certo legalmente... Então, por que questionar?
Bom, quem estuda um pouco de História e Ciência percebe que a função do pesquisador sempre foi questionar e apontar verdades atestáveis, independentemente de lucros e outros interesses. E não há problema algum em praticar Ciência, afinal, o Natal também é uma história agradável criada e sustentada por milhares: ninguém deixa de faturar quando se aponta que, na verdade, o Aniversariante não teria nascido de fato naquela data, e que é estranho que se defenda que todo mundo mereça ganhar presentes se o aniversário é Dele... não é mesmo? Então, sem problemas: podemos denunciar o estranho caso do “bom velhinho” que rouba a cena do Filho do Homem, todo mundo sabe que é um embuste comercial para alavancar vendas e assim segue o andor.
Entende-se, como nossa maior motivação, que o Brasil hoje precisa mais do que nunca de práticas científicas: leitura, estudar e refletir sobre a História, esclarecimentos de equívocos históricos, verdades demonstráveis por dados (e não apontadas apenas por teorias e entendimentos, mesmo que estes sejam sustentados por pessoas importantes).
Nós “temos fé” em dados históricos e pesquisas científicas honestas, e na função histórica da Ciência. Acreditamos que interesses capitalistas, ególatras e corporativistas normalmente costumam ser colocados acima de quase tudo, sobretudo da Ciência, e que podem embotar, mascarar ou até criar e sustentar entendimentos falsos. E que a maioria dos brasileiros não tem hábito de ler, não se preocupa em checar fontes e dados, preferindo acreditar em histórias agradáveis, ainda mais se outros "compadres" também acreditarem.
Quanto mais "compadres" apoiarem, mais "verdade" alguma coisa seria? É o que parece, mas na verdade mesmo não é assim, automático. Muitos podem estar enganados e inocentes (ou quase inocentes) no processo. Estes inocentes, principalmente, mas todos merecem ter a oportunidade de saber. Por isso, apontar equívocos e confrontar com verdades atestáveis é também dever cívico e moral, além de científico, mesmo que desagrade a muitos.
O que vão decidir fazer depois de serem convidados a descobrir a verdade, por um lado é problema de cada um; mas, por outro lado, é problema de toda a sociedade. Além disso, há outros embustes semelhantes por aí, cuja mesma forma de pensar e agir corretamente pode e deve ser aplicada.
Quando é algo relacionado ao "divino", mais ainda se deve procurar dados e apontamentos claros pois, afinal, somos um país de fé: de muitas delas... Mas aí já são outras prosas. Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP- Artigo 214286
 O SEGREDO POR DETRÁS DA CHAVE DO BAÚ
O SEGREDO POR DETRÁS DA CHAVE DO BAÚ
Viola, Saúde e Paz!
Por acaso conhece o nome onomatorganologia? E separado, onomato-organologia, já ouviu falar?
Pois é... em primeiro de abril de 2023 já escrevíamos por aqui os Brevis Articulus, onde apontamos aprofundamentos sobre o vastíssimo banco de dados que levantamos e organizamos e que embasa nosso livro A Chave do Baú. Na verdade, tínhamos começado aqui três meses antes, em janeiro. Mesmo assim, por ser popularmente citado como “dia da mentira”, brincamos naquele dia, pelas redes sociais, que teríamos “inventado um embrião de uma nova ciência, inspirado num olhar científico milenar” (que foi o título da postagem). Com nome em grego e tudo: zoeira total...
Mas... já ouviram falar que precisamos ter cuidado com o que desejamos, pois pode acontecer? Pois é... agora, apenas seis meses depois, estamos no caminho de conseguir aprovação científica do termo não como “nova ciência” (aí já seria demais), mas como uma técnica metodológica, desenvolvida a partir de outras metodologias existentes. O nome, aquele mesmo, só que o separado por hífen: onomato-organologia. Por que inventar um nome? Ora... porque somos o “pai” de uma “criança”, que não tem “mãe” humana: não acha que teríamos o direito de batizar?
Bom, o Tempo é que é, de fato, o verdadeiro “pai” nestes casos, onde a “mãe” seria a Ciência. Então, enquanto esperamos para ver se o Tempo vai confirmar nossas postulações, resolvemos revisar e trazer para cá o texto original, a “zoeira”, a raiz brincalhona sobre aquele que é, se for para falar sério, o segredo por trás de A Chave do Baú, pois este título na verdade se refere à metodologia desenvolvida e lançada para desvendar segredos históricos, “tesouros” sobre instrumentos musicais. Nosso livro, portanto, poderia ser chamado de onomato-organologia, só que ficaria bem menos charmoso.
Segue a publicação, escrita em primeira pessoa como foi feito originalmente, para deguste e registro histórico:
“Onomatorganologia? Não, você nunca ouviu falar, porque acabei de inventar. Achei divertido lançar exatamente em um 'primeiro de abril', e utilizando linguagem coloquial, brincalhona... Fala a verdade, o academicismo às vezes não cansa um pouco? Por outro lado, muitos gostam de um texto leve, despretensioso, ‘engraçadinho’... E além disso, estamos numa rede social, então relaxa. E curta (‘curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho’, et cetera).
Onomatorganologianão ‘vem’ do grego; eu é que quis 'trazê-lo' de lá, porque quis e pronto: onoma, ‘nome’; organo, ‘instrumento musical’; logia (a partir de logus), ‘estudo, ciência, escrita’. Seria, se ou quando vier a existir, ‘a ciência que estuda o desenvolvimento histórico-social dos instrumentos musicais com ênfase em seus nomes’... Por enquanto, priorizo os ‘cordofones’ (quer dizer, ’instrumentos musicais de cordas’).
Uma besteira sem tamanho, não é? Afinal, já existem ciências que estudam palavras, entre as chamadas ‘linguísticas’, especialmente ramos como a etimologia (etimo, ‘origem’), filologia (filos, ‘amor’) e a abrangente lexicografia (lexico, ‘conjunto’; graphien, ‘escrita’). E também já há ciência que estuda características dos instrumentos musicais, a ‘xará’ de nome mais curto, organologia, ramo da musicologia.
Sobretudo, convenhamos: quem sou eu ‘na fila do pão’ para aventar a questionar ciências consolidadas há tantos séculos? É óbvio que só posso estar querendo aparecer...
Bom... eu sou apenas um ‘curioso’: periergos (em grego),curiosi oucuriosus (em latim), neugierig (em alemão), inquisitive (em inglês), curiós (em catalão), curieux (em francês)... Um curioso em vários idiomas, mas nada mais que um curioso, só que não tenho preguiça de ler e refletir.
Também sou brasileiro, terra onde vejo ser cultivada popularmente a cultura da bipolaridade, quero dizer, onde só se pode gostar algo se for ‘A’ ou ‘B’: política, religião, time de futebol... em quase tudo, só pode ‘preto ou branco’, ‘homem ou mulher’, ‘bom ou mal’... Me cresci (sobretudo, no abdômen) não vendo muitas considerações de mais de duas posições antagonicamente opostas para cada situação, embora, curiosamente, veja grafias diferentes para uma palavra só, como 'abdôme', 'abdômen', 'abdômem' (com ou sem acento circunflexo)... Este é o meu país, minha língua, somos nós. Cheios de incoerências, mas se a gente falar sobre elas, podemos ser mal entendidos, hostilizados. Mesmo no meu caso, que demonstro todo dia que amo o nosso país, nossa língua, nossa cultura diversa e maluca.
Posso dizer que sou anarquista: ser anarquista no Brasil hoje é estudar, é ler e refletir por conta própria; é ver que o radicalismo da bipolaridade só pode estar errado, pois gera divisão, violência, argumentos estúpidos e sem fundamentos. Ser anarquista é descobrir que quem procura o Conhecimento, sem preguiça e com honestidade, pode achá-lo; que a Ciência nunca foi estática, resolvida, definitiva, ao contrário, sempre evolui, ad infinitum (e sim, as citações em outras línguas, principalmente em grego e latim, são para tirar sarro mesmo, ou para ‘me amostrar’, como se diz em algumas das variações regionais brasileiras).
Pois bem: se a Ciência sempre evolui, porque devemos acreditar que as ciências existentes seriam perfeitas, inquestionáveis? Afinal, o próprio substantivo 'ciência' (significando 'conhecimento') passou a existir só após determinada época, em substituição ou complemento ao termo antes usado, ‘filosofia’ (do grego philo, ‘amor’ + sophia, ‘conhecimento’). Termo que, portanto, tinha a ver com ‘tudo’ antes, todos os conhecimentos. O conceito atual de 'Ciência' seria, então, uma evolução ou dissidência de ‘filosofia’, que cresceu ao ponto do conceito original hoje ser considerado apenas uma das muitas ‘ciências’...
Convenhamos mais uma vez: ‘filosofar’ em pleno ‘primeiro de abril’ merece um Nobel, não? Eu sei, eu sei: só não sou perfeito porque sou humilde, é meu principal defeito. O outro, é ser mentiroso (às vezes!).
Mas chega de encher linguiça: os ramos da linguística são excelentes, mas tem por padrão, na maioria das vezes e há séculos, estudar cada língua (ou grupo de línguas) em separado, com teorias sendo mais valorizadas que registros de época e sem aprofundamentos em outras ciências. Aprofundamentos que seriam difíceis mesmo, pois palavras são usadas para tudo: já pensou se um dicionarista (‘lexicógrafo’) fosse estudar a fundo todas as Ciências envolvidas em cada palavra, de cada língua, de todas as épocas? Cientificamente, mas brincando, pode-se dizer que 'não rola'.
Pois bem: a linguística ainda não postulou origens confiáveis do termo ‘viola’ para instrumentos musicais e, atrevidamente, afirmo que dificilmente vão descobrir usando as metodologias convencionais, pois temos mostrado que o termo teria surgido a partir de várias línguas diferentes, ao mesmo tempo. Já a organologia, muito boa também, ainda não conseguiu consenso mundial de parâmetros, principalmente porque instrumentos musicais populares (como as violas dedilhadas) sempre foram uma bagunça, poucos tem paciência de os estudarem a fundo. Pelo mundo, aliás, poucos tem ideia do que sejam violas dedilhadas...
Sim, minha empreitada começou a partir das violas dedilhadas, que não são guitarras e com nome que só existiria na língua portuguesa (ponto para o curioso, está na vanguarda mundial).
Como também sabemos aqui que ‘aprender com os antigos mestres’ seria saudável, fui consultar pelo mundo quem estudara cordofones, mas os mestres estrangeiros praticamente só teriam estudado violas tocadas por arco, e os de língua portuguesa teriam se atido (ops... desculpe, termo erudito demais. Nossa proposta aqui é ser mais coloquial...). Vou melhorar: teriam ‘se baseado apenas’ nos próprios umbigos, para ser honesto, mas sem querer ser desagradável nem rude. A verdade é que pouquíssimos teriam procurado vestígios das nossas violas na História ocidental dos cordofones... Mas ‘que os há, os há’ (aqui vou manter, achei que ficou legal o eruditismo... brinquei com las brujas, percebeu?).
Outrossim... (putz, de novo? Sorry)... Entretanto... (que m...!)... Enfim: ‘mas’ vários mestres teriam buscado coerência em datas remotas de registros de nomes de instrumentos! Boa ideia! De onde tantos teriam tirado isso? Quase nenhum entrega a rapadura... Talvez porque tenham ido por caminhos instintivos: quando é só instinto, mesmo estudiosos costumam não saber explicar. Acontece muito.
Fuça daqui fuça dali, descobri que o filósofo grego Platão, cinco séculos antes de Cristo, teria partido de ideias mais antigas ainda, que depois foram evoluindo (!) até o que se chama hoje de Metodologia ‘Dialética’ (de ‘diálogo’, ‘debate’), que seria ‘a arte de pensar, questionar e hierarquizar ideias’... Ah, aí eu exultei quase orgasticamente! A principal postulação seria algo como: ‘nada deve ser estudado sem considerar os fenômenos circundantes ao objeto de estudo’! Finalmente, encontrei quem falasse a minha língua!
É isso. Quer estudar algo? Fique de olho no que está rolando em volta daquilo. E o que rola com instrumentos musicais? Depende da época, região, utilização deles pela sociedade, nomes que foram tendo, evolução de formatos e características... Tudo isso que circunda os instrumentos faz parte da História deles (e, no caso, uma circuncisão como a peniana não é o mais recomendado, nem tem nada a ver, estou só brincando com as palavras).
Naturalmente, os mestres também estudavam nomes antigos por serem, os nomes e eles mesmo também, ‘diferentões’ (leia-se 'anarquistas', se concordar). E também porque os mestres também gostavam de se amostrar via outras línguas. Nem vem, que os caras eram humanos: não me venham com argumentos semânticos contra um escritor, poeta, compositor. Os anarquistas antigos, como eu também, sabemos que ‘se amostrar’ dá trabalho, mas é divertido e afasta alguns invejosos, ou talvez incomode a gente estudar tanto. E isso tudo vem de séculos já, não fui eu quem inventei.
Buscar nomes remotos, em línguas antecessoras, ajuda a identificar e entender o que rolava desde as respectivas épocas passadas... O complicado é que há poucos registros, às vezes pouco legíveis, às vezes feitos por quem não entendia nada de música, de linguística, de sociologia (mas achava que entendia e gostava de escrever sobre música). Se liga: não existia nem luz elétrica, muito menos as Ciências como são hoje! Mas já existiriam os 'achistas', essa praga.
Sim, o caminho aponta que os fenômenos circundantes são vários e os dados à disposição não são perfeitos: bipolaridade, portanto, nem pensar, não cabe! É desafiante, ‘multipossível’ (com permissão de inventar, anarquicamente, alguns termos como este).
Alguns ‘fenômenos circundantes’ são bem óbvios e já são observados há algum tempo, embora superficialmente: aspectos musicológicos (naturalmente), somados com históricos, sociais, linguísticos e... matemáticos! Sim, porque quando não se tem todos os registros, arbitra-se pela maioria estatística entre os que se consegue, para aproximação da realidade. A matemática é chamada ‘ciência exata’, mas nada seria mais paradoxal, pois nela existem: limites de funções, números complexos, a própria estatística e outras técnicas que apontam não a realidade ‘nua e crua’, mas as melhores aproximações científicas.
Não: não encontrei linguistas que pareçam dispostos a aceitar o que a musicologia explica (e que o curioso aqui, modestamente, sabe alguma coisa, por ter cerca de 45 anos de vivência e estudos atentos). Também não achei muitos musicólogos que estariam tão dispostos a estudar hipóteses de outras ciências, sobretudo acatar História e Sociologia como fundamental em suas equações investigativas (além do que, dá trabalho). Sobretudo, não encontrei ninguém que apresentasse um banco de dados amplo, sem preconceitos, sem bipolaridades e organizado cronologicamente (que é o que se entende que apontaria a Metodologia Dialética).
Na real? Um monte de cientistas brilhantes, mas ensimesmados nas próprias Ciências, culturas e épocas. E quase nenhum sabe nada sobre violas dedilhadas... A solução foi pegar um pouquinho de cada um, pois não é de se desperdiçar tanto conhecimento, talento e dedicação deles.
Por isso, ciências e entendimentos enferrujados a mim não serviriam, individualmente, mas peguei um pouco de cada. Só se (ou quando) se evolui a partir dos conhecimentos iniciais, abrindo ao máximo o compartilhamento com outras ciências e visões, passam a valer mais. Ou, talvez, possa eu mesmo inventar uma nova ciência (ou técnica)? Aí já parece gaiatice de primeiro de abril...
O curioso aqui escreve textos, poemas, música na pauta e sem ela, toca um pouco de vários cordofones, lê fluentemente em algumas línguas, entende um pouco de matemática que estudou parcialmente na faculdade, estuda história e sociologia... Lê e estuda feito louco. Na verdade, estudo sobre muita coisa como um maluco e sou anarquista por natureza. Só isso'.
É isso, foi este o texto brincalhão de 01/04/2023. Agora, se nossa postulação séria for aprovada por “pares” da Ciência (professores doutores de Universidades), serão outras prosas... Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras de centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG/Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286
 ENTRE VIOLAS E VIOLINOS
ENTRE VIOLAS E VIOLINOS
Viola, Saúde e Paz!
É bem provável que sejamos os únicos no mundo a estudar as violas dedilhadas brasileiras a partir de contextualizações com a História dos Cordofones Ocidentais.
Esta frase te incomoda, talvez até te irrite um pouco? Parece pretenciosa? Não se preocupe tanto, ela é só uma "manchete", uma jogada de marketing... O objetivo é atrair para o que escreveremos a seguir: pedimos um pouco de paciência, um voto de confiança, que explicaremos.
A afirmação é atrevida, entretanto, não é mentirosa, sequer exagerada: circunstâncias que a maioria parece ainda não saber a tornam até óbvia, só que são necessárias algumas palavras a mais que uma simples “manchete” para explicar…
Primeiro que, no mundo ocidental, basicamente só duas culturas teriam tido até hoje mais profundidade em estudos sobre violas dedilhadas: as de língua portuguesa, em especial Portugal e Brasil (pela obviedade de que nestes países há violas dedilhadas até hoje) e as de língua espanhola, mas parcialmente, por causa das vihuelas que teriam caído em desuso a partir do século XVII. Teria havido ainda violas dedilhadas italianas, pelo menos nos séculos XIV e XV (ver, das referências, Boccacio e Tinctoris), mas não encontramos muitos estudos sobre elas.
Em mais de uma centena de fontes das principais línguas ocidentais desde o latim antigo, encontramos umas cinco frases (se muito!) sobre violas dedilhadas brasileiras e portuguesas. Concluímos, portanto, que o mundo praticamente desconhece nossas violas, estudando só (e muito) as violas de arco; mas nós resolvemos estudá-las com base nos melhores estudos ocidentais sobre cordofones, por isso, já saímos na frente.
O fato é que portugueses e brasileiros não teriam publicado estudos nos quais demonstrem ter feito paralelos entre a História dos cordofones ocidentais e as nossas violas, principalmente nos aspectos histórico-sociais e seus impactos. Um destes impactos são as variações dos nomes dos cordofones pelos séculos, estas então pouquíssimo estudadas com profundidade até por linguistas.
Entenda-se bem: portentosas (e, merecidamente, respeitadas) pesquisas como a do português Ernesto Veiga de Oliveira, da década de 1960, citam alguns nomes em outras línguas, mas sem aprofundamentos, chegando a considerar instrumentos bem mais antigos, e com nomes bem diferentes, como sendo simplesmente “violas” (o nome “moderno”, vez que em português só tem registros conhecidos a partir do século XV).
Sim: hoje podemos afirmar que existiram instrumentos chamados “viola” (e variações próximas, em diversas línguas, deste nome observado primeiro em latim) desde o século XII, mas com poucos detalhes dos instrumentos: daí, até afirmar-se que violas sempre teriam existido, e da mesma forma, em terras lusitânicas, há um abismo de desenvolvimento e atestação científica não apontado. E pior: nós, que partimos de observações de algumas pesquisas também muito portentosas, porém de dezenas de autores em diversas línguas, sobre todos os instrumentos, desenvolvemos que não é assim que os nomes deles vêm se comportando desde os mais remotos tempos: o normal é uma continuidade, atestável mesmo se poucos registros tiverem resistido até hoje.
O melhor é: ao estudar a História dos Cordofones nos deparamos com a História toda até os dias atuais, seus curiosos e específicos aspectos sociais, os paralelos com as diversas línguas / culturas… muitos aspectos interessantes, úteis e pouco citadas no âmbito da musicologia!
Uma exceção que precisamos apontar é o doutoramento da espanhola Rosário Martinez, já da década de 1980: este abrangente e portentoso estudo sobre os cordofones da Idade Média é um dos poucos que apontam desenvolvimento sobre as variações dos nomes nas diversas línguas envolvidas. Além de vasto banco de dados de registros escritos, incluindo manuscritos, também é expressivo nele o número de registros a partir das artes plásticas (esculturas, desenhos, iluminuras, pinturas e similares). Alguns contextos históricos-sociais são citados, porém poucos, indicando que não fizeram parte fundamental da equação investigativa. É ótima fonte sobre as vihuelas, sobretudo pelo contexto com os demais cordofones, mas sequer cita as violas dedilhadas portuguesas e brasileiras. Por outro lado, estudiosos brasileiros e portugueses raramente citam a boa pesquisa da espanhola (entendemos que, como nós, deveriam é seguir o exemplo e até ampliar o leque de bases que ela lançou, que é o que fizemos).
Já deu para entender porque então aproveitamos as circunstâncias para “puxar a brasa para nossa sardinha”? Não é, nem de perto, tão genial e inovador quanto a invenção da roda, por exemplo: mas é um aprofundamento bem sério sobre como o Ocidente tem estudado instrumentos nos últimos séculos e, com a soma das melhores ferramentas encontradas, estudar instrumentos que ainda não teriam sido estudados tão profundamente.
Bom… agora que esperamos que não nos ache arrogantes (só “espertinhos marqueteiros”), vamos ao tema de hoje, que já ensaiamos parcialmente pelas redes sociais e citações feitas em nosso livro A Chave do Baú. Aqui, entretanto, nos propomos tentar ser muito, mas muito mais profundos e detalhados, talvez, que qualquer outro estudo ocidental já publicado (sim, seguimos abusando, afinal a propaganda não é a alma?). Estes Brevis Articulus semanais são para isso: aprofundamentos. E também os aproveitamos para tentar fomentar o gosto pela leitura, pela valorização de descobertas científicas e pela preservação de nossos Patrimônios (no caso, não apenas as violas, mas também a inteligência, a sagacidade, a capacidade dos brasileiros).
Como falamos pouco deles por aqui, vamos introduzir os violinos: são cordofones de porte pequeno, com braço, caixa cinturada com desenho e furos estilizados, fundo plano, quatro cordas tocadas a maior parte do tempo pela fricção de um arco. Os mais numerosos nas orquestras, tem hoje distinção de importância: o líder dos violinistas, chamado spalla, é normalmente o segundo na hierarquia após o maestro, e o “naipe” (quer dizer, o conjunto dos instrumentos similares, diferentes praticamente só pelos tamanhos) é convencionalmente chamado “família dos violinos” (contrabaixo, violoncello, viola e o violino, claro).
Respeitamos a consolidação da nomenclatura, embora não concordemos com este nome (“família dos violinos”): não deveria, pois o grupo surgiu após e em função das violas (violino, em italiano, significa “pequena viola”). A “família das violas de arco” (melhor dizendo, então, mas com aspas) têm os mais remotos registros conhecidos na península hyspanica sob nome de VIHUELAS, que no século XIV ainda seria nome tanto de instrumentos friccionados por arco quanto dedilhados. Dedilhados, no caso, podem ser diretamente pelas pontas dos dedos, ou unhas, ou plectros, que são pequenos objetos de intermediação como as palhetas modernas usadas em guitarras elétricas.
Mais remoto registro conhecido do termo VIHUELA em espanhol seria no Libro de Apolônio, de autores desconhecidos, estimado ao ano de 1240, onde também haveria variações como VIUELA e VIOLA, dependendo do códice/manuscrito analisado. Variações próximas (VIHOLA, VIOLA, VIEULA) teriam constado alguns anos antes no poema Daurel et Beton (também sem autor conhecido), escrito em occitano, língua surgida a partir do latim popular e antecessora dos atuais espanhol e português (tudo isso pode ser conferido, por exemplo, mas não apenas, no já citado trabalho de Martinez, de 1981).
VIOLA, como dissemos, teria registros desde o século XII em textos em latim (Codex Calistinus, estimado entre 1130 e 1160), e logo em seguida em occitano, catalão e até em espanhol mesmo. As evidências são de que fossem instrumentos de tamanho maior que os atuais violinos. De maneira geral, todos os cordofones teriam evoluído com o tempo a partir de três cordas, depois quatro, cinco, etc. Uma das melhores fontes para perceber isso é o livro The History of Musical Instruments, do alemão Curt Sachs, 1940.
O termo violines (em texto em anglo-saxão, antecessor do inglês) teria registros pelo menos a partir do século XVI, na publicação Sheperd’s Callendars, de certo Edmundo Spencer (segundo pesquisas de Carl Engel, do livro Early History of Violin Family, de 1883). Já “violino”, o nome propriamente dito, mas significando ainda apenas "pequena viola", teria vários registros a partir do século XVII: em latim, por Michaele Prӕtorio (Syntagmatis Musici, 1615) e Athanasius Kircher (Musurgia Universalis, 1650). Já escrevendo em inglês, John Playford (em A Brief Introduction to the Skill of Musick, 1667), chamou de treble-viol (“viola aguda”), e antes e como ele, vários se equivocaram em apontar lyra-viols como “violinos”. Aquelas, assim como as chamadas “liras bizantinas”, não teriam corpo cinturado, além de terem sido um pouco maiores, como as violas.
Destacamos, por haver muitos apontamentos equivocados, que haveria instrumentos similares antes, mas que não seriam como os violinos modernos pois só podem assim serem considerados pelo menos os de caixa cinturada. Mais que uma simples variação, que nem tanto altera a sonoridade final, as caixas cinturadas se tornaram a escolha europeia, claramente em concorrência (ou resistência) aos abaulados e periformes instrumentos dos invasores mouros. E por nossas pesquisas serem bem amplas, chamamos ainda mais atenção para um fato: entre o surgimento do nome e a consolidação do violino como hoje o conhecemos há um período de cerca de 300 anos (!). Muitos não atentam para este importante período e citam como "violinos" qualquer pequeno instrumento tocado por arco desde sempre.
Outro equívoco comum, cuja origem observamos a partir de textos em francês, é considerar o termo violon, introduzido por Marin Mersenne (em Harmonie Universelle, 1636) como se já fossem modernos “violinos”. Realmente o termo veio a ter este significado na língua francesa, mas tempos depois. Considerar o termo violon daquela época como “violino” é ver o passado com visão do presente (equívoco grave, infelizmente muito observado). Mersenne, na verdade, usou o termo como proposta de subdivisão de friccionados por arco, que seriam violes (mais graves) e violons (mais agudos): ambos os nomes eram genéricos, inventados, mais uma vez atrapalhando estudos posteriores, como acontece muito (hastag “pelo fim do uso de nomes de instrumentos como genéricos”). Seria tão melhor se aquele senhor tivesse escolhido “gravon” e “agudon”, por exemplo, que não seriam nomes reais de instrumentos… Minha mãe dizia que “Deus não dá asas a cobras”, mas às vezes duvidamos um pouco…
Apesar de, portanto, já existir como nome, o violino mesmo só viria a se consolidar a partir da segunda metade do século XVIII, após longa fase de transição que normalmente não é citada em detalhes pelos que se aventuram a escrever, nem mesmo ótimos pesquisadores que observam as várias línguas envolvidas pelos tempos (talvez, para economizar palavras?). Entretanto, é uma grande fase de transição (ou a soma de fases menores) que, de fato, apontam e descrevem a verdadeira origem dos violinos.
Sem preguiça, o começo do começo normalmente é apontado pelas mais remotas lendas (argh…). Estas remontariam a desenhos das cavernas que supostamente representariam arcos de caça como instrumentos musicais… (será que os trogloditas tentavam matar animais tocando muito mal? Só pode. E só sendo troglodita mesmo para acreditar). Depois, a lenda de Ravana (legendário Rei de Ceylan, na Índia, aproximadamente 2000 aC.) também evoca um arco como sendo de instrumento musical, entre imagens de elefantes enormes com diversos braços… (sem comentários). Depois, nos sincretismos mitológicos greco-romanos (que tentavam “retraduzir” lendas de vários povos invadidos), talvez Apolo ou Mercúrio fosse o deus inventor dos friccionados…
[Na boa? Uma canseira esse negócio de “lendas e mitos”, que tantos gostam de citar para impressionar e “vender” conhecimento fútil como se fosse Ciência e/ou como se fossem verdades… Só “confunde a bagaça” na verdade, e são os mais citados e “gostados”!].
Fato, de fato, é que se arcos chegaram ao território europeu a partir do século VIII com a invasão moura/muçulmana, e/ou outros caminhos possíveis como defendem alguns, só teriam registros conhecidos a partir do século X. Registros escritos, desenhos e esculturas apontados por estudiosos que teriam vasculhado tudo quanto é museu e peça pública por lá. Na sequência vamos dar as referências de alguns destes estudiosos, em estudos publicados em diversas línguas: duvidem e chequem, pois esta informação de atestamento só a partir do século X parece ser pouco conhecida até por estudiosos atuais.
Instrumentos cujos nomes originais árabes, que em português seriam próximos a rabab / rabeb (“rabecas”) podem, portanto, ser considerados os primeiros a terem registros como sendo tocados por arcos em território europeu, mas é bom atentar que eles teriam sido tocados tanto “com” quanto “sem” arco, tanto é que instrumentos bem similares eram chamados mandura e seriam dedilhados (ver, por exemplo, em mais de um artigo da Encyclopedie de la Musique, de 1925, coordenada por Albert Lavignac).
A bivalência (mesmo nome de instrumentos tocados de duas formas), pouquíssimo citada em estudos, teria sido encampada por instrumentos europeus antes apenas dedilhados, formando um trio de ancestrais que entendemos ser melhor apontar por seus nomes mais remotos: além do rabab (árabe), a giga e a rota (estes dois últimos, em latim). O contexto histórico-social é sempre bem claro: europeus buscavam substituir instrumentos árabes (ou "mouros") por outros um pouco diferentes, mas sempre espelhando-os em tamanho, número de cordas, afinações, funções sociais. De certa forma, pode-se dizer que esta tenha sido a mais remota origem dos cordofones europeus: a concorrência (ou rejeição) a instrumentos árabes.
Os grandes estudiosos que citamos, (os tais “vasculhadores”), acharam por bem traduzir os nomes em seus apontamentos. João Araújo, que atrevidamente está a questionar estes e outros comportamentos, alerta que traduzir e/ou assumir nomes genéricos modernos para instrumentos antigos é um grave equívoco, pois resquícios históricos nos nomes acabam por se perder, mas é importante respeitar a forma que aparecem nas, sem dúvida, sérias e bem embasadas pesquisas:
rotte, geige, rebec: em inglês, por Carl Engel, em Early History of Violin Family, 1883;
crowth, gige, rebec: em alemão, Curt Sachs, Real-Lexikon der Musikinstrumente,1913;
crouth, gigue, rebec: em francês, por Paul Garnault, na citada Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, de 1925;
rota, giga, rabé: em espanhol, por Rosário Martinez, na tese Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media, de 1981.
Conforme já explanado, nenhum destes acima seriam ainda “violinos”. A partir do século XII começariam surgir evoluções com nomes próximos ao termo “viola”, variações como: VIOLA, VIELLA, PHIALA, FIGELLA (em textos em latim), VIOLLE, VIELE (em francês); FIDIL / FIDLI (em irlandês), VIDELE, FITHELE, FIDELE, PHIGILE, VIGELE (em variações de dialetos alemães), VIOLA, VIHOLA, VIEULA (em catalão e occitano). Isso para citar apenas variações semelhantes observadas até o século XIII (!). Fizemos um profundo e inédito estudo a respeito no nosso Chronology of Viola according to researchers, de 2023. E sim: pode-se dizer que aqui “o buraco é mais embaixo”, e mais profundo, em quantidade de dados, por isso somos tão atrevidos, espertinhos, provocadores…
O mais remoto registro escrito de uso de arcos teria sido do século XIII, no manuscrito Summa Musicӕ, creditado a certos “Perseus e Petrus”. Em latim, arcus dat sonitum phiale, porém, na mesma frase o instrumento teria sido descrito como rotule monochorde, então a tradução completa seria “o arco [é usado para] gerar som na phiala, um monocórdio com roda”. Este mesmíssimo texto, além de interpretações similares, teria sido replicado por séculos, tendo sido inclusive creditado a outros autores… Resultado? Vários estudiosos ainda sustentam que, por isso, phiala teria sido “viola”, e que seria tocada só por arco, por todo o território europeu, “pelos séculos e séculos amém”. É a questão de desconhecimento da possibilidade de violas dedilhadas, e de estudar e descobrir que um nome pode significar algo diferente em cada língua.
Há deste famoso trecho alguns equívocos, que o estudo profundo das variações de nomes de instrumentos nos esclarece: primeiro, entender que phiala, citado pelo menos um século antes por John Cotton (1153-1121) no manuscrito De musica, teria sido o mesmo instrumento; segundo equívoco é que no texto do século XIII apareceu phiala e vielle um ao lado do outro, mas seriam dois instrumentos diferentes; terceiro, não atentar à descrição da phiala de "Perseus e Petrus": talvez por confundir com a roda das organas, depois chamadas "violas de roda", mas que naquele caso não poderia ter sido “monocórdio com roda”. A organa realmente teria sido uma espécie de ancestral dos friccionados: cinturada, tocada por uma manivela, esta que girava uma roda, e aquela roda friccionava cordas. Só que não teria nunca havido descrição delas, nem faria sentido, como tendo tido uma corda só (conforme já desenvolvemos aqui em outro Brevis Articulus).
E pior: teriam existido instrumentos monocordes, tocados por arco, mas tão grandes e pesadas (cerca de dois metros de comprimento) que as citadas “rodas” então serviriam para locomoção. Aquelas phialas não teriam sido então como "violas", mas “trombas / trombetas marinas”, citadas pelos próprios pesquisadores acima e outros conforme suas línguas (monochordo em latim e italiano,trumscheit / trumbscheit em alemão, marine trumpet em inglês, trompette marine em francês, trompeta marina em espanhol). Para confundir mais um pouco os menos atentos, o mesmo nome seria citado depois também para um suspeito instrumento de sopro, por Virdung (em 1511) e Bonanni (em 1722), mas teria existido antes, sem dúvida, o comprido cordofone friccionado por arco, de uma corda só.
Violinos teriam começado a surgir após clara fase de transição iniciada na península itálica, onde são observadas propostas de classificação das “violas”, após inicialmente serem conhecidas por lá por dois nomes: da braccio (“de braço”) e da gamba (“da perna”, indicando serem estas maiores). Esta fase, entretanto, só fica bem clara ao analisarmos a cronologia de registros em várias línguas e épocas, por autores que entendiam e praticavam música / instrumentos musicais (faz muita diferença).
Johannes Tinctoris De inventione et uso musicӕ, ca.1486), ainda identificava “violas” tanto como cum arculo como sine arculo ("com" e "sem arco"), mas as diferenciava das rebecum (“rabecas”) pelo fundo plano e formato cinturado de caixas (inclusive confessando serem ambos instrumentos que preferia tocar). Sebastian Virdung (Musica getutscht und ausgezogen, 1511) apontou Groß Geigen (que seriam maiores e cinturados) e Clein Geigen (menores e periformes), além da trumbscheit ("tromba marina"). Pelos desenhos apresentados, teria percebido a similaridade dos cinturados com as organas com roda e manivela (que ele chamou de lyra).
Depois, seguiriam registros de época que apontam caminhos trilhados bem antes da atual consolidação do violino. Favor considerar sempre do mais grave ao mais agudo dos instrumentos, na sequência:
1529: proposta de Martinus Agricola (Musica Instrumentalis), que em texto em alemão considerava todos friccionados como “geige” (este genérico, a partir das gigas antigas, lembra?) e onde já se via a comparação com a classificação de vozes dos coros: bassus, tenor, altus, discantus.
1533: proposta de Giovani Lanfranco (Scintille di musica), que em italiano as considerava todas como “violetta da braccio e da arco”: violono, violone, violoni (os mais graves) e basso, mezzana, canto (os mais agudos). Por curiosidade, repare que haveria de onde portugueses se inspirassem para o apelido "violão", séculos depois.
1542: proposta de Silvestro Ganasi (Regola Rubertina), também em italiano: basso, tenor, alto, soprano.
1636: proposta criticada aqui, de Mersenne, em francês: violes e violons.
1650: proposta apontada, inclusive por desenhos, por Athanasius Kircher (Musurgia Universalis, 1650), que em latim considerava todos como “chelys” ou “viola”: dodecachorde, hexacorde, maioris ou violone, minor, linterculus.
1659: proposta de Christopher Simpson (The Division-Violist), em inglês: consort-basse, viol e lyra-viol.
1667: proposta do citado John Playford, em inglês: basse-viol, tenor-viol e treble-viol.
Além de não se observar um consenso, como dissemos cada autor traduzia ou inventava para suas línguas os nomes, o que facilita confusões até os dias atuais. Nenhum dos instrumentos mais agudos citados acima pode ser considerado como o violino moderno, mas muitos equivocadamente assim apontam.
Depois, ainda numa fase final do período de transição antes da atual consolidação, no início do século XVIII teria havido clara disputa de espaço entre "pequenas violas" (já então chamadas "violinos") e outros instrumentos,. Esta fase foi apontada por alguns estudiosos, sendo o mais completo desenvolvimento observado o de Paul Garnault, em 1925, que em francês listou e detalhou as diferenças entre: Viola di Bordone, Fagotto, Baryton de viole, Viola di Pardone, Viola Pomposa, Viole d’amour, Quinton, Pardessus de viole eViolettta marina.
O último nome citado não deve ser confundido com a trombeta marina citada antes, mas talvez o sobrenome tenha sido por inspiração naquele. Segundo pesquisas da Dra. Martinez, “marina” não se referiria a “do mar”, mas aponta ter sido a partir de “de Maria”, pelo uso por freiras, religiosas que seriam “filhas de Maria”.
Violetta marina(em italiano) ou English Violett (em inglês) aponta capítulo especial ao fim da fase de transição, ainda antes da consolidação dos violinos, no qual fomos mais a fundo por termos detectado muitas informações desconexas nos estudos. A criação do instrumento é creditada ao músico italiano Pietro Castrucci (1679-1752), em período que este teria trabalhado em Londres (por isso o nome bilingue) como líder da orquestra do compositor alemão George Frideric Handel. Handel teria utilizado o novo instrumento a partir de 1730, assim como Johan Sebastian Bach.
Violettatambém seria “diminutivo de viola”, em italiano, e é talvez o campeão em equívocos de estudiosos. Entendemos que confundam porque elas utilizariam “cordas simpáticas” (isto é, cordas extras, que vibrariam junto com as cordas normais sem serem tocadas diretamente), assim como as violas d’amore, mais antigas. Entre as inúmeras fontes que pesquisamos, nesta que aparentemente é descoberta inédita nossa (detalhada em outro Brevis Articulus, específico) apenas Joseph Majer (Music Saal, 1741) teria atentado que, embora ambas utilizassem cordas simpáticas, violetta não seria exatamente uma viola d’amore, pois as distinguiu em alemão como Violinen (“violino”) e Brazzen oder Violen (“viola de braço”).
Na verdade, violetta não teria sido nem viola d’amore nem viola, pois já teria tamanho um pouco menor… mas não ainda como o violino moderno. Entretanto, poucos indicam perceber estes tipos de pormenores, principalmente quanto a desenvolvimento histórico de nomes de instrumentos, assunto ao qual nos dedicamos. É por isso que desenvolvemos, aprimoramos e divulgamos com ênfase nossa metodologia, nossos estudos inéditos que atrevidamente se propõem até revolucionários (e haja brasa para tanta sardinha…).
Portanto, só da segunda metade do século XVIII para cá teria ocorrido a consolidação não apenas dos violinos, mas de praticamente todos os cordofones como hoje os conhecemos. Não por coincidência, teria sido em paralelo com a consolidação das fases da Revolução Industrial… mas aí já são outras prosas. Muito obrigado por ler até aqui… E vamos proseando!
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, cujos aprofundamentos aponta às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG – Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286
AGRICOLA, Martinus. Musica Instrumentalis. Wittenberg: Georg Rhau, 1542 [1529].
BOCCACIO, Giovani. Decameron. Milano: Giuseppe Reina, 1849.
BONANNI, Fillippo. Gabinetto Armonico. Roma: Placho, Intagliatore e Gettatore, 1722.
CORRETE, Michael. Les Dons D’Apollon, Methode pour apprendre facilement à jouer de la Guitarre par Musique et par Tablature. Paris: Bayard, Kach. e Castagnerie, 1762.
ENGEL, Carl. Researches into the Early History of the Violin Family. London: Novello, Ewer & Co., 1883.
GANASI, Silvestro. Regola Rubertina. Veneza: s/n, 1542.
KIRCHER, Athanasius. Musurgia Universalis, sive Ars Magna Consoni et Dissoni. Libre Sextus, Musica Organica sive de musica instrumentali. Roma: Typografia Corbelletti, 1650.
LANFRANCO, Giovani. Scintille di musica. Brescia: Ludovido Britanico, 1533.
LAVIGNAG Albert. Encyclopédie de la Musique et Dicciotionnaire du Conservatoire. v. 4, 6, 8. Paris: Librarie Delagrave, 1920
MAJERS, Joseph F. Bernhard Caspar. Music Saal. Nurenberg: Jacob Cremmer, 1741.
MARTIN, Darryl. The early wire-strung guitar. The Galpin Society Journal, United Kindom, nº 59, p. 123-137, maio 2006.
MARTINEZ, Maria do Rosario Alvarez. Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos. 1981. Tese (Doutoramento em História da Arte), Fac. de Geografia e História, Univ. Complutense de Madrid. 1981.
MERSENNE, Marin. Harmonie Universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique. Paris: Sebastien Cramoisy, 1636.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000 [1964].
PRATT, Waldo Selden, The History of Music: a handbook and guide for students. New York: G. Schirmer, 1907.
PLAYFORD, John. A brief introduction to the Skill of Musick in threee books. London: W. Godbid, 1667
PRӔTORIO, Michaele. Syntagmatis Musici. [Wolfenbuttel]: Johanis Richteri, 1615
SACHS, Curt. Real-Lexikon der Musikinstrumente. Berlin: Julius Bard, 1913.
SACHS, Curt. The History of Musical Instruments. New York: W.W & Company, 1940.
SIMPSON, Cristopher. The Division-Violist. London: W. Godbid, 1659.
TINCTORIS, Johannes. De Inventione et usu musicae. [Naples]: EMT, [1486].
TYLER, James; SPARKS, Paul. The Guitar and its Music: from the renaissance to the classical era. Nova Iorque: University Press, 2002.
VIRDUNG, Sebastian. Musica getutscht und ausgezogen. Basel: Michael Furter, 1511.

OLHANDO PELO LADO DAS GUITARRAS
Viola, Saúde e Paz!
Normalmente, tanto em nosso livro A Chave do Baú quanto aqui, nos Brevis Articulus, o foco é nas violas dedilhadas... Mas já tivemos que ampliar estas bases desde o início, vez que concluímos que o mais esclarecedor é estudar ao mesmo tempo violas dedilhadas e friccionadas por arco. Não apenas pelo nome igual: suas histórias também estão interligadas desde que o nome surgiu, lá no século XII, embora a maioria dos estudiosos ocidentais ainda não teria percebido, desprezando as evidências de dedilhados nos registros (ver nosso artigo Chronology of Violas according to Researchers).
Também temos demonstrado, por meio de nossa metodologia (que soma à musicologia aspectos linguísticos, históricos, sociais e outros), que a origem das violas dedilhadas vem de uma peculiar ação nacionalista portuguesa, ao chamar de “violas” o que na verdade seriam outros instrumentos, e depois manter este nome e algumas poucas alterações a um formato abandonado pelos espanhóis a partir do início do século XIX para suas hoje chamadas “guitarras barrocas”. São prosas passadas e repassadas por aqui.
Outrossim, apontamos um curioso paralelo entre “guitarras e violas” desde cerca de 4000 anos antes do Cristo (!), a partir de variações próximas dos nomes e características organológicas. Por evidências que alargam bastante o antes observado principalmente por Curt Sachs (1940), apontamos que desde que os assírios resolveram renomear como kethara o tricordiano pan-tur dos subjugados sumérios, os descendentes daqueles cordofones vêm paralelamente disputando espaços no Ocidente. Uma boa prosa passada, que é das primícias do rebanho de pioneirismos que já detalhamos por aqui.
As GUITARRAS, portanto, também fazem parte da história das violas (e vice-versa). Em alguns períodos, mais diretamente, e em outros, um pouco mais afastadas... mas sempre estiveram “ali por perto”, como um irmão ou primo com quem temos contato pela vida toda. Por isso, desta vez resolvemos trazer um aprofundamento um pouco maior sobre as “guitarras”, desde as origens até as hoje consolidadas com os nomes “violão”, guitarra elétrica e “guitarra” portuguesa (aspas em “violão” porque é um apelido português das guitarras espanholas; e as aspas na versão portuguesa, vamos deixar para explicar um pouco mais à frente aqui).
Dando apenas uma pincelada no começo do começo dos cordofones, os mais remotos registros escritos, sumérios e egípcios, indicam desde cerca de 6000 anos atrás a existência de alguns tipos de cordofones, que podem ser listados como numa linha evolutiva. Utilizando nomes que se consolidaram depois, mas com consciência e reflexão, podemos apontar: primeiro as “harpas” (nome tardio, de origem grega); depois, quando menores e portáteis, as “harpas” seriam “liras” (outro nome tardio dado pelos gregos); e estas “liras”, quando mais tarde passaram a apresentar caixas de ressonância ao longo das cordas seriam “saltérios” (este, um nome também tardio, mas do hebraico).
Depois desta fase, a evolução apontaria os famosos braços destacados das caixas de ressonância. Estes braços favorecem a emissão de várias notas por corda, sendo assim possível que os tamanhos sejam menores, mais leves e com bons alcances musicais, favorecendo ainda mais a portabilidade. Além dos dois primeiros nomes (sumério e assírio) que citamos, o remoto termo nefer também surgiria, entre os egípcios, para cordofones com braços longos.
Até a época da influência grega (entre os séculos VIII e II aC.), teria ido tudo relativamente bem: teria surgido o nome grego kellys, latinizado depois como chelys e apelidado testudo (os três nomes significam “tartaruga”), muito provavelmente porque já se morria de inveja dos árabes e seus bem feitos instrumentos abaulados (como cascos de tartaruga). Para ficar seguro nesta parte, sugerimos conferir excelente artigo de Carin Zwilling (brasileira que sabe muito de musicologia, História e até de linguística, coisa rara no meio).
A bagunça teria começado com os romanos: para demonstrar que eram “os tais”, começaram a querer impor que tudo fosse traduzido para o latim. O problema é que textos antigos em latim apontam uso de vários nomes sem critério, sem terem sido observadas diferenças entre os instrumentos. Não que esperássemos que todos conhecessem de organologia (ciência que estuda características dos instrumentos e que ainda nem existiria), mas, por exemplo, o filósofo Marcus Tullius Cícero citava exemplos com música / instrumentos musicais com tanto cuidado que até nos ajudam hoje a atestar, por exemplo, que fides e seu diminutivo fidicula teriam sido termos genéricos (sugerimos ler dele pelo menos o De Legibus II, de Cícero). Poucos, entretanto, parecem ler Cícero com o necessário olhar musicológico.
Em textos romanos surgiram variações como guiterna e, a partir de cithara, variações como cedra, cetula e outras próximas. É compreensível que quisessem substituir nomes antecessores, por rejeição à nomes oriundos de outras culturas (contexto histórico-social, nacionalismo); mas, para nós, que vamos depois pesquisar, além da compreensão é exigida muita atenção. Infelizmente o péssimo hábito não durou só pelos primeiros séculos da era Cristã: até os dias atuais muitos ainda fazem e até acham bonito. Entendemos que o generalismo e as traduções e invenções pouquíssimo acuradas tornam mais difícil perceber reflexos histórico-sociais que os instrumentos testemunharam por séculos, e que está também nos nomes. É uma canseira, uma pena que tantos não percebam: instrumento musical deve sempre que possível ser citado por seu nome mais remoto, seja em que língua for.
Pitangas então já devidamente choradas, sigamos com o andor: depois da queda de Roma, nas línguas não-latinas (chamadas “germânicas”, mas não são só as alemãs), a partir da citada variação em latim quinterna / guiterna surgiram citterns e gitterns que mais tarde apontariam para instrumentos com caixas arredondadas, antecessores da hoje chamada “família dos cistres” (bandolins, “guitarras” portuguesas, etc.). As últimas aspas continuam, mantenhamos o suspense um pouco mais, enquanto vamos proseando...
O formato arredondado das caixas seria um “meio termo”, mas assim como o formato cinturado também indicaria rejeição aos instrumentos árabes, abaulados. Assim, “guitarras” ainda não seriam cinturadas como hoje são em “quase todo” o Ocidente, mas também arredondadas, até o século XVIII. Pode-se dizer que até aquela época era uma significante bagunça: “liras gregas” seriam sem braço, “liras bizantinas”, com braço e tocadas por arco, “cítaras”, só Deus sabe o que seria mesmo em cada texto, local e época... Nomes de instrumentos parecem “terra sem lei”, não à toa poucos têm a (in)sanidade de estudá-los com profundidade, e sobram “chutes” feitos até por linguistas respeitados. É a tal da falta de olhar musicológico / organológico que citamos.
Não por coincidência, mas por um reflexo histórico-social relacionado à Revolução Industrial, foi a partir do século XVIII a consolidação das guitarras espanholas (apelidadas “violões”) e da chamada “família dos violinos”, das orquestras (estes a partir dos italianos, mas já com apoio de compositores famosos na França, Inglaterra, Alemanha). Resumidamente, o que aconteceu é que, como a maioria das coisas, instrumentos passaram a ser vistos também como “produtos”... e produtos precisam de bons nomes ("marcas") e investimento (estudos, aprimoramentos, divulgação) para serem mais e melhor vendidos.
Entretanto, desde pelo menos o século XIV já se observaria tendência de separação, pelos espanhóis, entre “guitarras latinas” e “guitarras mouriscas”... E assim teria surgido a preferência europeia pelo formato cinturado de caixas, mas que como tudo demorou algum tempo para se consolidar. A rixa com os mouros é claramente apontada, por exemplo, por Juan Ruiz em seu Libro de Buen Amor. Crawford Young (2015) fez uma boa análise embasada de nomes e imagens, mas, como vários outros, não incluiu nas equações os contextos histórico-sociais, que são claros: árabes muçulmanos, chamados “mouros”, foram invasores do território europeu entre os séculos VIII e XV. Eles teriam levado para lá cordofones dedilhados de formato periforme, com caixas de fundo abaulado, especialmente em dois tamanhos que seriam chamados, numa adequação à nossa língua, algo próximo de mandura erabab ("rabeca"), os menores, e al’ud (“alaúde”), um pouco maiores. Já seria, de certa forma, uma "família" de instrumentos, pois o formato chamado "periforme" (forma de pera) já seria praticamente o mesmo.
Em reação / rejeição aos instrumentos dos invasores, após alguns séculos surgiriam cordofones já europeus com caixas cinturadas e fundo plano (mas as demais características seriam quase idênticas aos dois anteriores, mouros), chamados respectivamente: guitarra e vihuela (ver, por exemplo, Juan Bermudo e sua Declaracion de los Instrumentos Musicales, de 1555).
As guitarras traçariam (a partir do século XVI, portanto), uma história de sucesso: primeiro, pequenas, com 4 ordens de cordas, concorrendo claramente com bandurrias (nome espanhol para as citadas manduras árabes). Aquelas guitarras já chegaram a ficar “famosinhas” por outras terras europeias além das espanholas. Depois, a partir do século XVII, as pequenas cairiam em desuso, assim como as vihuelas, maiores, quando então ambas teriam sido substituídas por guitarras com 5 ordens, a tal “guitarra barroca” (nome inventado depois, e muito citado até hoje, porque que se tornaram bem famosas). Essa fase de transição pode ser observada pelos métodos de Fuenlanna (1554), Bermudo (1555) e Amat ([1586]). A partir do século XVII, então, fora do território espanhol há inúmeros registros, inclusive métodos, de guitare (em francês), Guitarre e/ou Gitarre (em alemão), chitarra (em italiano) e até guitar, gittern e cittern (em inglês), no caso, cinturadas concorrendo com arredondadas. Isso demonstra a força da opção espanhola.
Atente que, mesmo com as variações/traduções dos nomes, a Europa da época teria se rendido ao nome espanhol/catalão “guitarra”, mas, apesar de vizinhos, os portugueses não teriam ido “na mesma onda”. Uma boa fonte para visualizar o panorama geral é o livro The Guitar and its Music: from the renaissance to the classical era, de Tyler & Sparks (2012), pelo grande número de fontes de época apontado.
É importante salientar que o que caiu em desuso, na prática, foi a utilização pelos espanhóis do nome guitarra para dedilhados cinturados pequenos, e vihuela para os maiores. Instrumentos similares continuaram existindo, fora do território espanhol, com outros nomes. Por exemplo, para os menores, surgiriam os nomes portugueses rajão, braguinha, machinho, machete, cavaquinho e até a versão hawaiana ukulelê, além do castelhano charango (os três últimos, já a partir do século XIX). Na península itálica, desde o século XIV, e em Portugal, desde o século XV, há registros de violas, que seriam correspondentes às antecessoras vihuelas espanholas (uma evidência disso é que nas três regiões/culturas os nomes teriam sido bivalentes, ou seja, um mesmo nome era usado para dedilhados e para friccionados por arco). A diferença é que na Itália, a partir do XVII, acompanhando vários vizinhos europeus, o nome dos dedilhados cinturados mudou, surgindo as chitarras italianas (só o nome, pois seriam como as violas dedilhadas de lá, antes). Em Portugal isso nunca aconteceu, e a bivalidade inclusive ainda continua: até hoje temos “violas” e “violas”, como já tratamos aqui em prosas passadas.
Como apontamos, as histórias se entrelaçam, é preciso ter sempre “um olho no peixe, outro no gato”. Um exemplo é que, como o charango (que com o tempo teve mais cordas acrescentadas), “machete” viria a se tornar a nossa Viola Machete, não sendo, portanto, por coincidência que estes instrumentos, cinturados e de tamanho menor, tivessem tido armações com 4 ordens de cordas e hoje armem em 10x5 (exatamente as armações que as guitarras espanholas tiveram entre os séculos XIV e XVIII).
Finalmente, as guitarras espanholas mudariam mais uma vez, na virada dos séculos XVIII e XIX, passando a armar com 6 ordens (seis cordas simples), que é o “violão” atual, e que acabou por “dominar a zorra toda” de lá pra cá. Não foi “do dia para a noite”: durante o período de transição entre a “guitarra chamada barroca” e o “violão” (aproximadamente entre 1760 e 1830, pelos registros que investigamos), teriam surgido também versões com cinco cordas simples (menos citadas) e até de 12x6, uma revisitação à antiga armação das vihuelas ealaúdes (estas com consideráveis registros, de 1799 até 1830). Poucos, além de nós e dos citados Tyler & Sparks (2012), teriam observado todas estas variações durante a fase de transição. Por isso, muitos duvidam da existência de Violas de 12 cordas (com seis ordens) – mas a maioria nem teria percebido, antes de nós, que na verdade temos uma Família de Violas Brasileiras. Esta é das principais prosas nossas.
Lembrando que as guitarras seriam simplesmente chamadas de “viola” em Portugal, por lá há registros também, no mesmo período (século XVIII), de armações em 12 cordas em 5 ordens (onde, portanto, duas ordens seriam triplas) que, diferente das guitarras espanholas, apontariam de uso também de cordas metálicas (ver Paixão Ribeiro e Pita Rocha).
É bom prestar atenção em alguns detalhes: as violas 12x5 portuguesas seriam afinadas e tocadas exatamente como as guitarras espanholasda época (o citado método de Pita Rocha é tradução equivalente à parte referente à cinco ordens de famoso método de Amat, de cerca de 150 anos antes). A armação 12x5 teria sido citada pelo francês Michel Courrete depois disso, em 1762, e sabe-se lá Deus porquê, ele apontou que seria chamada “à la Rodrigo”. Muita gente boa, até hoje, acredita que por isso a invenção da armação teria sido portuguesa, mas não se atesta (já esclarecemos isso por aqui, em um Brevis Articulus específico). Também já denunciamos que ordens triplas com cordas de metal já seriam utilizadas em chitarras italianas e cordas metálicas por instrumento inglês chamado bandora, desde o século XVI, segundo Stow (1631) e Martin (2006).
Por falar em bandora, lembra das manduras, chamadas bandurrias pelos espanhóis, que eram imitadas por pequenas guitarras? Não é coincidência: são os nomes contando histórias que os instrumentos testemunharam. Assim como não é coincidência que as violas toeiras portuguesas teriam tido tamanho menor, no início, e teriam sido chamadas de bandurras (ver Veiga de Oliveira, 1964), mesmo nome surgido aqui no Brasil (no diminutivo, "bandurrilha") para violas tocadas por Gregório de Mattos, no mesmo tal século XVII... só que entre os poemas de Gregório também se observa outro diminutivo, "guitarrilha"... Vê como se cruzam as histórias de guitarras e violas?
Com a Revolução Industrial, grandes mudanças de comportamento seriam observadas. Por exemplo, aliado ao potencial financeiro / comercial intrínseco, ter um instrumento diferenciado ajudaria a destacar um país ou região. Os espanhóis já estariam a explorar e lucrar com esta visão há tempos, os italianos já apontavam estar a fazer o mesmo com instrumentos friccionados por arco (que apontam mudanças significativas, consolidadas exatamente e não por coincidência naquele mesmo período, entre meados do XVIII e início do XIX). Métodos para aprendizado, aprimoramentos de fabricação e aumento do interesse geral são atestações destes fatos, dando destaque para espanhóis e italianos à época, em cada um dos dois casos citados.
Tecnicamente, instrumentos com diferentes armações de cordas seriam “instrumentos diferentes”. Sim: tamanho, número de ordens e de cordas com o tempo se consolidaram como diferenciadores, embora alguns estudiosos parecem ainda não entender assim, pelo mundo. Uma evidência são diversos métodos publicados onde o número de cordas era indicado desde o título, obviamente para que o cliente não tivesse dúvida sobre a qual(is) instrumento(s) “diferente” o método se referia. Destacamos o já citado método de Amat, onde no extenso título fez-se questão de indicar Guitarra española y vandola [estas últimas que teriam seis ordens, ou seja, como as vihuelas], além de instrumentosde cinco órdenes y de quatro. Outra evidência que não deixa dúvida estaria na prática de execução de instrumentos, mas infelizmente, muitos não desenvolvem também este tipo de habilidade, prazer e honra. Se não são considerados os detalhes de números de ordens e de cordas, junto a outros contextos, como nomes, grande parte da História dos cordofones simplesmente passa despercebida.
Teriam sido, portanto, “instrumentos diferentes”, mas chamados originalmente de “guitarra” (que teria sido o investimento espanhol pelos séculos, como numa “marca”). Já “violão” e “viola francesa” são apelidos criados pelos portugueses, que sempre foram adversários dos espanhóis e demonstram historicamente não gostar de “dar palco pra inimigo” pelo nome dos instrumentos. Por que aqueles apelidos teriam surgido? Muito provavelmente porque os portugueses já chamavam as antigas guitarras (de 4 e 5 ordens) de “viola” ... A “nova guitarra”, com 6 cordas simples, evoluiu com o tempo para caixas um pouco maiores, se tornando mais diferentes ainda e com mais sucesso pelo território europeu... Entendeu o princípio de ação e reação, dentro do contexto de nacionalismo português? Entendeu até certo pejorativismo no aumentativo “violão” e na tentativa de disfarçar a verdadeira origem pelo nome “viola francesa”, às vezes "guitarra francesa", sendo que o nome “guitarra” já era investimento dos espanhóis há séculos? Vê como a História das guitarras se cruza com a das violas? Percebeu porque é importante estudar os nomes nas línguas originais e estar atento a fenômenos circundantes, como o que acontece com culturas/regiões vizinhas?
Portanto, a origem das guitarras se deve aos espanhóis, até por reconhecimento aos esforços que empreenderam por tanto tempo. Mas e as tais das aspas que ficamos devendo? Ah, este é um capítulo que poucos teriam desvendado, mas os nomes contam.
Os portugueses teriam começado a investir em algumas diferenças para as violas, mas não teriam seguido no projeto, mesmo quando não haveria mais “concorrência” com as guitarras espanholas (depois que o nome teve sua segunda ressignificação). Entendemos que a estratégia realmente não teria sido a melhor, porque “instrumentos chamados de viola” já existiriam também no Brasil, a enorme ex-Colônia (vez que libertou-se exatamente no fim daquele período, em 1822). A comoção social em Portugal mais uma vez teria sido grande, pela perda, e novamente nestas ocasiões é normal o nacionalismo ficar mais exacerbado, e instrumentos apontarem reações. Isso teria levado ao surgimento da “guitarra” portuguesa (e finalmente vamos desvendar o motivo das nossas aspas).
Pra começar, afirmamos (e que os portugueses um dia possam nos perdoar), que a origem das guitarras portuguesas aponta ser a partir das english guitars ou english gitterns (“guitarras inglesas”), de caixas arredondadas, com registros por lá até o início do século XIX. Guitarras portuguesas, de caixas arredondadas, claramente em rejeição ou concorrência às famosas cinturadas guitarras espanholas (já vimos este filme antes, certo?). Tudo aponta coerência de um povo que não tem histórico de criação de instrumentos novos, em época de grande comoção social e com nacionalismo aflorado, enquanto vizinhos concorrentes diretos e históricos (os espanhóis) demonstravam investir em instrumentos como produtos de identidade nacional (e de faturamento também).
Gostamos de dizer, brincando, que os portugueses pareciam estar “a tirar sarro” dos espanhóis, ao finalmente passarem a utilizar abertamente o nome deles, “guitarra”, porém para um instrumento bem diferente, de caixa arredondada. Naturalmente, é possível que tenha sido apenas uma coincidência, vez que uma tradução natural de guitar / gittern para o português seria “guitarra”. Só que, em termos de histórico de nomes de instrumentos, sempre desconfiamos de “coincidências”: se existiram, são raras.
Entretanto, portugueses como Nuno Cristo (2021) afirmam que não: por grande número de registros realmente atestados, ele, mais que outros, desenvolveu que guitarras portuguesas teriam vindo de antigas cítaras, não das guitarras arredondadas inglesas. O que observamos, entretanto, é que o exaustivo número de fontes apontado por Nuno, por si mesmo atesta que muito raramente os portugueses teriam utilizado o nome “guitarra” e variações antes do século XVIII (ao contrário do que grande parte do continente fez). Nuno também ajuda a atestar como os “gajos” expressam seu nacionalismo de forma peculiar, até os dias atuais, em especial que os nomes que utilizam seriam soberanos quanto aos de outras línguas. É assim, inclusive, o entendimento do próprio Nuno sobre as origens do cavaquinho e dos portugueses em geral sobre as violas: não se consideram paralelos com nomes utilizados em outros países, assim como pouco se embasa em contextos histórico-sociais. Talvez, quem sabe, porque seja sofrido demais relembrar tantos episódios infelizes da História portuguesa?
Para ser muito sincero, entendemos que é bonito, nobre e elogiável o nacionalismo português: quem dera os brasileiros tivessem herdado isso dos patrícios. E quem dera tivéssemos pesquisadores brasileiros com tanta dedicação no levantamento e apontamento de fontes como Nuno Cristo.
Só que, em termos de nomes de instrumentos, a História dos Cordofones Europeus nos aponta por padrão evoluções coletivas, paralelas, por várias línguas e culturas ao mesmo tempo. Apesar do grande banco de dados apontado, Nuno, por exemplo, não cita o desenvolvimento por séculos do termo “guitarra” na parte espanhola da mesma península, que destacamos aqui, e que teve reflexos em grande parte da Europa conhecida, enquanto o termo, entre outros nomes de cordofones dedilhados, era rejeitado em Portugal, que chamava a todos de “viola” (esta mesma constatação teria sido apontada pelo respeitado pesquisador português Manoel de Morais, em 1985). Eles são portugueses, que se entendam.
Estudiosos portugueses raramente consideram, por exemplo, o também respeitável musicólogo alemão Athanasius Kircher que, em 1650, escrevendo em latim e, principalmente, registrando com bons desenhos, apontou muito sobre o que chamou de cytharas: germânicas, gálicas e italianas seriam arredondadas; e as hyspanicas, cinturadas (sem citar portuguesas, mas também não apresentou desenhos de cytharas de vários outros lugares). Mais importante ainda é dar uma boa olhada no excelente doutoramento da espanhola Rozário Martinez (de 1981), onde são feitas análises amplas de registros de nomes por séculos, em várias línguas, atestando a evolução, a partir do século XIII, do latim quinterna / guiterna até guittern e cittern nas línguas germânicas (alemão, inglês, etc.). Ou seja, a ligação mais ancestral do nome com instrumentos de caixas arredondadas não aponta para latinos como espanhóis e portugueses. Em tempo, e para citar fonte em língua portuguesa, “cítara”, em Portugal, no século XVIII, seria nome também de “violas”, cinturadíssimas, não arredondadas, como se vê nos importantes dicionários de Bluteau, publicados em Lisboa por todo aquele século.
É fácil perceber que o termo “guitarra”, das guitarras portuguesas, estaria ligado ancestralmente ao mesmo latim cithara, assim como este ao anterior grego kithara. A questão é o florescimento do termo “guitarra” em Portugal a partir de fins do século XVIII sem evidências de um desenvolvimento contínuo pelos séculos anteriores, como se atesta que teria acontecido em terras britânicas e outras de línguas germânicas (quinterna, guiterna – guittern, cittern). Inúmeros outros exemplos assim apontamos pela História dos Cordofones europeus, indicando ser um padrão atestável.
Se os portugueses quiserem basear-se no desenvolvimento em várias línguas ao mesmo tempo, atestável pelos séculos, tem que explicar porque eles não teriam aderido ao termo espanhol guitarra (ou variação próxima) para instrumentos dedilhados, como tantos fizeram, inclusive os próprios ingleses após o século XVIII (a english gittern, arredondada, caiu em desuso, após a ascensão da guitarra portuguesa, enquanto as guitars cinturadas ainda existem). Só portugueses seguiriam chamando dedilhados cinturados de “viola”, só portugueses chamam um instrumento de caixa arredondada de “guitarra” até hoje ... Por que?
Quando acrescentamos à equação investigativa contextos histórico-sociais amplos, há quadros bem esclarecedores: a evolução em paralelo das culturas “germânicas” e “latinas” nem precisa detalhar, vai muito além da intensidade de influência do latim nas línguas. São rixas antiquíssimas, assim como as existentes entre portugueses e espanhóis, pelos séculos. Outro contexto importantíssimo é a reaproximação de Portugal com a Inglaterra, apoiadora de Dom Pedro I na Guerra dos Dois Irmãos, ocorrida entre 1832 e 1834. E sim: foi mais um evento de grande comoção social para os portugueses (guerras sempre são), acontecido ao final do mesmo já tão destacado período, quando é de se esperar alguma reação nos instrumentos populares. Não é coincidência.
Tudo aponta que, apesar de poder ter havido anteriormente em Portugal instrumentos chamados “citara” (e variações próximas deste nome), foi após o expressivo retorno da influência inglesa ao país que surgiu a “guitarra portuguesa”, para esta depois vir a se tornar uma “expressão de identidade nacional”, junto com o fado (outro “filme que já vimos antes”, investimentos nacionais em determinado tipo de músicas e instrumentos). Portugueses apontariam historicamente uma forma (possivelmente única) de expressar nacionalismo, pelos nomes que dão aos cordofones populares, atestável pelo surgimento de anomalias exclusivas como as “guitarras” portuguesas arredondadas (entendeu agora as aspas?); assim como, desde antes, a continuidade de “violas” como nome bivalente (para dedilhadas e friccionadas por arco), quando praticamente o mundo todo separa os instrumentos por nomes diferentes até hoje. Lembra que lá no início citamos o paralelo histórico pan-tur / kethara? Não seria à toa, nem por coincidência que o padrão seria quebrado apenas por portugueses. Nomes, estes delatores!
O fato, pela análise mais ampla, é que nomes de instrumentos tem enorme histórico de que, quando mudam, surgem ou desaparecem, é possível atestar a coerência com contextos histórico-sociais e rastros das longas transições em registros. Análises parciais, entretanto, costumam enganar até a grades estudiosos.
Por falar em nomes que permanecem, guitarras elétricas sempre mantiveram o nome derivado do espanhol (guitar), embora tenham surgido nos Estados Unidos em meados do século XX, já com o Capitalismo mais do que consolidado. Muito provavelmente pela grande comoção social causada pelas duas Grandes Guerras (1918/1945), de onde depois teria também evoluído movimentos pela paz como o hippie (ação/reação). A música reagiu pelo surgimento do rock, onde as guitarras elétricas aparecem com destaque de contexto, junto com evoluções eletrônicas, o que inclui aprimoramento de comunicações e trocas de informações mais globais. Todos estes contextos se relacionam, por exemplo, ao fenômeno Beatles (e não seria coincidência), mas aí já são outras prosas.
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, cujos aprofundamentos aponta semanalmente nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG - Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João; VIREDAZ, Rémy (supervisor de traduções).Chronology of Violas according to Researchers.[artigo independente]. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
AMAT, Joan Carles. Guitarra española y vandola, de cinco órdenes y de quatro, la qual enseña a templar y tañer rasgado todos los puntos naturales y B mollados, com estilo maravilhoso. Valência: Augustin Laborda, [1596].
BLUTEAU, Rafael. Vocabulario Portuguez, e Latino. [v.1 a 8]. Coimbra: Collegio das Artes da Cia de Jesu, [1712 a 1720].
BERMUDO, Juan. Declaracion de los Instrumentos Musicales. Madrid, s/n, 1555.
CORRETE, Michael. Les Dons D’Apollon, Methode pour apprendre facilement à jouer de la Guitarre par Musique et par Tablature. Paris: Bayard, Kach. e Castagnerie, 1762.
CRISTO, Nuno. Em defesa da cithara lusitânica: celebrando a prática da cítara em Portugal desde o século XVI. Cong. Organologia ANIMUSIC, Fundão, Portugal, 2021.
MARTIN, Darryl. The early wire-strung guitar. In: The Galpin Society Journal, United Kindom, nº 59, p. 123-137, maio 2006.
MARTINEZ, Maria do Rosario Alvarez. Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos. 1981. Tese (Doutoramento em História da Arte) – Fac. de Geografia e História, Univ. Complutense de Madrid. 1981.
MORAIS, Manuel. A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789). Nassare Revista Aragonesa de Musicología XXII, Zaragoza, v1, nº1, p. 393-492, jan./dez. 1985.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000 [1964].
ROCHA, João Leite Pita da. Liçam Instrumental da Viola Portuguesa. Lisboa: Oficina de Francisco Silva, 1752
SACHS, Curt. The History of Musical Instruments. New York: W.W & Company, 1940
TYLER, James; SPARKS, Paul. The Guitar and its Music:from the renaissance to the classical era. Nova Iorque: University Press, 2002.
ZWILLING Carin. Os instrumentos musicais na República de Platão. Artigo independente. São Paulo: ed. da autora, 2015.
YOUNG, CRAWFORD. Cytolle, guiterne, morache - a Revision of Terminology. In: The British Museum Citole: New Perspectives. Londres: British Museum, 2015.

À BEIRA DA FOGUEIRA, MAS AINDA NA CAVERNA
“A educação seria [...] a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a este órgão [o olho]; não de o fazer obter a visão, pois já a tem, mas, uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve, dar-lhe meios para isso”.
[Platão, em Politeia ou “A República”, ca.350aC.]
Viola, Saúde e Paz!
Antes de qualquer coisa, se considerar como velho e ultrapassado o Mito da Caverna de Arístocles (vulgo “Platão”), talvez deva repensar: a alegoria atravessou os séculos e é tanto estudada seriamente até hoje, por vários ramos da Ciência, quanto influencia obras de ficção como o livro Admirável Mundo Novo (de Aldous Huxley) e, no cinema hollywoodiano, de filmes como Matrix, Show de Truman eAvatar.
Já se for daqueles que desprezam livros e filmes, cuidado: pode ser que esteja ainda algemado no fundo de uma caverna, ou esteja no máximo desfrutando do conforto da beira de uma fogueira, mas sem nunca ter conhecido o sol, este que é a maior e mais verdadeira fonte de luz e calor: ficção nem sempre é apenas entretenimento!
O Mito da Caverna foi relatado no "livro VII" (ou, na prática, "capítulo 7") da obra hoje mais conhecida, nas línguas latinas, como A República. É mais citado como relativo à filosofia geral, ou à filosofia política. À filosofia geral, pode-se entender que sim, porém no mais amplo sentido possível, já que à época de Platão não existia ainda o significado que hoje damos à scientia (latim para “ciência, conhecimento”); portanto, φιλοσοφία (“filosofia”, em grego) seria “todas as Ciências”, pois seria philo (“amor” ou “amizade”) à sophia (“conhecimento, sabedoria”).
Já sobre as interpretações políticas, “república” (termo hoje entendido como um sistema de governo), teria surgido só cerca de 400 anos depois de escrito o original (!), a partir do romano Cícero, um admirador de Platão que escreveu o texto Da Republica, seguido e citado em seu outro texto, De Legibus: ambos sobre política romana dos primeiros séculos da Era Cristã (no caso, a república romana). A influência em Cícero seria tão latente que, assim como Platão, escrevia às vezes em forma de diálogos, como no caso destes dois textos citados. Platão, por sua vez, escrevia diálogos pela defesa de seu mentor, Sócrates: dialogar como meio para evolução intelectual. Platão colocou Sócrates, figurativamente (pois já teria morrido), como o personagem principal do texto a que nos referimos, mas que na verdade representaria a voz figurativa das ideias de Platão, que notadamente teria ido além do que desenvolveu seu mentor.
O título original de A República é Πολιτεία (“Politeía”, em grego), e embora o radical polis seja, não de todo equivocadamente, relacionado a “cidade”, antes e acima disso significaria “vários, diversos”. Sim, a cidade teria sido o núcleo político-econômico grego, mas também significava “coletivo, grupo de pessoas” (no caso, seria o principal coletivo, o mais importante polis). Politeía é sobre a cidade, sobre como poderia ou deveria ser uma “cidade ideal” à luz do Conhecimento mais amplo. E também não nos foge (nem a outros estudiosos, mas poucos), a percepção que aquela “cidade” fictícia também poderia ser um paralelo (artístico, no caso) com o indivíduo, com a governança que cada um deve ter de sua própria vida...
Complicou um pouco? Pois é... Trata-se de um dos textos mais discutidos em todos os tempos, e há poucos consensos a respeito. Humildemente (ou com grande dose de coragem, talvez?) ousamos afirmar que não teria sido escrito para deixar tudo claro a todos que o lessem. Sim, que Platão teria deixado claro, logo no início, que falava da cidade, física, afastando a possibilidade de estar a usar metáforas neste particular... porém... lembra que citamos que o texto todo (10 "livros"!) seria narrado por alguém que já teria morrido, à época? Isso é alegórico, fictício, artístico... Além disso, também já citamos que aqui vamos falar sobre um dos vários “mitos” utilizados por Platão... Entendeu? O cabra falou de coisas sérias, palpáveis, mas usou metáforas, mitos e alegorias (verdadeiras parábolas) para exemplificar seus raciocínios... Na sua grande obra não assumiu diretamente a autoria, ao mesmo tempo em que criticou a consolidada visão poética da época, que segundo ele poderia ser muito ilusória, imitativa... Pense: ele teria sido um maluco, ou estaria a passar alguma mensagem com essa contradição?
Nossa experiência como escritor / compositor nos alerta que “aí tem” (ou “tinha”). Algo teria por detrás das palavras escritas... E alguns analistas, pelos séculos, embora poucos, também teriam tido a mesma impressão. A nós, fica claro na leitura completa do texto. Neste caso, o fizemos em português, mas confiamos em traduções e análises sérias a partir do original em grego, das quais escolhemos as de Maria Helena da Rocha Pereira, de 1949. Ela teria consultado um respeitável conjunto de fontes, e acrescentou generosas notas de rodapé, inclusive com termos originais gregos e análises das opções de tradução feitas. Conferimos também algumas outras traduções e citações em inglês, espanhol e francês, além de checar que a portuguesa Maria Pereira é muito respeitada pelo que publicou, além de demonstrar ser pesquisadora bem metódica. Enfim: recomendamos a fonte para leitura, mas, como sempre, com muita atenção e reflexão.
A República, podemos dizer, é na verdade sobre justiça, sobre buscar a mais alta expressão do Bem, como citava Platão (“Bem”, neste caso, seria a somatória das maiores virtudes, o bem viver, o bem entender a Humanidade e a Vida). Entendemos que abrangeria a busca por praticamente todos os tipos de Conhecimento. Não teria sido por acaso que, a partir da crítica ao modelo de educação da época, baseado em “ginástica” (educação física) e “música” (e outras artes), estas duas ciências e várias formas e noções de matemática, sociologia e até astrologia foram listadas, analisadas e detalhadas no texto. E a conclusão foi que os mais aptos a governar seriam os... “filósofos”, ou seja, os “amigos/amantes de todos os Conhecimentos”! Deveria, segundo Platão, ser aplicados vastos conhecimentos aos selecionados, desde cedo, para serem governantes.
Tudo, naturalmente, conforme os entendimentos daquela época, na Grécia. E tudo também num contexto de apontar “a melhor forma de governança de uma cidade ideal” (nesta última frase, entendam que estamos a piscar um olho para quem nos lê, coisa típica de mineiro). Sim: desconfiamos até de nós mesmos...
Ora, nos permitam o atrevimento de irmos além do que a maioria aponta: o tempo todo é apontado no texto de Platão um paralelo entre como seriam as pessoas e como deveria ser a cidade ideal; portanto, ambos os assuntos são ao mesmo tempo dissecados, explicados, contextualizados... mas o tal modelo de governança de Platão sempre teria sido bem diferente do praticado, por exemplo, na Monarquia e na Democracia: Platão discorreu sobre a formação de uma parte da sociedade, selecionada até com algum eugenismo e preparada desde cedo com educação (formação científica, “filosófica”) mais ampla que a usual na época. Deste grupo de pessoas especialmente selecionadas e preparadas é que deveriam ser escolhidos os governantes... Não temos certeza em outras culturas, mas no Ocidente nos parece que este modelo nunca teria sido colocado em prática, na sua totalidade! Utopia pura, portanto, enquanto reformulação social e política... Mas e quanto à reformulação dos indivíduos, será que teria sido útil, será sido seguido algo do modelo proposto por Platão, pelos séculos?
Talvez considerando o laço consanguíneo, ou alegadas iluminações Divinas como suficientes para seleção, vê-se pela História, em muitos tipos de monarquias e impérios, herdeiros sendo doutrinados num conjunto de Ciências bem similar ao proposto por Platão... Também, ainda hoje, há um formato ocidental de preparação educacional que, na totalidade, também seria similar em tempo previsto e disciplinas sugeridas por Platão, inclusive a preparação física (infelizmente, só o ensino curricular de música teria caído de uso em algumas nações, como no Brasil).
É possível que o aprendizado de música (e outras artes) possa levar o povo a pensar demais, como vemos aqui, agora: exatamente um músico a pensar além das caixinhas! E isso talvez não seja interessante a alguns “governantes”... A música era importante não apenas até aquela época, quando seria a “arte das Musas”, e as palavras (poesias) seriam indissociáveis dos sons. Junto com a preparação física, seriam a base principal da formação das pessoas das classes mais altas. Platão, que sem dúvida considerava a música muito importante, segundo vários de seus textos, em A República ainda teria proposto o alargamento de conceito de música, com análises pormenorizadas sobre “palavras, harmonias e ritmos”. As palavras, quando muito ilusórias, seriam alvo de crítica por Platão e, no entendimento moderno, refletiriam as melodias... daí temos o conceito muito respeitado até os dias atuais, que é da música ser entendida como uma somatória de “melodia, harmonia e ritmo” (estes três conceitos estando hoje com contextos bem mais detalhados que àquela época).
Como curiosidade, e para não dizer que desta vez não falamos de flores (ops, de flores, não, de instrumentos!), Platão apontou que seria melhor usar instrumentos “com menos cordas e harmonias” que harpas, sugerindo praticamente apenas o uso de λίρες (“liras”), κιθάρες (“kitharas, cítaras”) e instrumentos de sopro como αυλός (“aulos”, tipo antigo de oboé) e συριγξ (“siringe”, tipo antigo de flauta de Pan).
Naturalmente, contextualizações específicas para política (como as de Cícero), e sociologia (como as de Max e Engels, já no século XIX), entre outras, não seriam completamente equivocadas: a visão de Platão abrangeria estes particulares... também. Só não entendemos que fosse exclusiva sobre nenhum segmento, mas a todos, em um grande conjunto.
O desenvolvimento apresentado por Platão nos parece muito claro sobre a ampliação do Conhecimento ao máximo possível, só que esse nível de complexidade não teria sido totalmente entendido, causando entendimentos superficiais pela História (isso, na nossa humilde-atrevida visão). Neste caso, há outros além de nós que também entendem que até poder-se-ia analisar pormenores, porém sempre com o máximo possível de observação aos chamados “fenômenos circundantes” de cada objeto de estudo. Não à toa, este seria o preceito fundamental da Metodologia Dialética, hoje aceita em praticamente todo tipo de estudo acadêmico / científico.
Se Platão teve coragem de questionar o sistema na época dele, mesmo após Sócrates ter sido levado à morte pelo mesmo motivo, por que nós não teríamos coragem de questionar até Platão, e mais ainda os entendimentos que terceiros fizeram sobre o que ele disse? Nos baseamos que vários apontam ser os exemplos no texto, como o Sol como fonte maior de luz, calor e conhecimentos a serem estudados, citado em vários dos “livros”. Na definição do importante conceito Dialético (que seria a maior das filosofias desenvolvidas por Platão), ele teria apontado ser necessário elevar aos poucos os olhos “do lodo bárbaro” para “as alturas”: o ensinamento seria claro de que precisamos olhar sempre para "o alto", o mais alto que for possível.
Falando em altura, a esta altura precisamos pedir desculpas por alongarmos a análise sobre o texto todo, e não apenas ao Mito da Caverna, que a princípio seria nosso tema anunciado. Já que nos aprofundamos, aplicando inclusive nossas metodologias na análise histórica dos termos (do grego, passando pelo latim até chegar ao português) e ainda inserimos pitadas de nossas experiências com textos e música, não podemos deixar de apontar alguns detalhes que pouco vimos serem abordados antes, principalmente nos resumos encontrados pela internet, até em preparatórios para vestibulares (sim, o Mito da Caverna costuma cair sempre nas provas!).
Para quem já leu ou vai ler mais sobre o tal Mito, avisamos que estamos a inserir aqui algumas percepções que não observamos muito por aí, mas que entendemos estariam de acordo com nossa checagem atenta ao texto completo onde o Mito está inserido.
Para começar, Platão (usando a fictícia boca de Sócrates), iniciou o tal "livro VII" deixando bem claro que a seguir falariam sobre a educação formal e a falta dela. Isto é fundamental para o entendimento do texto. Descreveu homens que seriam algemados “de pernas e pescoços” desde a infância, no fundo de uma caverna. Haveria uma fogueira e, entre ela e os algemados, um muro pouco mais alto que a altura da cabeça de pessoas comuns. Entre a fogueira e o muro, pessoas desfilariam carregando sobre as cabeças “toda espécie de objetos”, mas são explicitados apenas “estatuetas de homens e de animais, feitas de pedra e de madeira”. As sombras destes objetos (e só deles, pois estariam acima do muro) seriam projetadas, pela luz da fogueira, no fundo da caverna, à frente dos algemados. Entre os carregadores, cujas sombras não seriam projetadas, alguns falariam algumas coisas, conversariam, e as vozes seriam ouvidas pelos algemados (achamos interessante que Platão citou até o eco, comum em cavernas).
[Pausa para uma risada que demos quando estávamos a ler: Glaucon, que seria um dos irmãos de Platão e estaria na posição de dialogar diretamente com Sócrates neste trecho, a esta altura teria dado uma “tirada” sensacional: “Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses que tu falas!...”; ao que Sócrates, bem menos moleque que nós, só teria respondido sério: “Semelhantes a nós!”, dando a entender que todos seríamos como os algemados. De certa forma, quando mais novos, seríamos mesmo...].
Então, “Sócrates via Platão”, ou vice-versa, seguiu descrevendo que, portanto, os algemados só conheceriam sombras e suas vozes, não seres de verdade (esta seria a condição de quem estaria algemado, na semiescuridão da ignorância, da falta de Conhecimento).
Seguindo na narrativa, foi proposto que "um alguém" fosse solto, e obrigado a se endireitar, andar e ir olhar pelo outro lado do muro, para o desfile de figuras e para a fogueira: este ficaria aparvalhado, os olhos doeriam por causa da luz direta e, olhando para as estatuetas, não as reconheceria por serem, então, muito mais nítidas que as sombras que até então conheceria... ("aquele liberto custaria a entender a 'farsa'”, diríamos nós). Após, se então o arrastassem para fora da caverna, onde a luz do sol seria ainda mais desagradável às primeiras vistas dele, levaria mais tempo ainda que da primeira vez até poder vislumbrar tudo, o mundo real...
[Achamos estranho que a primeira reação do liberto não fosse brigar com os que os mantinham presos e nem procurar alguma coisa para quebrar os grilhões dos companheiros, mas... a alegoria não é nossa, então, que siga o “estranho quadro, de estranhas pessoas”...].
Platão deu ênfase ao que aconteceria com a visão, ou seja, com os olhos daquele “selecionado” que teria tido contato com o mundo exterior: continuando a narrativa, se aquele voltasse ao fundo da caverna, novamente sua visão seria prejudicada, pela readaptação após ter visto a luz do sol. Com tal visão “cheia de trevas”, se novamente fosse julgar ou descrever as sombras, como fazia antes, causaria risos e seus colegas considerariam que não valeria a pena sair da caverna, pois isso estragaria suas vistas (como teria estragado a vista do selecionado). Se alguém tentasse soltá-los e arrastá-los para fora também, aqueles, se pudessem, matariam quem tentasse demovê-los (de suas “visões tradicionais” sobre o que era verdade ou não, diríamos nós, mas ninguém nos está a perguntar nada...).
[Podemos, entretanto, testemunhar que, figurativamente, o mesmo teria acontecido pelos séculos até hoje, basta que se perceba que é o que normalmente acontece com os que não descobrem a “luz do sol”, que seria o Conhecimento, e se baseiam nas “sombras do fundo da caverna”, que é a falta de ou rejeição ao Conhecimento].
A conclusão de Platão é muito interessante, posto que exorta aos que tiverem contato com a verdadeira luz que sejam inteligentes para entender a complexidade do processo todo, inclusive as fases necessárias para adaptação dos olhos na “passagem da luz à sombra e da sombra à luz”. Isso, se quiserem fazer o Bem, ajudar a educar os outros. E, conforme destacamos na abertura, entender que a educação (o Conhecimento, a inteligência) não é uma dádiva que introduzimos a quem não a tem, mas que apenas se auxilia, a quem já teria olhos, a olhar para os lugares certos e forma mais adequada.
É belo, coerente, verdadeiro e muito útil o tal Mito da Caverna, afinal.
Acabamos, então? Ainda não. Pedimos licença para ir um pouco além, mas na mesma alegoria: dificilmente pesquisamos alguma coisa sem acrescentar reflexões e cruzamentos com mais dados. Acontece que à época de Platão ainda não haveria, entre outras coisas, a ganância institucionalizada que tomou conta de muitos ocidentais a partir da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX. A visão de produção e comercialização em série, hoje chamada Capitalismo, sem dúvida mudou o mundo. E nós, atrevidos, entendemos que por isso caberia um adendo na alegoria original...
Nossa colaboração na extensão da reflexão é que, aproveitando a alegoria já existente de uma “fogueira”, na caverna, diríamos que de uns tempos para cá motivações políticas, ególatras e/ou financeiras nos trariam uma situação a mais: as algemas até podem ter sido retiradas, mas muitos prisioneiros são como se tivessem sido levados apenas até a beira da fogueira. Ali, “no quentinho”, teriam muito mais luz que no antigo fundo da caverna, e já não teriam os enganosos desfiles de estatuetas: então, até ali já estaria bem melhor... “Pra que buscar o sol? Luz demais, besteira isso, querer demais. Temos que ser mais humildes!”.
Isso porque, hoje em dia, muitas pessoas já saberiam ler algumas coisas, superficialmente, e até escrever “malemal” o nome: não está bom? E estes, agora tão “mais sábios” que antes, consultando-se entre si, pela "sabedoria popular" concordariam que já está ótimo! Já dá pra assinar cédula de eleição, e o contracheque da “merreca” que a eles fosse destinada. Já pensou? Quem antes só conheceria sombras e ecos confusos, agora trabalha e até ganha salário! E “sabe” até ler e escrever? Tá bom demais! Que não venham com essa de querer conhecer um tal de “sol”, que só serve para atrapalhar as vistas, agora que já estariam a ver muito melhor que antes...
É isso que nós vemos hoje em dia, também quanto aos estudos sobre instrumentos musicais (que inter-relacionamos a várias outras Ciências)... mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em:Revista USP - Artigo 214286

ORQUESTRAS PELOS TEMPOS
Viola, Saúde e Paz!
O hábito de se chamar de “orquestra” a grupos de violeiros tocando um mesmo tipo de instrumento (e quase sempre da mesma maneira) “poderia talvez” ser considerado um atestado público de falta de Conhecimento. Uma vez que já estamos a alertar há alguns anos, e que alguns grupos já começam a evitar a gafe, seguir insistindo nela “talvez pudesse” ser considerado atestado público de escolha por ignorar o Conhecimento.
“Poderia, talvez”. São palavras carinhosamente escolhidas porque, a princípio, parece uma ação inocente, que simplesmente teria “brotado” do povo. Um exemplo bem expressivo vem de nossa experiência como consultor para evento que postulou em 2017 e efetivamente conquistou em 2018 o Recorde Mundial de “maior grupo de violas tocando junto”. Explico: os organizadores e participantes gostariam que o recorde fosse, e assim seguem divulgando, de “a maior orquestra de violas do mundo”; mas, na verdade e oficialmente, nem os ingleses do Guiness, nem outra instituição séria pelo mundo, engoliriam tal disparate: a importante marca é de fato de The largest viola caipira ENSEMBLE (“maior ensemble [grupo, naipe] de viola caipira”).
Alguns chegam a defender que usar o nome orquestra faria parte da “tradição”, o que é curioso: o que significaria “tradição”? (Se é que se pode questionar este conceito usado de forma tão conveniente, e que parece ser entendido como “sagrado”)... Mais curioso ainda é defender o uso de um conceito difuso com outro conceito mal aplicado... Isso não seria, talvez, um certificado de “pós-graduação” em ignorar Conhecimento?
Já para o que é sério, a Ciência, na prática nunca houve conceitos indiscutíveis, nem os que seriam mesmo “sagrados” conforme alguma religião, lembrando que, a princípio, apesar de vários comportamentos se assemelharem, não entendemos que o caipirismo seja oficialmente uma religião (ainda?). Só, com certeza, não é uma cultura ancestral comprovável. Optamos por definir como um entendimento coletivo, a partir de uma interpretação particular de uma possível cultura, que agrada a muitos egos e bolsos desde o início do século XX. O respeito ao caipirismo, entretanto, é o mesmo que temos por qualquer religião: cada um creia no que quiser, afinal, nossas leis protegem a chamada “Liberdade de Credo” (essa é uma prosa que já tivemos por aqui algumas vezes).
Já tendo desenvolvido e divulgado em prosas passadas as incoerências científicas do caipirismo, com fartas bases em fatos e dados (tanto aqui, em diversos Brevis Articulus, quanto em nosso livro A Chave do Baú), nos pareceu um desafio interessante aprofundar desenvolvimento sobre as orquestras e seus contextos históricos. Bora fazer limonada boa, a partir de um limão podre?
A começar, como sempre, com o histórico da palavra: orchestra seria a versão em latim de orkhestra (ὀρχήστρα, em grego). Em ambos os casos significaria o lugar, o espaço físico onde se posicionava o grupo de músicos que acompanhava óperas, peças de teatro, etc. Alguns teatros ainda mantem este reservado, logo a frente do palco, às vezes como um “fosso”, um pouco mais abaixo, às vezes no mesmo piso do público. Antes destes grupos serem observados assim, ainda na Grécia antiga, teria sido o nome do espaço em semi-círculo (!) onde se posicionavam grupos de cantores e dançarinos (orkheomai, em grego, já seria “dançar”). Curiosamente, aqueles grupos mais antigos seriam chamados khoros (em grego), depois chorus (em latim), que após passar pelas línguas antecessoras chega ao português como “coro” ou “coral”, mas tendo assumido o significado apenas de “grupo de cantores” (só alguns mais velhos lembrarão de quando se falava "o coro de dançarinos"). Os dançarinos, portanto, “teriam dançado nessa”, e o nome “orquestra” virou só “grupo de músicos” (por convenção linguística séria, coerente com registros musicais e históricos)... mas não é “qualquer grupo de quaisquer músicos”!
Além de ter um significado bem específico, não é uma convenção linguística só popular, muito menos regional. Pode-se dizer que a partir da segunda metade do século XVIII, o modelo atual das orquestras veio se desenvolvendo com reconhecimento e seguimento em, talvez, todo o mundo, principalmente pelos chamados “eruditos” (ou estudiosos). Esta ascensão e consolidação se deu principalmente a partir da Itália (violas de arco e da gamba, século XV), seguidas pelo surgimento e de uma longa fase de transição até a definitiva ascensão do violino, a partir da citada segunda metade do XVIII, chegando ao atual naipe das cordas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo.
Esta fase de cerca de 300 anos, inclusive, teria sido pouco aprofundada nos estudos ocidentais até agora (pelo menos, nós fizemos vários aprofundamentos que nunca tínhamos visto serem citados antes) e, por ter relação direta com as violas, se não contamos ainda, seria uma boa a ser contada num próximo Brevis Articulus... seriam outras prosas...
Um fato é que praticamente “o mundo todo” sabe que orquestras são grupos de músicos e instrumentos bem diversos, que tocam música estudada, chamada “erudita”. Um dos principais períodos da música erudita (entre 1730 e 1820) foi denominado “Clássico” e, como em algum tipo de “maldição do uso equivocado de nomes para coisas musicais”, popularmente se vê muito as pessoas chamarem de “música clássica” a qualquer música tocada por orquestras... O “ser clássico”, na boca do povo, tomou o sentido de “ser especial, tradicional, sofisticado”... mas, naturalmente, só é utilizado assim por quem não tem conhecimento musical e tem muita preguiça...
Os instrumentos das orquestras são agrupados por semelhança, no que em português chamamos “naipes”: tem o naipe das cordas, o naipe das madeiras (flauta, oboé, fagote, etc.), o naipe dos metais (trompete, trompa, trombone, tuba, etc.), naipe das percussões...
Uma orquestra poderia hoje até ser entendida como um conjunto de naipes... “naipe”, palavra que possivelmente teria sido originária da língua árabe (os etimologistas ainda não apontam com certeza), é uma palavra interessante, pois só em português seria utilizada, figurativamente, para a música: em espanhol, catalão e na possível origem árabe estaria relacionada apenas aos naipes das cartas dos baralhos.
Chatíssimos em sempre querer ir um pouco além, só criticamos a alcunha “naipe das cordas”, e a chamamos, quando podemos, de “naipe dos arcos”, pois há outras “cordas” possíveis, como as harpas e, talvez, até os pianos, pois na essência entendemos que pianos sejam cordas percutidas por teclas... mas isso é assunto para outras prosas...
O que importa agora: as “orquestras de violas”, como se apresentam até então, seriam, no máximo, um “naipe”. Mesmo assim, os naipes de verdade denominam grupos de instrumentos semelhantes, mas não todos iguais: observa-se que há variações, no mínimo dos mais graves aos mais agudos. Esta variação graves-agudos, que é característica de toda orquestra, também não teria se consolidado assim por acaso. Na verdade, já viria desde antes de se chamarem “orquestra” os grupos de instrumentos / instrumentistas, desde muito antigamente.
Quer falar de tradição de verdade? Então vamos falar de séculos passados, com registros atestáveis, sem nada inventado por conveniência.
Por exemplo, podemos começar dos textos bíblicos: no livro profeta Daniel (capítulo 3, versículos 5, 7, 10 e 12) há quatro vezes a descrição de um grupo de instrumentos da época do Rei Nabucodonosor. Checando a Vulgata Online (versão atual em latim da Bíblia católica), se observa: [...] in hora qua audieritis sonitum tubæ, et fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ, et universi generis musicorum, cadentes adorate statuam auream, quam constituit Nabuchodonosor rex (“... quando ouvirdes o som do [tipo antigo de] tromba, e do [tipo antigo de] oboé, e da cítara, e da sambuca, e do saltério, e da sinfonia, e de toda espécie de instrumentos, prostrai-vos e adorai a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu”).
Apesar do foco em cordofones, acabamos por estudar bastante todos estes nomes, daí chegamos a esta tradução e ao entendimento sobre esta sequência de instrumentos: teria se referido não a um desfile, mas à forma mais usual de execuções musicais antigas (cerca de 2000 anos antes de Cristo, neste caso). A saber: abre-se com dois sopros de diferentes tamanhos (grave/agudo), depois três cordofones também diferentes entre si e quanto à sinfonia, entendemos seria uma referência à descrição feita em seguida, “toda espécie de instrumentos”, juntos... mas pode ser entendido como nome de um instrumento musical, que emitiria vários sons ao mesmo tempo. Alguns entendem até que já haveria um tipo de gaita-de-foles, mas estas só começariam a ser citadas séculos depois.
O trecho já teria sido estudado por vários estudiosos, pelo menos desde o século VI, alguns com opiniões sem muito sentido à luz dos atuais conhecimentos. Concordamos com análises de musicólogos do porte do inglês Francis W. Galpin e, principalmente, do alemão Curt Sachs, este que chegou a apontar uma versão com os nomes dos instrumentos em aramaico (uma das muitas línguas antigas que ele teria pesquisado, para entender melhor os instrumentos musicais). É do livro dele The Hystory of Musical Instruments (na edição de 1940, ver linhas 83 a 85) que indicamos conferir análise bem embasada (apesar que precisamos discordar do entendimento dele sobre sambuca). O citado trecho: [...] as soon as you hear the sound of the qarnay the masroqitay the qatros the sabka the psantrin the sunponiah y and all kinds of zmaray you shall prostrate yourselves (a tradução para português seria a mesma antes apontada a partir do latim).
Um outro exemplo que escolhemos viria do século IX, de livro-poema do religioso alemão Otfried de Weissenburg, o Liber Evangeliorum (“Livro dos Evangelhos”), escrito em dialeto alemão antigo, com títulos e algumas inserções em latim. Apesar do tema ser o mesmo bíblico, com a liberdade artístico-poética ele inseriu os versos: [...] Sih thar ouh ál ruárit, thaz organa fuárit, lira ioh fidula, ioh mánagfaltu suégala, harpha ioh rotta, ioh thaz io guates dohta que, contrariando traduções convencionais, após consulta a diversas fontes e somando nossa visão musicológica, traduzimos como “[Em si], nessa altura todos chegavam perto, a organa conduzia, lira e fidula, e uma suégala múltipla, harpa e rota, a glória sempre boa”.
Ao século IX, portanto, a figura da organa já apareceria: um cordofone grande, de caixa cinturada, tocado por duas pessoas; um acionaria, por uma manivela, uma roda que friccionaria três cordas e, das três, uma apenas teria notas modificadas em um braço longo, via um sistema de teclas controlado por uma segunda pessoa. Já escrevemos sobre este antecessor das violas aqui nos Brevis Articulus, são prosas passadas... mas possivelmente este nome organa teria surgido nesta poesia por uma interpretação equivocada de Otfried quanto aos termos sambuca ou mesmo sinfonia citados antes pelo profeta Daniel, na Bíblia. Realmente, só bem depois, aqueles nomes viriam a ser sinônimos de organa, mas não antes, à época de Nabucodonosor. Equívocos de contexto histórico assim infelizmente são mais comuns do que se imagina.
Analisando a sequência dos versos de Otfried, temos mais dois cordofones: lira e fidula, esta última que afirmamos sem medo, embora pareça que só nós tenhamos observado, que seria uma contração métrico-poética de fidicula, termo genérico usado pelos romanos para cordofones pequenos; depois, suégala (que seria um tipo de flauta com três tubos), e depois mais dois cordofones: harpa e rota (esta, um tipo de harpa portátil, sem caixa, só que menor que a harpa). Não se teria evidência ainda de instrumentos tocados por arco em território europeu, embora muitos estudiosos entendam que aquela fidula poderia ter sido a ancestral mais direta da viola de arco... e sim, somos chatos, sempre apontamos estes equívocos, pois nossas pesquisas são reveladoras.
Outro exemplo, também um longo poema, seria o Libro de Buen Amor (“Buen Amor” referia-se à um governante, como Nabucodonosor foi). Escrito pelo padre castelhano Juan Ruiz "Harcipreste de Hita", a narrativa de um desfile; na verdade, não acreditamos que possa ser real, posto que muito extensa e variada, mas é uma das fontes mais ricas em citações de instrumentos musicais antigos. Alguns detalhes acrescidos, descontados os contextos poéticos, ajudam a entender muito da história dos cordofones. É dele, por exemplo, que observamos a narrativa diferenciatória vihuela de arco / vihuela de pendola que, somada a outras fontes, apontam a origem da atual bivalidade do nome “viola”, em português, tanto para dedilhados quanto para friccionados por arco (que seria uma curiosidade que só portugueses e brasileiros manteriam viva até os dias atuais, além da ajudar a apontar a origem de nossas violas dedilhadas). Isso também são prosas já contadas aqui...
Citado e transcrito por diversas fontes, indicamos especialmente o doutoramento de Rosário Martinez Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos, de 1981, pelo vasto acervo de fontes, as quais pudemos conferir e atestar praticamente na totalidade. Na verdade, nenhum estudo que conseguimos descobrir teria sido suficientemente abrangente, principalmente quanto a violas dedilhadas: espanhóis não costumam citar portugueses, alemães e ingleses pouco citam fontes em línguas latinas (ou se as citam, às vezes traduzem mal), etc. Desta forma, perdem não apenas as colocações dos demais estudos, como o acesso das fontes daqueles. É por isso que conseguimos descobrir verdadeiros tesouros, pois juntamos tudo em um único banco de dados, e conferimos cada tradução em cada língua desde os registros mais antigos que conseguimos, somando outros tipos de visões científicas e ainda nossas vivências, que também são variadas. Ah, sim, claro: também submetemos ao crivo de nossa obsessiva chatice pessoal.
A Dra. Martinez, que teria investigado nada menos que três diferentes códices (manuscritos) com segmentos do poema, também apontou que Juan Ruiz aparentava ter tentado fazer, de fato, uma lista de todos os instrumentos musicais utilizados na época (pelo menos, todos que citou teriam sido observados também em outras fontes). A relação em forma de poesia também não teria sido aleatória: embora não no formato dos atuais naipes de orquestra, Ruiz teria organizado, por estrofes do poema, instrumentos que se “acoplariam” bem (pegando emprestada uma expressão espanhola utilizada por Martinez). Primeiro: atambores, guitarra morisca, laud (“alaúde”), guitarra latina, rabé (“rabeca”), rota, saltério, vihuela de pendola; depois: canno (tipo de flauta), arpa, rabé morisco, tamborete, vihuela de arco. Seguiriam: panderete, organa, dulçema (“dulcimer”),albogon (tipo de flauta),baldosa, mandurria (pequenos cordofones dedilhados árabes) cinfonia, odreçillo (possivelmente gaitas grandes, ou até organas); e ainda: trompas, annafiles (tipo de flauta),atarabales (atabaques, tambores).
Observamos outras listas, em diversas línguas, além de dezenas de citações que investigamos, onde “violas” (e variações nas diversas línguas), na maioria das vezes foram citadas junto a outros instrumentos bem diferentes. A conclusão mais tranquila de se apontar é que instrumentos musicais sempre foram agrupados por suas diversidades tímbricas, de texturas e de formas de execução. É por isso que não nos estranha nada que as orquestras de verdade tenham evoluído desta forma, pois é comprovadamente mais agradável ao ouvido humano que graves, agudos, texturas e outras diferenças se completem, se misturem. Este é, por exemplo, um dos principais tipos de estudos que utilizamos hoje para criar arranjos para orquestras e podemos citar, entre nossos “livros de cabeceira”, o Orchestration, de Walter Piston, publicação de 1969.
Já o que nos estranha, e muito, principalmente ao confrontar conhecimentos e registros históricos, é por que alguém chamaria de “orquestra” um grupo homogêneo de instrumentos... Seria para dar a impressão de ser “chique”? Seria algum tipo de arrogância, um “se acharem” tão bons quanto uma orquestra? Não temos como comprovar. Só podemos afirmar que, por tradição de verdade, não haveria evidência (basta ler um pouco para descobrir)... Restaria, portanto, talvez (sempre talvez), inventar uma “tradição”.
Em defesa dos caipiristas, podemos dizer que até teriam de onde herdar este tipo de uso indevido de um nome, posto que portugueses até hoje tem o hábito cultural de não levar “ao pé da letra” alguns. Portugueses têm o que entendemos como péssimo costume, por exemplo, de há séculos usarem genéricos como “moda” (para qualquer tipo de música) e “viola” (para qualquer tipo de cordofone). Este último costume que, inclusive, entre os séculos XV e XVIII contextualizamos como a verdadeira origem de nossas violas, que inicialmente eram apenas um nome genérico, por opção nacionalista... Mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
 REFLEXÃO DE MANO
REFLEXÃO DE MANO
Viola, Saúde e Paz!
Devemos nosso aprofundamento de hoje a prosas sempre muito produtivas que temos com um amigo “mais que irmão”: Jefferson Cária, violeiro mineiro, ganhador de festivais de música caipira, que enquanto não tem seu maior talento dignamente reconhecido vai se divertindo como profissional e professor universitário da área de Engenharia Eletrônica.
O leitor acha que estas prosas são sempre de concordância mútua? Engana-se ledamente, está na verdade muito longe disso... As prosas mais construtivas são sempre quando colocações são discutidas, discordadas, duvidadas. Está nos relatos Históricos, pode conferir: a Ciência sempre evolui mais quando é questionada, pois é obrigada a se explicar, a se expressar melhor, a se aprofundar em argumentos e dados.
Uma questão surgida foi: “Por que a dupla Cacique & Pajé seria das poucas a se apresentar com duas violas, quando a maioria usaria viola + violão?”
É uma boa pergunta. “Cabe pesquisa”, como costumamos dizer, mas pesquisa leva tempo, investimento. Podemos, entretanto, trazer aqui alguns apontamentos como um resumo ou levantamento “pré-pesquisa”, ou seja, vale pelo menos um Brevis Articulus como este (lembrando que, portanto, este assunto não foi levantado no livro A Chave do Baú,só alguns dos dados que vamos apontar também estão por lá). Um ensaio de resposta ao desafiador Jefferson, a quem agradecemos pela atenção, consideração e apoio, já de anos...
Para começo, utilizamos já na apresentação da questão a expressão “das poucas” ao invés de afirmar que seria a única dupla a fazer assim. Na verdade não conhecemos outra que também o faça ou tenha feito, mas sem um amplo levantamento sobre todas as duplas que já passaram por este Brasil, afirmar não seria cientificamente correto (nem honesto).
Uma primeira reflexão lógica, básica, é que não existe nenhuma lei contra fazê-lo, e assim sendo, a arte é livre. Seria uma escolha pessoal, particular da dupla. Somado a isto, há uma noção de mercado bem comum, até intuitiva, de que, para sobressair-se em qualquer ramo é bom investir em alguma característica de diferenciação. Isso, pensando que a opção teria sido tomada desde o início da dupla, que hoje não precisa mais de subterfúgios, pois é das mais longevas ainda em atividade. Não esquecemos o impacto causado por se apresentarem com grandes cocares na cabeça e outras caracterizações indígenas, coerentes com o nome escolhido para a dupla: sem dúvida, são únicos, diferenciados. Desde que tivemos a honra de selecioná-los, em 2010, quando coordenávamos o Prêmio de Excelência da Viola, já percebemos que ali havia uma noção de marketing artístico, mesmo que visceral, intuitiva. O fato de serem realmente descendentes de indígenas é irrelevante: a questão é que optam por explicitar isso, de utilizar como diferenciador no mercado.
Naturalmente, por atuarem no estilo chamado “caipira”, há de aparecer alguém com alguma história sobre a origem da opção de uso de duas violas nas performances. Alguém (cujo nome nem sempre é revelado) vai alegar que conhece a dupla, que sabe a “verdadeira verdade”, que eles teriam confessado em alguma conversa ou entrevista... O que pode ser mesmo verdade, os dois podem ter confessado, ou até interpretado o que eles entendem que teria levado a fazer tal escolha. Quando relatos assim tem certo jeito de “lenda”, ficam famosos e são amplamente divulgados como verdade (mesmo se não forem), entrando para a grande coleção de relatos semelhantes em que se baseia o chamado caipirismo. Este que, pela total ausência de comprovações históricas anteriores a 1910, em si não passa de uma grande lenda, surgida de uma interpretação genial de um empresário visionário, que teria intuído que embalar bem uma lenda gera bom interesse de público. Um tipo de destaque que significa ótimas vendas (de apresentações, palestras, aulas, discos, etc.). Como se vê, cientificamente há coerência e jurisprudência da presença de marketing visceral no estilo, desde sua invenção, só que àquela época já seria habitual o uso de “viola com violão”.
Curioso, portanto, que Cacique & Pajé não obedeçam à risca a chamada “tradição”... E mais curioso ainda é que não parecem nunca ter sofrido retaliações por isso! Normalmente, só duplas muito famosas parecem ter direito de alterar alguma coisa na considerada “tradição sagrada”, como Pena Branca & Xavantinho, cujas versões de músicas da MPB passaram a ser muito bem aceitas... Mas só depois que se tornaram nacionalmente famosos, por meio de uma grande gravadora, pois antes sofreram preconceito por estarem a “trair a tradição”... E Tião Carreiro (maior artista de uma grande gravadora), o único até hoje que teria criado um ritmo novo, mas aceito sem discussão entre outros ritmos que seriam todos de uma “tradição ancestral”, que remeteria aos primórdios brasileiros: a chamada “raiz” (raiz rasa, pouco profunda, vez que o pagode teria sido inventado em 1959)...
No caso de Tião, o entendimento coletivo reza que ele teria sido um super “extra-classe”, um exímio cantor e instrumentista... quase divino, talvez, para alguns? Bom, isto justificaria tudo, e então, pela lógica, Cacique & Pajé estariam entre os “divinos” (pois tão famosos quanto nunca teriam sido). Quanto ao fato de que o ritmo inventado por Tião, o “pagode de viola”, deu e continua dando até hoje muitos dividendos financeiros, é pouco citado no meio; mas aqui e ali se ouvem relatos de “professores de viola” de que a grande maioria de seus alunos são atraídos, no começo, pelo pagode de viola (e que muitos só tocariam isso, se pudessem)... Definitivamente, portanto, podemos considerar a presença marcante de ações de marketing no estilo (mesmo que de marketing visceral) o que não é ilegal nem incomum em nenhum segmento de mercado. Afinal, somos um país capitalista, então, “está tudo certo”.
Até aqui, o leitor já deve ter percebido que partimos de uma premissa para exemplificar comportamentos de análise e pesquisa mais comuns, corriqueiros, óbvios, que qualquer pessoa pode fazer. Acrescentando, ainda no sentido de pré-pesquisa, alguns dados históricos menos conhecidos, podemos chamar a atenção para curiosos fenômenos que observamos desde os mais remotos registros da História dos cordofones europeus. São muito curiosos, embora não sejam, de forma alguma, lendários, mitológicos (ou seja, não tem o mesmo atrativo comercial comum das lendas e mitos).
Ciência não é marketing, não deve ser feita para atrair, distrair ou enganar pessoas com histórias agradáveis e distorcidas para conseguir algum destaque de vendas. Além disso, dá muito mais trabalho pesquisar verdades do que inventar lendas... Ao contrário, uma coisa que afasta as pessoas é se ater apenas ao que seja comprovável, que é a principal diferença entre a Ciência e as lendas, invenções, mitos, interpretações e similares.
O apontamento de verdades comprovadas causa às vezes algum desconforto, principalmente a quem tem foco em vender algo, ou desenvolveu com o tempo afinidade quase religiosa por um assunto, e vê suas lendas mais queridas serem questionadas, desmentidas, “descomprovadas”... Mas entendemos ser apenas uma má impressão inicial: a Ciência historicamente não costuma atrapalhar vendas. Senão, por exemplo, como continuaríamos a ter a época de Natal como a mais lucrativa do ano, se nunca foi comprovado cientificamente qual o dia de nascimento do Cristo? Na verdade, o próprio Aniversariante se torna secundário no processo natalino, e o que se planta é o curioso (e lucrativo) costume de se presentear todo mundo, exatamente na data de aniversário de Um que teria pregado, entre outras coisas, o desapego aos bens materiais...
Assim é o marketing capitalista, historicamente, e assim tende a continuar. E ele pode se adaptar, ou seja: com o tempo, a tendência é que até dados históricos corretos possam entrar no contexto (assim esperamos), e até ajudar a alavancar mais vendas. Num meio de tanto marketing visceral e intuitivo, estima-se que, por esperteza, logo alguns observarão que a verdade pode vender melhor, e talvez até mais do que o costumeiro embasamento em lendas criativas, agradáveis, mas sem registros.
Voltando aos curiosos fenômenos históricos que observamos, entre eles está a característica dos cordofones populares sempre poderem “contar suas histórias”, contar fases históricas que já teriam vivido, fomentando a descoberta científica de dúvidas às vezes ainda não respondidas, mas que podem ser, se mergulhamos fundo e com honestidade nos fatos e registros.
As duas violas de Cacique & Pajé, por exemplo, nos despertam um período histórico em que o violão ainda não existiria, quando, portanto, teria sido comum serem utilizadas duas violas (ou “dois instrumentos chamados de viola”, como na verdade era o que mais acontecia). O surgimento do violão no Brasil, aproximadamente a partir da década de 1820, está cientificamente apontado por alguns pesquisadores, tendo se consolidado como cordofone portátil mais utilizado a partir de 1840 aqui, assim como praticamente em todo o mundo ocidental. As evidências foram apontadas, por exemplo, pelo Dr. Carlos Azevedo & Souza, em pesquisa feita em 2003 sobre anúncios de aulas; pela Dra. Márcia Taborda, em pesquisa de 2004 sobre a história do violão, onde levantou peças remanescentes de museus, literaturas e anúncios de jornal; pelo Dr. Renato Varoni, em artigo publicado em 2015 sobre incidências dos termos “violão” e “viola” em 10 romances do século XIX e até por gaúchos como Cezimbra Jacques, que apontou que a viola desapareceria dos registros por lá a partir de 1840, em função da ascensão da sanfona (ou acordeon, ou gaita-ponto).
A partir destes e outros apontamentos, atestamos as origens de cada informação e acrescentamos mais algumas centenas, como matérias de periódicos de todo o Brasil, do acervo da Biblioteca Nacional, hoje disponíveis para consulta pela internet. Não temos dúvida: antes de 1820 não haveria ainda violões no Brasil. Somado ao fato de que o nome "cavaquinho" também só tem registros a partir de 1820, podemos apontar que duplas semelhantes, anteriores a esta data, provavelmente só usariam “viola com viola”, como Cacique & Pajé teriam resolvido fazer mais de um século depois.
Será por isso que sempre a dupla teria sido bem aceita, apesar de diferentes? Será porque eles valorizariam uma tradição anterior? Não cremos, pois o que apresentamos é uma das postulações científicas contextualizadas pela primeira vez em nossos trabalhos, sequer os pesquisadores listados teriam somado suas informações coincidentes para intentarem checar tudo e ir além no desenvolvimento; mas que é um embasamento muito melhor do que não citar nenhum, ou alegar alguma “divindade” aos artistas, achamos que é...
E por que ambos tocariam, e por que não uma viola com uma flauta, ou rabeca, por exemplo? Ou até um violão e um saxofone, como a dupla Jararaca & Ratinho, que em 1922 já fazia muito sucesso no Rio de Janeiro, com o mesmo estilo de anedotas, patacoadas e canções rancheiras imortalizado por Cornélio Pires?
Esta reflexão complementar já nos traz vários aspectos históricos bastantes interessantes. Como sempre, funciona mais ou menos assim: “pergunte às violas, que elas são capazes de responder, pois são testemunhas da História”...
A começar, nas execuções específicas de modas-de-viola, o comum é apenas um dos instrumentistas tocar, fazendo na viola as dobras melódicas em terças que espelham o canto, tudo sincronizado. Sobre esta técnica, que as lendas rezam (ajoelhadas no milho) que seria invenção brasileira, já discorremos aqui em outros Brevis Articulus que já existiria, pelo menos, desde o século XII, ao norte da península britânica, segundo relatos bem detalhados do historiador Giraldi Cambrensis (ca.1146-ca.1223), em seus manuscritos chamados Descriptio Kambriae.
Não seriam apenas modas-de-viola a serem tocadas no repertório, mas sem dúvida era o jeito de tocar mais antigo e peculiar. Destaca-se entre os demais ritmos. Cornélio Pires, inteligentíssimo e já muito atento a detalhes de marketing, não apenas as introduziu nas primeiras gravações em disco, como, se não tiver inventado, enfatizou o nome “moda-de-viola” (outra prova de grande visão de marketing, que é usar boas marcas, e investir na divulgação delas). Assim, forçou-se a presença de pelo menos uma viola na formação (se não, não seria moda “de viola”, concorda?). Ainda outra boa noção de marketing é que o estilo precisava ser o mais exclusivo possível, então toda a interpretação passou a indicar contextos que apontariam para o interior paulista (como a viola, diferente do que usavam os nordestinos Jararaca & Ratinho).
Não interessava que a moda-de-viola já existisse há séculos, ou que o termo “caipira” já fosse usado pelo Brasil com outros significados e nem fosse indígena originalmente: interessava que tudo fosse apresentado, “embalado” no contexto de um produto exclusivo, diferenciado. Desde os primeiros livros o resultado de vendas teria sido excelente, e Cornélio manteve a defesa da ideia e até ampliou seu conceito para outros produtos, como discos, a partir de 1929 (afinal, seria segundo ele uma “cultura”, algo muito abrangente). E assim fez durante cerca de 35 anos!
Agora há pouco indicamos de que seriam dois cantores em dueto, por uma verdadeira tradição, milenar; e a partir de Cornélio, as “regras da cultura” (mesmo as que não tem registro de terem existido antes), passaram a ser ditadas por ele, pela interpretação que ele defendia: entre elas, a de uma dupla tocasse e cantasse. Pode ter havido de fato, no início do século XX, uma tradição do chamado “canto de mano”? Sim, naturalmente. A sobrevivência desta expressão popular, inclusive, aponta isso e faz sentido cientificamente, pois vozes de “manos” (irmãos) tendem, por semelhança de DNA, a serem mais fáceis de serem timbradas juntas. A timbragem de praticamente qualquer tipo de voz ou instrumento musical pode ser adaptada para soar bem em conjuntos, via bastante treino; mas sendo vozes “irmãs” já se parte de princípio mais favorável. Esta ação instintiva também foi citada naquela mesma remota fonte, do século XII, e hoje é estudada cientificamente, em aulas de interpretação.
Ao largo dos séculos anteriores, entretanto, não teria sido tradição que dois instrumentos semelhantes tocassem em dupla. Ao contrário, instrumentos de timbragem e tipo de execução diferente se complementariam, possivelmente já desde os gregos. Podemos afirmar (pois conferimos) que pelo menos desde os tempos de Plautus (230aC.-180aC), passando depois por Cícero e diversos outros romanos, já haveria fartas citações de duetos instrumentais de fides (cordas) e tíbias (sopros) e pode-se afirmar que àquela época seria esta a “tradição”. Já nos também fartos registros de poesias trovadorescas (entre os séculos XII e XIII), em diversas línguas, observamos constante emparelhamento de dedilhados e friccionados por arco, que seguiu do século XIV ao XVI inclusive com estes dois tipos diferentes de instrumentos tendo o mesmo nome em algumas línguas (como geige, vihuela e a própria viola).
Esta última descoberta já denunciamos com nossos estudos, inclusive de ser a origem das bivalentes “violas” que temos até nossos dias, em português, e que seriam a verdadeira origem de nossas violas dedilhadas, não chamadas assim em outras partes do ocidente desde o século XVII.
Já no Brasil, conforme citamos, não conhecemos registro de dois instrumentos iguais em performances de dueto que sejam anteriores ao início do século XX, então já sob a batuta de Cornélio Pires. Pode haver, mas duvidamos que sejam muitos, senão pesquisadores teriam observado, como nós apontamos várias evidências desde cerca de 2000 anos atrás. Quando é mesmo tradição, e não uma criação de marketing, há numerosos registros (escritos, esculpidos, desenhados, etc.). No caso do século XX, há centenas de jornais disponíveis para consulta, onde atestamos a atuação de Cornélio, mas só a partir dele, para vários detalhes hoje considerados “tradição”.
A introdução do violão, após 1840, atesta mais uma vez a força do carácter comercial na equação, posto que conseguiria desbancar uma das violas do caipirismo (é muito significativo). Na verdade, o violão alçou lugar de cordofone portátil preferido para quase todos os estilos, já tendo surgido com herança das chamadas “guitarras barrocas”, de grande apelo comercial à época delas. Heranças como aprimoramentos de técnicas de construção, métodos, grande fama pelo território europeu, etc. Na verdade, “violão” ou “viola francesa” são apenas nomes que os portugueses criaram para as guitarras espanholas, numa estratégia portuguesa que também seria instintiva, mas contrária às normais de marketing, pois o que portugueses faziam desvalorizava a marca correta “guitarra”, por esta ser um investimento dos espanhóis.
O mais interessante, e que nunca vimos ninguém citar, é que o domínio do violão no estilo caipira também aponta um sentido de recuperação, mesmo que tímido, da verdadeira tradição histórica, que é de instrumentos se complementarem por timbragens diferentes: o violão complementa com seus timbres mais graves as notas mais agudas das violas. Esta tendência não seria aleatória, assim como a diversidade tímbrica das orquestras (as verdadeiras orquestras, não os grupos de violas assim chamados): também desde os mais remotos registros de instrumentos tocados em grupos, citados até na Bíblia, se observa continuamente que a variedade de timbres sempre pareceu ser o mais agradável ao ouvido humano (hoje, cientificamente atestado), e podemos até detalhar o assunto em outro Brevis Articulus, assim como outra parte da mesma excelente “reflexão de mano” com Jefferson Cária: instrumentos escavados em peça única, desde as violas de cocho até os charangos... mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Publica aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286

ATUALIZE-SE: AS VIOLAS ESTÃO SEMPRE A EVOLUIR
Viola, Saúde e Paz!
Instrumentos chamados de “viola” são testemunhas da História do Brasil: estiveram presentes, por exemplo, desde relatos de Anchieta e outros jesuítas (século XVI); poesias de Gregório de Mattos (século XVII); histórias de vida como as do Padre Mestre, Domingos Barbosa e do luthier Domingos Vieira de Vila Rica (a partir do século XVIII); narrativas de estrangeiros por grande parte da Colônia (século XIX). Seus primeiros estudos viriam desde Theodoro Nogueira (século XX) até doutoramentos como os de Ivan Vilela e Roberto Corrêa (século XXI).
Embora desde dezembro de 2021 tenhamos disponibilizado, traduzido, transcrito e contextualizado registros como os acima, entre centenas de outros, em nossa monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil, ainda são poucos os interessados em contar e valorizar a verdadeira história de instrumentos que, quer seja antes (como “apenas um nome diferente”) ou já depois (como verdadeiros cordofones populares consolidados), ajudam tanto a contar a nossa História. A lenta atualização não altera, entretanto, dois fatos: um deles, que as violas romperam os séculos apesar de intempéries (como serem confundidas, terem seus registros e sua importância negligenciados e outras); e outro fato é que elas vêm sempre evoluindo e refletindo aspectos sociais, junto com a própria História deste país de diversidade, de multiculturalidade.
Temos modéstia alguma em afirmar que novos tempos se iniciaram a partir de nossa iniciativa em buscar, alcançar e atestar revelações, como a contextualização das violas conforme a História dos cordofones europeus. Esta pesquisa inédita, que abrange registros nas línguas envolvidas desde o latim do século II aC., apontou que o que sempre existiu por aqui, assim como em Portugal, é uma Família de Violas dedilhadas.
Entretanto, sempre afirmamos nossos pioneirismos “no plural”, pois devemos muito a grandes estudiosos que corroboram nossos procedimentos científicos. E, embora possa parecer estranho, a quem ainda não percebeu, que falar de violas no Brasil é assunto pouco levado a sério, seguimos pontuando e registrando, sempre que podemos, cada conquista, cada revelação, cada ineditismo.
A intenção é muito clara: buscamos facilitar o trabalho de estudiosos sérios do futuro, para que não precisem passar as dificuldades que passamos e, oxalá em tempos mais evoluídos que os de hoje, possam ser mais ouvidos do que nós somos. Pois a tendência, pelas evidências, é que ainda haverá violas no futuro. E nossa esperança é que possam ser vistas com o grande potencial histórico, cultural, turístico e econômico que têm. Grandes “tesouros”, que é como as tratamos em nosso livro A Chave do Baú.
Assim, seguindo a História das violas, chegamos ao ineditismo destes nossos Brevis Articulus semanais:na verdade e na prática, um tipo de “oficina científica a céu aberto”. Aprofundamentos, reflexões e embasamentos em dados reais, além de explanação e comprovação continuada e on line da metodologia científica aplicada. E também alguma dose de zoação e de provocação, além de fazermos registros históricos atualíssimos, contemporâneos: registros que em nenhum outro lugar estariam a ser divulgados e comemorados como deveriam.
A própria existência de uma coluna semanal com conteúdo cientificamente embasado sobre violas é uma grande novidade, e indica evolução. Mais ainda, por estar a ser divulgado em portais internéticos tradicionalmente ligados ao caipirismo. É sem dúvida uma evolução apresentar: incentivo à leitura, difusão de Conhecimento científico e defesa de Patrimônio onde nunca teria sido feito antes. Além disso, feito onde a maioria dos admiradores da viola navegam. Já este marco histórico devemos, principalmente, à paciência e grande visão de dois baluartes: André Viola, de Uberlândia (MG), coordenador do portal VIOLA VIVA, e Cléber Vianna, de Salvador (BA), do portal CASA DOS VIOLEIROS. Ambos, há décadas defendendo a divulgação e valorização das violas. Ambos, comprometidos e apaixonados pelas violas, como nós também. A diferença é que os dois dedicam-se, com maior foco, ao caipirismo.
Eu ouvi palmas? Deveria. O amigo que agora lê, por favor, pare onde estiver e bata palmas por estes dois corajosos, dedicados e visionários batalhadores. Merecem muito.
Já aprofundamos e dissecamos aqui nos Brevis Articulus, por exemplo, estudos inéditos mundialmente, como os curiosos casos das organas, das violettas, das origens das modas-de-viola e outros. E testemunhamos acontecimentos históricos de 2023 como o 21º Festival do Pinhão de Cunha (SP),comsemanas de espetáculos onde violas foram estrelas obrigatórias; mais uma edição do Rio de Violas, no Rio de Janeiro; e a primeira iniciativa de salvaguarda das violas portuguesas como Patrimônio Imaterial, nos Açores, entre outros acontecimentos que vamos citando e comemorando.
Há mais, muito mais. Neste ano, pela primeira vez na História, a Família das Violas Brasileiras foi representada de forma completa, ou seja, todos os modelos representados em palcos, e outros eventos assim devem seguir acontecendo. É uma pena que uma evolução moral e ética ainda não acompanhe os responsáveis, que estão a “fazer história” e se esquecem de dar o crédito devido a quem primeiro teve a visão. Quem, corajosamente, enfrentou todos (de doutores a “achistas” em geral) para atestar e divulgar a verdadeira História das nossas violas?
Para a História (por exemplo, para aqueles estudiosos sérios do futuro que citamos), ficarão os fatos, com os registros das datas. Nada passa despercebido a quem é sério com registros históricos, a História se conta de forma clara e honesta há séculos, para quem a queira ler sem invenções, distorções, lendas.
Temos ainda para contar que vários grupos de violeiros pelo Brasil já estão a abandonar a ideia pouco correta de se autoproclamarem “orquestras”; que também nestes grupos já surgem maestros (de verdade), que estão a estudar opções de regências (de verdade) para as especificidades das músicas tocadas por violas; que alguns violeiros já estão a entender que, além das suas excelentes performances instrumentais, pode ser útil à comunidade (e até mais lucrativo a eles mesmo) também apresentar algumas performances cantando, pois somos um país muito cantante, o canto atrai público e interesse. E até alguns adeptos ao caipirismo mais conscientes estão a pensar melhor antes de simplesmente repetir “ladainhas” infundadas, relacionadas às violas, que dominaram a cena nos últimos 50 anos.
Especificamente, até o caipirismo tem sido rediscutido: isso é normal em praticamente todos os assuntos e deveria ser sempre assim... O que não é normal é o caipirismo não ter sido questionado antes, publicamente, sendo tratado como se fosse dogma religioso.
Agora... Adivinha quem foi o primeiro maluco a ter coragem de questionar apontamentos sobre o caipirismo? Sugerimos checar diversos dos Brevis Articulus já publicados: encontrar-se-ão facilmente os embasamentos, as fundamentações carinhosamente levantadas a respeito (mas nem sempre citadas com tanto carinho, pois gostamos de provocar). Entendemos que o caipirismo nunca deixará de existir, nem deixará de ser lucrativo, e possivelmente vai continuar sendo fundamentado mais na base da “fé” que qualquer outra coisa. Só que é preciso ressaltar que foi sem dúvida uma ideia genial, mas de um excepcional vendedor, portanto, ser ligada ao comércio faz sentido. Querer que tivesse sido “cultura ancestral”, por outro lado, pode ser chamado de equívoco, ou mentira, engodo, esperteza comercial, arrogância, egocentrismo, falsa inclusão social... Escolham a definição que preferirem.
O que importa é que já se começa a entender as violas com mais coerência histórica, que vai muito além do caipirismo e é muito mais importante. Em tempo: temos vários amigos, além de conhecemos pessoas às quais admiramos e respeitamos, que amam o caipirismo: só o que esperamos delas é que sejam sempre verdadeiras, com embasamentos honestos e que não se deixem enganar por fontes equivocadas. Nada mais nem nada menos que isso... A não ser, claro, que não nos levem a mal e possam nos perdoar, pois é só Ciência, nada pessoal.
Por fim, para hoje, temos alegria em anunciar que mais um marco histórico, que entrará para a Histórica na data de 23 de agosto de 2023: pela primeira vez nossas descobertas foram apresentadas ao universo acadêmico, especificamente em uma aula optativa para diversas grades / áreas científicas. Este tipo de aula já é tradicionalmente ofertado via projeto VIVA MÚSICA, da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais.
Vez que aquela conceituada Universidade mantém dois tipos de cursos de Música (“orquestral” e “popular”), revelaremos parte de nossas descobertas a partir das origens comuns (os nomes) tanto das violas de arco quanto das violas dedilhadas. Possivelmente seja a primeira vez que elas serão apresentadas juntas, em um mesmo estudo, e agora, numa mesma aula. Vamos contextualizar o desenvolvimento histórico que culmina no curioso fato de dois instrumentos tão diferentes terem se consolidado com “um mesmo nome”, uma questão que, se foi levantada antes, ainda não teria sido esclarecida.
A aula está disponível, gratuitamente, em nosso Canal Youtube, acesse clicando aqui:
É uma conquista para as violas, todas elas: representa uma nova maneira pela qual precisam ser vistas. Atrevidamente, mas de forma embasada, as violas levantam discussão sobre estudos já feitos pelo mundo e requisitam seu merecido espaço nas narrativas oficiais, desde as importantíssimas abordagens acadêmicas até o conhecimento pela população em geral. Nem o Brasil, muito menos nem o resto do mundo conhecem direito as violas brasileiras. Isso já vem de séculos, com um agravante de distorção por motivações comerciais nos últimos 50 anos. O caminho da descoberta será, portanto, longo; mas cada passo é um passo à frente, podemos e devemos celebrar. Até onde elas vão chegar serão outras prosas... Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286

A VERDADEIRA ORIGEM DO ESTILO “SERTANEJO UNIVERSITÁRIO”
“[...] A música sertaneja tem certas características de melodia de simples assimilação. [...] E tem o som da viola caipira, que já está no “iê-iê-iê”, também com este negócio de violão de 12 cordas que os Beatles usaram muito...”.
[Rogério Duprat, em entrevista ao Jornal do Brasil, 01/12/1970, nº 204, p. 38].
Viola, Saúde e Paz!
O assunto é já bastante discutido: há dezenas de opiniões de curiosos, historiadores, sociólogos, antropólogos... É citado em artigos independentes e científicos... Mas não encontramos análises musicológicas embasadas cientificamente por dados de época e contextos histórico-sociais, por isso, resolvemos abordá-lo no livro A Chave do Baú e, neste Brevis Articulus, apresentamos aprofundamentos, com referências, que os leitores podeam confirmar se quiserem. Desenvolvemos a origem a partir das violas e do caipirismo, pontuando desde o ano de 1966, como quase ninguém teria observado e relatado antes.
“Quase ninguém” porque, entre cerca de uma centena de textos que checamos, apenas no artigo Raízes Caipiras da Música Sertaneja (do paranaense Rodrigo Mota, publicado em 2011), encontramos uma citação vaga de que: “[...] no Festival da Viola promovido pela TV Tupi de São Paulo, em 1970, com a participação do maestro Júlio Medaglia, procurou-se dar um novo tratamento harmônico, melódico e temático à música sertaneja, inspirado, de certa forma, nas perspectivas abertas pela música Disparada, de Théo de Barros e Geraldo Vandré”.
Neste bom artigo há também citação às motivações do maestro Rógerio Duprat, conforme trechos como o destacado na abertura. Motivações que na maioria das vezes nem é apontada por estudos acadêmicos. Entretanto, não há no artigo o que chamamos de "desenvolvimento científico”, até porque, para Mota, a ligação da hoje chamada “música sertaneja universitária” com Disparada não seria clara, concisa.
Ligação entre a música Disparada e o surgimento do estilo sertanejo universitário? Não seria “forçar a barra”, já que tantos estudiosos não teriam visto isso?
Antes de responder via nosso desenvolvimento, não podemos deixar de dar crédito ao Dr. Roberto Corrêa, que na sua tese Das Práticas Populares à Escritura da Arte, de 2014, fez um bom apanhado sobre o fenômeno envolvendo a tal música Disparada; até porque o sucesso dela teria sido um dos cinco pilares do suposto “avivamento da viola caipira na década de 1960”, defendido pelo pesquisador. Já citamos e comprovamos por numerosos registros de época que, na verdade, a nomenclatura “viola caipira” ainda não estaria consolidada, antes, ao contrário, o que se caracterizaria desde pelo menos 1959 até meados da década de 1970 seria uma dúvida pública sobre o melhor nome para as violas, entre “viola brasileira” e “viola caipira”, com a consolidação só tendo vindo a ser atestável a partir de meados da década de 1970. Apontamos inclusive todas as citações ao termo no período, em nossa monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil, em dezembro de 2021.
Corrêa, entretanto, percebeu e citou muito bem dois aspectos importantes: primeiro, o envolvimento de Vandré e do Trio Novo (Théo de Barros, Airto Moreira e Heraldo do Monte, principais compositores e intérpretes de Disparada), com a multinacional Rhodia (Companhia Química Rhodia Brasileira), que à época promovia com aqueles artistas uma grande tournée nacional chamada Mulher, este Super-Homem. Corrêa também percebeu e discorreu que Duprat, em 1970, estaria às voltas com a divulgação do disco Nhô Look e que, bem mais que um simples lançamento, Duprat na prática dava a ideia de uma intenção, que pode ser resumida numa espécie de “dar nova roupagem”, ou “um novo olhar”, em todos os sentidos, para a música sertaneja (“caipira”) que já existia, de estilo em tudo muito simples e rústico. Desde o título do disco, inclusive: “nhô” remete ao falar interiorano; e “look” é termo em inglês usado no mundo da moda até os dias atuais, significando “o olhar”, ou seja, estar bem bem vestido, aos olhares das pessoas.
Dois aspectos chamaram a atenção e nos levaram a escolher o trecho destacado na abertura para ilustrar: no princípio, tanto o estilo “antigo” quanto o “mais moderno” seriam chamados de “música sertaneja”. E que, embora Duprat devesse ter bom conhecimento de organologia (ciência que trata da classificação e descrição de instrumentos musicais), por algum motivo teria apontado em entrevistas instrumentos bem diferentes (violas, violões, violões 12 cordas, guitarras) como se fossem a mesma coisa, sendo que nunca foram.
A intenção de Duprat teria sido claramente comercial: a música caipira, alavancada de 1910 a 1945 com maestria e muito labor pelo visionário empresário artístico Cornélio Pires, seria ainda, na década de 1960, uma realidade interessante em termos de vendas (de shows, palestras, livros, discos, etc.). E nenhum sucesso de vendas passa despercebido dos concorrentes...
O que teria passado despercebido, porém entre pesquisadores, é que não teria sido iniciativa individual de Duprat uma “repaginação estética” da música caipira visando agradar a um público maior: por trás do disco e do “movimento Nhô Look” estaria a mesma multinacional Rhodia, como na época de Disparada.
Cabe uma explicação: a empresa química, além de cosméticos, lançou no mercado brasileiro tecidos com materiais sintéticos como o nylon e opoliester, por isso o investimento em eventos ligados à moda (roupas, “looks”, mas também cosméticos, que a empresa também fabricava). E promoveu diversos eventos ligados à música pelo atrativo de público, às vezes junto com desfiles, como festivais, tournées nacionais e outros. É relativamente fácil entender os tipos de ações de marketing pelo próprio site oficial da Rhodia, porém, lá não constam a tournée de 1966 (com Vandré e o Trio Novo) nem a de 1970 (com Duprat). Uma significativa característica destas duas tournées é que haveria apresentações de duplas caipiras (ou “sertanejas”, como ainda eram chamadas) e de músicas também utilizando violas nas formações, mas em outras “roupagens”, outros tipos de ritmos e interpretações. Estas informações colhemos de diversas fontes como o livro A Era dos Festivais, de Zuza Homem de Mello (que viveu e trabalhou com música na época), além das já citadas. Acrescentamos ainda, e em destaque por serem mais recentes (mas abrangendo outras fontes, mais antigas) e com visões que partem de outras regiões do país: a dissertação Música Caipira e Música Sertaneja, depositada no Rio de Janeiro em 2005 por Elizete Santos e o artigo Da Cultura Popular ao Erudito, publicado na Bahia em 2017 por Lucas Schafhauser e Ângela Fanini.
Fato é que Disparada foi um grande sucesso, para o qual o conhecido envolvimento político de Vandré só veio a colaborar e, até hoje, faz parte dos repertórios de violeiros, de adeptos da MPB em geral e, naturalmente, da música nordestina, o que efetivamente é, embora até seus autores a tenham citado como uma espécie de “moda de viola que não deu certo”. O título original, inclusive, teria sido Moda para Viola e Laço, que indica que falar de violas, à época, seria interessante comercialmente. Disparada, já com uma “nova roupagem” de uso de violas e seguindo uma trilha de sucesso comercial da música nordestina (que passava por Luiz Gonzaga), “bombou” (como se diria hoje)... e isso também não passaria despercebido ao mercado.
Sobre origem e entendimentos distorcidos das modas-de-violas, recomendamos, como sempre, lerem o livro A Chave do Baú ou o Brevis Articulus que já fizemos, sendo que, podendo comprar o livro, melhor, pois ajuda a manter os aprofundamentos que fazemos aqui de graça...
Sempre recorremos a registros de época e a contextos histórico-sociais que apontem reflexos em instrumentos musicais populares, por questão metodológica e de honestidade, clareza, embasamento científico. O que a virada para a década de 1970 aponta é que fatores mundiais já vinham apontando mudanças nas músicas populares desde o fim da segunda Guerra Mundial (1945): os Beatles estavam em plena evidência, assim como o movimento hippie e o rock com suas guitarras elétricas, como no Festival Woodstock (1969). No Brasil, teria sido época de ditadura ou “governo militar”, um período politicamente conturbado que duraria até 1985. Em 1967 também já tinha ocorrido por aqui a “Passeata contra as Guitarras”. Após o movimento Jovem Guarda (onde guitarras elétricas já eram utilizadas), seguiram-se outros, onde guitarras também estariam em destaque, como o “Iê-iê-iê” e o Tropicalismo. Neste último movimento, inclusive, já teria havido a participação ativa do próprio maestro Rogério Duprat, daí seu nome surgir para a implantação da ideia de um “novo sertanejo”, que vendesse bem também para as classes média e alta. Vender bem, sempre foi a motivação, e não era nem é ilegal.
A empreitada com Duprat não teria tido, aparentemente, o sucesso esperado, mas logo em seguida, a partir de 1972, uma dupla que anteriormente teria sido “caipira” como as demais despontaria com várias características do novo formato proposto: Léo Canhoto & Robertinho. Estes teriam iniciado a migração das formações de bandas para “guitarras, baixo e bateria” (como os Beatles e tantos mais que os seguiram), abdicando da antiga formação com violas e violões. No novo estilo, várias características dos movimentos anteriores (Jovem Guarda, Tropicalismo, Iê-iê-iê), como o romantismo das letras, além de outras aproximações com a cultura estadunidense nas roupas, nos cabelos compridos e até com esquetes durante os shows (similares a cenas de filmes sobre o Velho Oeste, inclusive com sons de tiros).
O sucesso teria sido imediato, com outras duplas logo aderindo (como Milionário & Zé Rico, que até no visual e figurino eram muito parecidos). Outros estrangeirismos foram sendo integrados, como influências da música mexicana e sul americana, e assim surgiu o estilo de maior retorno comercial no Brasil, que hoje se chama “sertanejo universitário”.
Musicologicamente, a presença ou não de violas nas formações diferencia claramente os dois estilos, entre outras diferenças que normalmente são mais citadas, como as temáticas das letras. Claramente se observa que uma comoção social de grande impacto mundial aconteceu (as chamadas “Grandes Guerras”, 1918 e 1945), e que instrumentos musicais populares teriam reagido (como observamos ter sempre acontecido em toda a História Ocidental dos cordofones, a que nos dedicamos a estudar a fundo). No caso do Brasil, a ascensão comercial de músicas com guitarras, em substituição a violas e violões.
De igual nos dois estilos, praticamente só resistiria até hoje a predominância do canto duetado em terças, que em outro Brevis Articulus já detalhamos: teria registros pelo menos desde o século XII, na península britânica, tendo chegado até Portugal e de lá até aqui por causa da influência celta e da atuação do Trovadorismo medieval ibérico (em si, este último, outro fator histórico-social de grande impacto). Não: as modas-de-viola e os duetos não teriam sido originais nossas, sequer dos portugueses, que também cantavam modinhas em duetos terçados.
Alguns autores que aparentemente se arriscam a escrever sobre música sem nunca terem tocado, nem estudado, nem procurado ajuda de quem conhece melhor o assunto, querem inferir que o estilo chamado caipira teria “evoluído” para o sertanejo universitário, ou que seriam a mesma coisa, ou duas pequenas variações de um mesmo estilo. Seriam equívocos lamentáveis ou, como Duprat teria feito, interesses comerciais? Difícil provar o que realmente seja.
Já outros autores tentam inferir que só o sertanejo universitário teria cunho mais comercial, e que o caipirismo seria “puro”, natural, cultural... Esquecendo-se que, na verdade, a interpretação de uma suposta “cultura caipira ancestral” não tem registro anterior a Cornélio Pires (ao contrário, o termo “caipira” tem registros de uso com outros significados, mas só desde o século XIX, e inclusive nunca teria sido original indígena). “Esquecem-se” também que Cornélio foi um estupendo vendedor, e que a ele se devem as principais escolhas de músicas que seriam “caipiras” ou não, no início.
O caipirismo é na verdade um entendimento coletivo sem comprovação histórica, com boa resposta comercial, amparado na religiosidade e no ego de vários aficionados. Uma prova do aspecto comercial dominante também no estilo é o ritmo “pagode de viola”, que teria sido criado só em 1959 e que, graças aos investimentos de gravadoras, alavancados no grande artista Tião Carreiro, hoje se alinha entre os principais “ritmos caipiras”... O caipirismo não seria ancestral? Como um ritmo novo pode ter se tornado o mais celebrado? E porque outros novos ritmos novos não apareceram? As respostas podem ser observadas na sequência dos fatos: o “pagode de viola” (uma “nova maneira de tocar viola”), teria surgido em tempo de resposta comercial a um “novo toque de violão” surgido, na chamada Bossa Nova... mas centenas de matérias de jornais apontam que, à época, as violas ainda eram chamadas contundentemente de “violas caipiras”, e as gravadoras não usavam este nome nos discos e divulgações. Isso só veio a acontecer, e com muita ênfase, a partir de meados da década de 1970, ou seja, após a ascensão do Léo Canhoto & Robertinho e suas guitarras. Apesar da temática das letras (normalmente o mais abordado por estudiosos) das músicas de Tião e outros “pagodeiros” da época apontarem ligação com o caipirismo, a princípio este mercado não teria chamado toda a atenção das gravadoras (e sim o sucesso da Bossa Nova). Só após o sucesso do “novo sertanejo” as ações (de resposta comercial) se voltariam para a viola “caipira” (com ênfase neste sobrenome, aproveitando o mesmo sucesso comercial anterior de Cornélio Pires usado pelos concorrentes). Já abordamos isso mais em detalhes em outro Brevis Articulus aqui, o “Como um modelo se tornou viola caipira”.
Nós, que não ficamos nem em cima, nem em nenhum dos lados comerciais do “muro”, afirmamos: tanto o sertanejo “universitário” quando o sertanejo “dito raiz”, se forem “culturas” em algum possível entendimento, seriam culturas inventadas e mantidas principalmente por interesses comerciais. Nunca teriam sido culturas surgidas naturalmente, muito menos ancestrais (fatos, registros e contextos apontam as épocas claramente). São ações toleradas pelas leis, que acontecem há séculos pelo mundo ocidental e que por isso, cientificamente, também fazem parte dos contextos históricos, junto a outros comportamentos sociais. E que venham (mais) ameaças e rejeições por afirmarmos e comprovarmos isso, tudo bem: todos temos que morrer um dia...
O investimento em favor do “pagode de viola”, que teve renovado e comprovado contexto a partir de 1976 com o início da utilização do nome “viola caipira” em discos e músicas de Tião Carreiro (LP É isso que o povo quer) foi fator preponderante para a consolidação deste “sobrenome” para o principal modelo da Família das Violas Brasileiras (Família que é postulação científica nossa)... mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em:Revista USP - Artigo 214286
 OS “CHUTES” DE CORNÉLIO PIRES
OS “CHUTES” DE CORNÉLIO PIRES
[...] Por mais que rebusque o “etymo” de “caipira”, nada tenho deduzido com firmeza. Caipira seria o aldeão; neste caso encontramos no tupy-guarany “capiabiguara”. Caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto: neste caso temos a raiz “Caí” que quer dizer: “Gesto do macaco occultando o rosto”, “Capípiara”, quer dizer o que é do mato. “Capiâ”, de dentro do mato: faz lembrar o “capiáo”, mineiro. “Caapi” – “trabalhar na terra, lavrar a terra” – “Caapiára”, lavrador.
[Cornélio Pires, Conversas ao pé do fogo, 1921]
Viola, Saúde e Paz!
Para começo de prosa, neste Brevis Articulus não ousamos fazer qualquer análise realmente etimológica, no significado correto deste termo: etimologia é o estudo sobre a origem e evolução das palavras e não ousaríamos tentar fazer pelo fato de não termos formação nem competência para tanto; mas fazemos, outrossim: apuração, organização e análise de registros históricos de palavras e seus significados. Um princípio científico básico utilizado também por etimólogos, para o qual entendemos estar habilitados por já fazermos há algum tempo, no âmbito da musicologia mais ampla, com fontes em latim, occitano, catalão, francês, alemão, inglês, espanhol e português.
No caso, demonstramos que nossa metodologia é eficaz também para palavras do tronco linguístico tupi-guarani: uma metodologia que nada mais é que A Chave do Baú, nome de nosso livro mais recente, onde a utilizamos para contextualizar, pela primeira vez, todos os modelos de violas brasileiras com a História dos cordofones ocidentais. Se já temos a chave, então, “simbora” descobrir mais tesouros deste baú?
Nossa motivação para este “estudo paralelo” (ou extensão da aplicação da metodologia) veio de desafios lançados pelo genial empresário cultural paulista Cornélio Pires (1884-1958), que além do trecho destacado na abertura, teria apontado que notáveis “lexicographos” brasileiros “[...] poderiam pescar regionalismos de verdade nas páginas que se seguem” (páginas, no caso, de outro livro dele, chamado As estrambóticas aventuras do Joaquim Bentinho, publicado em 1924).
Cornélio indicou “lexicógrafo”, que na verdade significa “organizadores de conjuntos de palavras em publicações como dicionários”; porém, como as línguas indígenas são antigas e o objetivo seria atestar possível origem do termo “caipira”, o mais correto seria levantar registros de época, pois nunca se deve analisar o passado com base no que é conhecido (dito, escrito) no presente. A ciência correta, portanto, seria a etimologia e, curiosa e acertadamente, Pires utilizou no início do trecho o termo “etymo”, que em grego antigo e em latim significaria algo como “verdadeiro, original”.
Estes pequenos equívocos (ou confusões com os significados de palavras) teriam sido graves se cometidos por um estudioso, mas é sempre bom lembrar: Cornélio Pires nunca teria sido um estudioso, um cientista de verdade. Inclusive, jamais teria se autodesignado assim (ao contrário disso). Há quem gostaria que tivesse sido e, de certa forma “endeusando-o”, até “forçam a barra”, mas as publicações dele eram artísticas. Era tão consciente da liberdade com a qual podia escrever que, no mesmo trecho citado por último, de 1924, afirmou que de fato o que narrava seriam “casos e mentiras”. Genial vendedor, agitador cultural incansável, visionário em várias coisas... Mas estudioso de verdade, cientista, Cornélio nunca teria sido. Basta observar com atenção.
Seguindo, então, na observação da série de pequenos equívocos (ou seriam “sutilezas geniais”?), logo após afirmar “não ter deduzido nada com clareza”, listou uma série de termos que, conforme sublinhado no destaque da abertura, afirmou: “encontramos no tupy-guarani”... Chamou-nos muito a atenção esta afirmação: quais dicionários ou quais conhecedores do idioma Cornélio Pires teria consultado? E chamamos do nome moderno “chutes” porque quem não teria “deduzido nada com clareza”, mas ainda assim tentou apontar significados, estaria, confessadamente, “chutando”...
Cornélio não precisava citar fontes e nunca teria se dado a tal tipo de trabalho, pois, como enfatizamos, suas publicações eram artísticas, livres, “não-científicas”... Por isso, inclusive, chama ainda mais a atenção o fato de dezenas de publicações, até os dias atuais, citarem apontamentos de Cornélio como se fossem verdade científica... É no mínimo estranho isso...
A própria interpretação da existência de uma “cultura caipira ancestral”, defendida com afinco por ele, é largamente apontada como se fosse verdade científica, há décadas, por grandes estudiosos e outros tipos de pessoas sérias... Tivemos a curiosidade até de perguntar ao “oráculo moderno”, o senhor Google: “Quais os maiores sociólogos brasileiros de todos os tempos?” e a resposta aponta que todos, sem exceção, confirmariam (aparentemente, sem discutir sequer uma linha!) a interpretação lançada por Cornélio Pires. Vários outros estudiosos, de outras áreas (antropólogos, folcloristas, musicólogos) também fazem o mesmo.
Ora... Se é apoiado por tantas pessoas sérias, então devemos facilmente confirmar por registros de época tudo o que disse Cornélio, certo?
Hum... não é assim não... Por isso costumamos chamar de “entendimento coletivo”: é um entendimento secundado por muitos, mas que, historicamente, não se comprova ter realmente existido antes de Cornélio. Pior: vários registros e contextos histórico-sociais apontam diferente... É estranho, muito estranho...
Chegamos a identificar que a mais remota (e muitíssimo citada) referência de certo “aval científico” teria vindo do sociólogo carioca Antonio Candido, no livro Os Parceiros do Rio Bonito, publicado em 1964. O livro teria sido fruto de uma tese de doutoramento, depositada em 1954, mas que entre dezenas que conferimos, ninguém cita a tal tese (da qual também não conseguimos acesso): citam tão somente o livro. Um livro onde, curiosamente, sobre “cultura e região caipira” só se observam citações curtas, de pouquíssimas linhas, como se fossem conhecimentos de “notório saber”, ou seja, que nem precisariam ser detalhados... Não há desenvolvimentos científicos a respeito e, às vezes, nem citação clara de autores e/ou fontes sobre estes conceitos... Isso seria muito estranho para uma tese de doutoramento. Num livro escrito por um doutor entende-se que seria aceito, em boa-fé, que a origem teria sido aprovada por revisores sérios e de grande conhecimento, de uma grande universidade. Mas, sinceramente, não é também um pouco estranho?
Explicamos nossa estranheza: “teses” são muito utilizadas em várias áreas do Conhecimento. O procedimento normatizado (e muito digno, na nossa opinião) seria: identificar a problemática, levantar fontes para embasamento e então desenvolver cientificamente as justificativas da tese apresentada. Se for feito a partir de algum conceito já estudado antes, o correto é descrever pelo menos de onde a ideia original teria vindo (desenvolvimentos, estudo, autor, ano, etc.). Entendemos que tanto o caipirismo quanto a chamada “região caipira” seria difícil explicar, posto não serem embasados em textos científicos, estudos... mas... nem tentar explicar nada? Pois se aqui, em textos que até poderiam ser livres como os Brevis Articulus, apontamos e explicamos tudo, é questão de retidão, de não querer enganar ninguém (quem duvidar, basta seguir as trilhas e concluir por si mesmo). Espera-se que os “doutores” e demais estudiosos fazem no mínimo isso, expliquem e apontem os dados que atestam que o caipirismo teria existido antes de Cornélio Pires.
Enfim... Por tantas informações e procedimentos “no mínimo estranhos”, e porque o termo “caipira” se consolidou, a partir da década de 1970, como sobrenome do principal modelo de nossas violas, resolvemos tomar de empreitada o levantamento e checagem de fontes que Cornélio Pires poderia ter consultado. Em especial, os termos destacados na abertura, uma vez que em nenhum dicionário sério de tupi-guarani eles constam como Cornélio os citou (inclusive vários hoje disponíveis pela internet). Não observamos ninguém que tenha apontado mais este outro fato “estranho”, um grande mistério, que tantos aficionados pelo caipirismo não parecem se importar, ou sequer teriam percebido. Ninguém se manifesta nem depois que começamos a atestar e apontar publicamente estas estranhezas. O assunto parece tabu, ou “dogma”... um mistério!
Bom... Mistérios, nós gostamos bastante de pesquisar: são nossos preferidos, pois costumam envolver tesouros perdidos! Resolvemos então levantar considerável lista de fontes que teriam sido publicadas antes e que Cornélio poderia ter consultado: de relatos de quem conviveu com indígenas até dicionários. Além de publicações em português, conseguimos alguns com paralelos em latim e espanhol e até um livro inteiro que teria sido traduzido para tupi-guarani, chegando até ao Dialeto Caipira, publicado pelo primo de Cornélio Pires, Amadeu Amaral, em 1920. Curiosamente, parece que os primos não se afinavam plenamente, no início... mas depois chegaram a ser sócios numa editora. Hoje em dia, “estudos” de Amadeu Amaral são constantemente citados em argumentos a favor de Cornélio.
Juntamos e checamos palavra por palavra, comparando ao que apontou Cornélio, cerca de duas dezenas de fontes, desde o século XVI, a saber:
Do Principio e Origem dos Índios do Brazil(Fernão CARDIM, 1584); Arte da Gramática da Língua mais usada no Brazil (José de ANCHIETA, 1595); Arte de Grammatica da Lingua Brasilica (Luis FIGUEIRA, 1687); Arte de la Lengua Guarani (Antonio Ruiz de MONTOYA, 1724); Diccionario Portuguez, e Brasiliano - “DPB” (criação coletiva, 1795); Diccionario da Língua Portugueza (Antônio de Moraes SILVA, 1831); Voyage dans le district des Diamans et sur le littoral du Brésil(Auguste de SAINT-HILAIRE, 1833); Novo Diccionário Critico e Etymológico da Língua Portugueza(Francisco Solano CONSTÂNCIO, 1836 e 1858); Diccionario da Lingua Tupy chamada Lingua Geral (Antônio Gonçalves DIAS, 1858); Chronica da Companhia de Jesus (Simão de VASCONCELLOS, 1865); Glossaria Linguarum Brasiliensiun (Carl MARTIUS, 1867); O Selvagem (José Vieira COUTO DE MAGALHÃES, 1876); “Manuscripto Guarani” e “Vocabulário” (Baptista Caetano de ALMEIDA NOGUEIRA, 1879); Voyage a Rio-Grande do Sul (Brésil) (Auguste SAINT-HILAIRE, 1887); Diccionario de vocabulos brasileiros (Henrique BEAUREPAIRE-ROHAN, 1889); O Dialeto Caipira (AMADEU AMARAL, 1920).
Consideramos ainda o Vocabulário Elementar da Língua Geral Brasílica, de José Joaquim Machado de Oliveira, publicado já em 1936, mas que, na verdade, é também um apanhado de várias citações encontradas nas fontes acima.
Apesar de nossas atentas e dedicadas buscas, o máximo que encontramos foram aproximações. Só que elas, no conjunto, nos dão uma boa visão do que Cornélio teria feito:
- caí foi realmente citado, secundária e pontualmente, como nome de macaco (assim como cairara e caíra) e também como adjetivo (envergonhado, medroso), mas seu principal significado, fartamente apontado, remeteria a “queimar” e derivados ([CARDIM], 1881 [1584], p.80-86; DPB, 1795, p.66; MARTIUS, 1867, p.37; ALMEIDA NOGUEIRA, 1879, p.64). Indicações como estas últimas, entre parênteses, significam “pode ser conferido em...”, ou seja, aí estão as trilhas: duvidou, é só conferir. O que se atesta é que se caí fosse uma “raiz”, seria relativa a fogo, queimada ou similar. Cornélio, por algum motivo, apontou como “raiz” um significado menos utilizado... talvez, um apelido de algum tipo de macaco de pelo avermelhado como fogo? Seria mais ou menos como, ao ter várias bolas de futebol à disposição, escolher uma preferida, por algum motivo, para chutar...
- caapi, caa-apiá e/oucapiá seria “herva” ou “capim” (SAINT-HILAIRE, 1833, p.361; MARTIUS, 1867, p.388) ou ainda “herva forte, malvaisco” (CARDIM, 1925, p.131). Teriam sido, portanto, substantivos... e observou-se, por vários apontamentos, que a língua não aponta mesmos formatos para substantivos e verbos. O “capiau” de Cornélio até faria algum sentido, originalmente (que é o que interessa), mas não como “de dentro do mato”; talvez, como “o próprio mato”. Além da diferença de algumas letras, há diferenças no significado, ou seja: “chutou perto”, mas errou.
- caa-pyir, caa-piir e caápi (este último, com uma citação)poderiam talvez ser “capinar, limpar capim” (segundo MONTOYA, 1724, p.101; DIAS, 1858, p.35; MARTIUS, 1867, p.37; ALMEIDA NOGUEIRA, 1879, p.63), mas também poderiam ter vindo do latim carpere segundo Beaurepaire-Rohan (1889, p. 39); caipi seria ainda um “casaco”, segundo Saint-Hilaire (1887, p.249) e um cipó e uma bebida extraída dele, no nheengatu da amazônia, segundo mais tarde apontaria Câmara Cascudo (1954, p.201). Este último, sem indicar as fontes que teria consultado (um “aprendiz de chutador”, neste item em particular? A moda parece que já existia há tempos...). Indicar caapi como “lavrador” teria sido a melhor aproximação de tudo que apontou Cornélio, entretanto, observa-se que alguns teriam constatado e outros teriam apontado o que parecem conjecturas malucas: isso caracteriza que o termo não era utilizado assim na maioria das vezes, concreta e consistentemente, como parece que Cornélio quis dar a entender; mas foi um bom chute!
- biguáseria “ave palmípede”, segundo Beaurepaire-Rohan (1889, p.39), em uma única citação observada, no considerável acervo de fontes; e guara foi largamente indicado para animais como lobos. Não dá nem para imaginar de onde teria vindo o capiabiguara com o significado de “aldeão”, apontado por Cornélio. Chutou longe...
- “Lavrador” (enquanto “capinador”) poderia ser caapim-pyrçaba segundo apenas Carl Martius (1867, p.37) e também, mas sem que tenha sido observado nas fontes, “caapiir-piára”, por comparação a tupipiára (“o que mora em casa”) e i-pipiára (“o que é aquático”), estes últimos segundo apenas Almeida Nogueira (1879, p.546). Cornélio apontou caapiara como “lavrador” e capipiára como “o que é do mato”, em conjecturas que até fazem sentido ao pensar do homem branco de séculos depois, porém que parecem não terem existido de fato no falar indígena. Curiosamente, neste “chute duplo”, Cornélio apontou que haveria alguma diferença de significado entre dois termos com poucas letras de diferença, o que, entretanto, parece que ele não levaria em consideração normalmente quanto aos termos originais do tupi-guarani e o português. Ou seja, normalmente para ele poucas letras diferentes não significavam muito, na maioria das vezes.
- “De dentro do mato” poderia ser caapor (“o que tem no mato”) ou caayguar (“o que é do mato”), segundo Cardim (1584, p.81) e Almeida Nogueira (1879, p.63).
- “Aldeão” seria taiguar ou tabaiguá, segundo Almeira Nogueira (1879, p.475).
Atesta-se, portanto, que teria estado longe de ter clareza uma possível ligação de “caipira” com origem tupi-guarani. E os exercícios conjecturais “chutísticos” de Cornélio, agora vemos, teriam sido para ainda mais longe.
Teriam sido os termos recolhidos diretamente com pessoas? Amadeu Amaral afirmou ter feito assim, para escrever seu já citado Dialeto Caipira e muitos, até hoje, entendem que este processo tem grande valor, sendo uma conveniente “sabedoria popular”. É bom pensarmos bem nisso, pois há a armadilha da rejeição ao Conhecimento, ao estudo, à leitura (que dão mais trabalho) e alguns não querem que as pessoas leiam e reflitam por si mesmas.
Sim: o que “os antigos” dizem tem valor, mas é preciso analisar com muito cuidado: é preciso ter um número significativo de afirmações, considerar quais pessoas foram entrevistadas, qual a idade delas, onde e quando teriam vivido, quais línguas falavam, etc. É um processo científico, na verdade, e válido, mas apenas para o limite de tempo e espaço daquele conjunto de pessoas. Para falar de significados de termos indígenas, saem na frente aqueles que teriam convivido com eles, de preferência que tenham aprendido as línguas, e estudiosos fundamentados (como é o caso das fontes que apontamos). Cornélio Pires não apontou nada disso, nem precisava. Ao contrário, indicou que falava de sua própria cabeça, opiniões sem certeza de quem não teria estudado cientificamente o assunto, só tinha muito interesse (pessoal e comercial) nele.
Entretanto, podemos dizer que as intenções do empresário teriam “dado certo”, pois centenas de pessoas, inclusive grandes pesquisadores, até hoje acreditam que o apontamento daqueles termos, talvez por alguma razão mágica, pudesse atestar o que Cornélio acreditava e defendia.
A verdade é que qualquer um pode dar “chutes” amadores quanto a origens de palavras, com base em similaridades, inclusive com boa lógica, se forem pessoas inteligentes como Cornélio (infelizmente acontece muito, até os dias atuais). Estas pessoas, assim como ele, acreditam que podem estar certas.
Nunca é demais lembrar: Cornélio defendeu suas interpretações em publicações artísticas, não-científicas. As interpretações agradaram a muitos, ele vendeu bem e quem o secunda na crença do caipirismo também faz suas boas vendas até hoje em dia: está tudo certo, não há qualquer ilegalidade em querer vender. Conjecturar sem estudar nada de um assunto e sem apresentar dados de época talvez possa ser considerado “falsa ideologia”, mas, sobretudo em publicações artísticas / humorísticas como as de Cornélio, parece que a sociedade em geral não se importa... Então, está tudo certo.
Agora... Por que Cornélio Pires parecia ter tanto interesse em indicar que “caipira” seria termo indígena? E por que tantos estudiosos aceitam até hoje os apontamentos amadores dele como verdade, sem discussão, sem parecer que tenham sequer checado dados (ou, se os checaram, não os divulgam em público)?
O que nem Cornélio, nem Amadeu Amaral e parece que ninguém depois teria observado (ou querido divulgar) é que “caipira” (e também “caipora”) já existiam desde pelo menos 1822 e não seriam termos indígenas originais: seriam empréstimos, adaptações, alterações com a intenção de apelidar, pejorativa e politicamente, brasileiros e outros defensores de D. João VI. Também por isso, até hoje, ninguém conseguiu atestá-los de verdade como termos da língua tupi-guarani, embora vários ainda gostem, como Cornélio gostava, de os “chutarem” como se fossem. É no mínimo estranho, mas mantém certa coerência desde o início, não?
Cornélio, vendedor inteligentíssimo (até genial, na nossa insignificante opinião), quer soubesse ou não do significado correto de “caipira”, por seus indiscutíveis méritos e esforços teria percebido a força do termo, e se abraçou fervorosamente a ele, promovendo por cerca de 35 anos uma distorção para um novo significado, que se mostra útil para alavancar vendas até os dias atuais. Aliado a uma suposta origem ancestral, ou “de raiz”, alavancou defesa contra preconceitos e até alguma inclusão social de um povo cuja maioria não tem hábito de leitura. Estes, sendo então embasados na tal “sabedoria popular”, até hoje não precisariam dar tanto valor à leitura, à reflexão, à checagem de dados históricos. Genial.
Esta genialidade também teria sido conveniente ao candidato a deputado em São Paulo, Dr. Antonio Candido, e, depois dele, tantos outros, sabe-se lá por quais reais motivos. Bons motivos, segundo a visão genial de Cornélio, não faltariam: defesa de uma “cultura ancestral”, inclusão social dos mais simples, combate ao preconceito e outros. E, claro, alavancar boas vendas.
Há registros suficientes e até estudos sobre o termo “caipira” feitos por estudiosos muito sérios. Eles não seriam “etimólogos” de fato, mas seriam experimentados em várias línguas e teriam convivido com indígenas. Já explicitamos estas últimas partes no livro A Chave do Baú e até em um Brevis Articulus específico aqui, portanto, são outras prosas...
Muito obrigado por ter lido até aqui - e vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
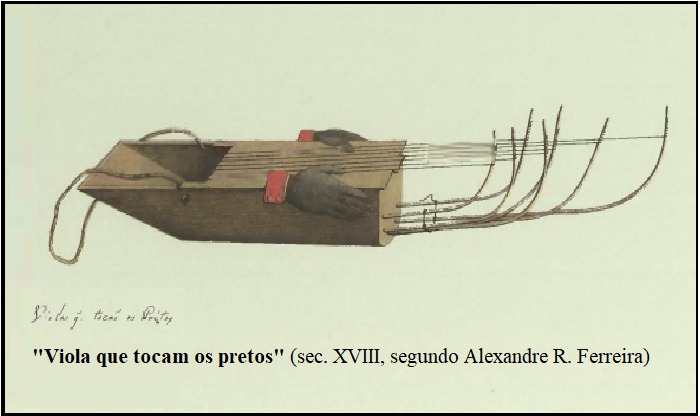
VIOLAS DA REGIÃO AMAZÔNICA
“[...] deste modo fomos belamente até a residência do Caeté, onde o padre Gonçalo de Veras, que também era vigário da vara para os brancos, nos agasalhou com toda a satisfação, não faltando as danças dos moradores que, à boca da noite, vieram com suas violas fazer festa a seu vigário-geral e juntamente a mim que ia em sua companhia”.
[João Felipe Bettendorf, entre 1690 e 1695, em Crônica da Missão do Maranhão]
Viola, Saúde e Paz!
Chega a notícia de Barcarena, no Pará (a pouco mais de cem quilômetros de Belém): ainda hoje, em julho de 2023, não se fala em “violas” por lá... e já acontece assim há algumas décadas. É nosso amigo e vizinho Maurílio Theodoro, revisor ortográfico do livro A Chave do Baú, quem traz esta espécie de “registro etnológico amador”, por assim dizer.Tínhamos pedido a ele que assuntasse o assunto, em suas férias, e ele teria inclusive localizado certo luthier experiente, por nome de Batista, reformador e construtor de instrumentos, que é quem aponta a triste constatação.
De qualquer forma, resolvemos trazer para este Brevis Articulus pelo menos o que já tínhamos pesquisado: evidências esparsas de que, como no restante do Brasil, teria havido instrumentos chamados de “viola” na região Norte, tempos atrás, por um período de pelo menos quatro séculos. A intenção é de alerta. Embora não tenhamos dados suficientes para atestar porque elas não teriam resistido, como bons admiradores de Guimarães Rosa “sabemos quase nada, mas desconfiamos de muita coisa”.
Já transcritos antes em nossa monografia, vale repassar registros que pudemos levantar até agora, pois é um conjunto raro, verdadeiros “tesouros”:
O mais remoto registro aponta fins do século XVII (entre 1690 e 1695), segundo duas citações na Cronica da Missão dos padres da Companhia de Jesus no Maranhão, do jesuíta nascido em Luxemburgo João Felipe Bettendorf (1625-1698): numa citação (a destacada na abertura), moradores da aldeia de Caeté (PA) teriam dançado ao som de “violas” e noutra, o próprio Bettendorf teria cantado com acompanhamento de rabecas e “violas”.
No século seguinte (entre 1783 e 1792) o naturalista baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) apontou “violas que tocam os pretos”, vistas e desenhadas em suas viagens descritas em três volumes do livro Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá 1783-1792. Aquelas “violas”, entretanto, teriam sido cordofones bem diferentes, com corpo retangular e sete cordas, cada corda com sua própria haste, que pela classificação Hornbostel & Sachs seria um “321.1 - Bogenlauten” (“alaúde arcado”). Aproveita-se mais deste registro ser indicativo de que chamava-se “viola” a qualquer cordofone, costume também observado em registros portugueses entre os séculos XV e XVIII. O livro também nos revela que “cordas de violas” (sem mais nenhum detalhe) seriam feitas de intestinos (tripas) de macacos chamados “guariba”.
Mais um século passado e, em 1828, em Santarém (PA), referindo-se a indígenas chamados Tapuios, o fotógrafo francês Hercule Florence (1804-1879) afirmaria que eles desejariam pouca coisa da vida, entre elas, “uma viola”. O registro vem do livro Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas (1825-1829) e é um raro caso onde não teríamos conseguido a versão original para checar, portanto, neste caso temos que confiar na tradução do Visconde de Taunay.
Em 1849 o explorador inglês Henry Walter Bates (1825-1892), em viagem pelo Estado do Pará (passando de barco pela região de Cametá) nos traz o registro de um tocador e cantador por nome de João Mendez. No livro The Naturalist on the River Amazonas ainda se observa a curiosa denominação wire guitar or viola (“guitarra de arame ou viola”) que elimina qualquer possibilidade de ter sido um violão, que à época já seria muito utilizado no Brasil.
Em 02 de setembro de 1868 saiu o artigo “O Correio Mercantil e o sr. Amaro Bezerra”, no Jornal do Commercio (RJ), replicado sete anos depois no jornal A Provincia de São Paulo. Nele, o apontamento de “violas e guitarras” que teriam sido tocadas na região amazônica, segundo o Dr. José Maria de Albuquerque e Mello (?-?), este que teria sido “[...] juiz de direito, ex-chefe de polícia do Amazonas, ex-deputado geral”.
Já em 1876, no livro Os Selvagens, que teria sido baseado em viagens feitas pela região amazônica, o folclorista mineiro José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898) apontou “violas” como companheiras fiéis dos tapuios em viagens de canoa no Pará. Couto Magalhães indicou que aquelas “violas” seriam chamadas guararápeva e que armariam com três cordas de tripa. O pesquisador paulista José Ramos Tinhorão (1928-2021), no livro História Social da Música Popular Brasileira, criticou severamente este uso de violas por indígenas no Brasil, que para ele seria impossível. Nós realmente observamos apenas mais um apontamento, feito pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), que cerca de 60 anos antes de Couto de Magalhães, em 1818, teria visto numa aldeia onde hoje seria Nova Almeida (ES). Aqueles indígenas fabricariam guitares muito bem feitas, segundo Saint-Hilaire com madeira de pés de genipapo e também de outra madeira branca, chamada tajibibuia. O livro é Voyage dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil (“Viagem ao território dos diamantes e ao litoral do Brasil”).
Ainda observamos que termo semelhante ao apontado por Couto de Magalhães teria sido apontado antes, em 1867, no livro Glossaria linguarum Brasiliensium, do botânico alemão Carl Martius (1794-1868): “[...] guara-peba: vióla i. e. [id est, ‘isto é’] arco (Uira-para) chato, Guitarre”.São raros registros de violas ligadas à indígenas pelo Brasil, que certamente Tinhorão não teria tido acesso.
Em 1883, observamos entre “violeiros” (fabricantes, revendedores ambas as coisas?) de várias regiões do país citados no Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Imperio do Brazil, organizado pelo tipógrafo alemão Eduard von Laemmert (1806-1880), constariam os nomes de Francisco Alves dos Santos e Raymundo Ernesto Pereira de Souza, ambos de Belém (PA).
Entre 1973 e 1978, em pesquisas de campo sobre Violas de Cocho publicadas pela a Dra. Julieta de Andrade no livro Cocho Mato-Grossense, um alaúde brasileiro há a citação, entre outros exemplos de modelos de violas com número diferente de cordas: “[...] a viola do Carimbó de Vigia, Pará, apresenta cinco cordas simples”. Infelizmente a pesquisadora não informou a fonte destas informações e também não foi observado na sua lista de referências nenhuma que possibilitasse o rastreamento e conferência. Teria sido, se verdade, a última citação de violas na Região Amazônica, pois, entre 2011 e 2013, a equipe que cuidava da identificação do Carimbó como bem cultural candidato ao Registro nos Livro de Patrimônio Imaterial, em dossiê IPHAN a respeito apontou a triste constatação de que violas (e rabecas e pandeiros) “[...] já não mais seriam observados nas formações” ([IPHAN], 2013, p. 39).
Mesmo com a fama que o modelo Viola Caipira desenvolveu aproximadamente nos últimos 50 anos, em nossos monitoramentos percebemos pouquíssimos registros de violas e/ou violeiros da Região Norte. Dois ou três, se tanto, é o que podemos dizer. E mesmo assim, que não estariam muito presentes hoje nas mídias e redes sociais virtuais.
O ponto é que algum modelo de viola teria existido por lá, por séculos, e teria desaparecido, ao contrário do que aconteceu nas outras regiões do país.
Não temos como atestar ainda as possíveis motivações do fenômeno, pelos registros levantados, que são verdadeiras raridades em pesquisas sobre as violas brasileiras. Naturalmente, há a distância física e contextos histórico-sociais que apontam alguns outros aspectos culturais específicos da Região Norte do país, e não podemos deixar de observar que existem poucos dados porque as pesquisas sobre violas dedilhadas têm, na histórica maioria das vezes, o foco no modelo Viola Caipira.
Violas teriam existido pelo Norte, mesmo que, a princípio, apenas “instrumentos chamados de viola”; mas isso é também o que teria acontecido em Portugal e no restante do Brasil, nos primeiros séculos: a verdadeira origem de nossas violas dedilhadas teria sido exatamente a partir de um nome forte “viola”, mas “genérico”, que depois teria sido adotado para instrumentos de verdade, distinguíveis, únicos (hoje consolidados). Esta origem só nós temos divulgado, por termos pesquisado com muito afinco, e é o que postulamos e contextualizamos cientificamente por nossos estudos ainda pouco conhecidos e quase nada apoiados publicamente.
A motivação comercial e a preferência às vezes até afetiva em torno do modelo Viola Caipira não são ilegais: longe disso, como sempre destacamos; mas a falta de conhecimento, citações e apoios aos demais modelos claramente prejudicam a sobrevivência deles e do valor histórico que representam. Este sempre foi, inclusive, o principal argumento para nossa defesa solitária do Reconhecimento oficial das violas como Patrimônio Imaterial do Brasil, desde 2015. Nossa ação, ao descobrir e divulgar a contextualização científica de toda uma Família das Violas Brasileiras é no sentido de alertar que alguns modelos (verdadeiros tesouros culturais brasileiros) correm o risco de simplesmente desaparecer com os anos, como parece ter acontecido com as violas da região Norte. Este é o tipo de prosa que sempre levantamos.
Muito obrigado por ter lido até aqui... e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
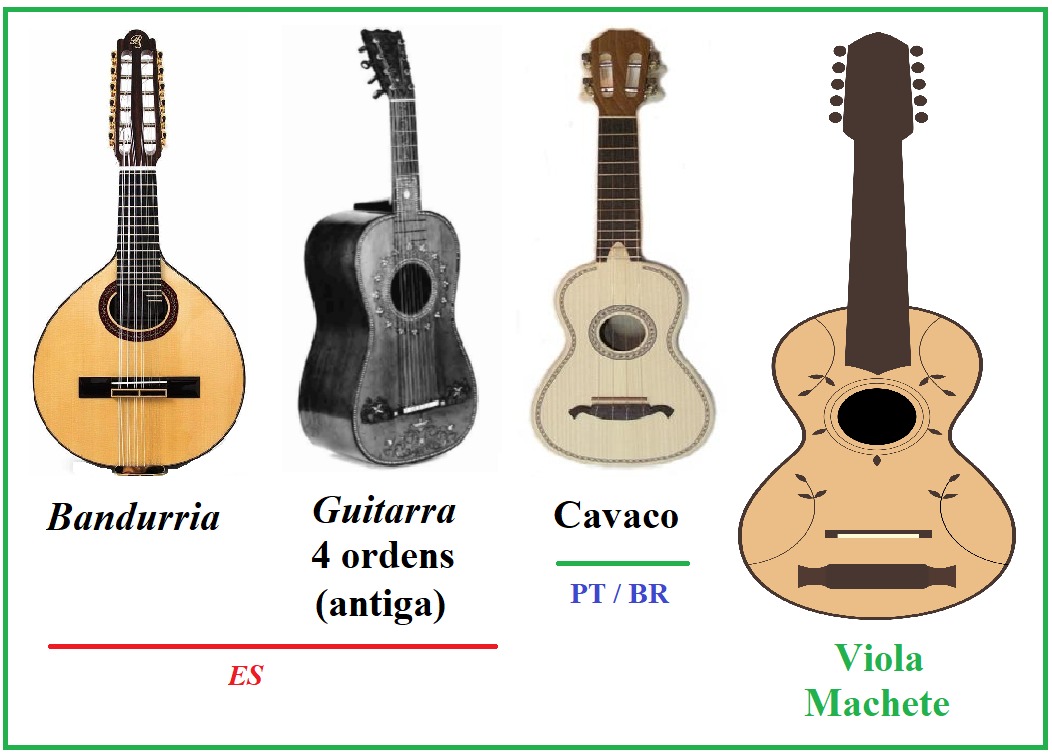
A ORIGEM DO NOME DA VIOLA DOS PRETOS
Seguindo nos aprofundamentos das pesquisas apresentadas no livro A Chave do Baú, neste Brevis Articulus apresentamos recentes descobertas, que temos várias razões para acreditar que seriam inéditas, sobre as “machetes” (pronuncia-se “machêtes”, como se tivesse acento circunflexo no primeiro “e”): cordofones pequenos, cinturados, de fundo plano, origens do atual modelo brasileiro Viola Machete: as violas que teriam os registros mais antigos, mais numerosos e mais desprezados da Família das Violas Brasileiras. Sempre lembrando, porque já começam a utilizar sem citar nosso nome, uma “Família” que é contextualização científica pioneira e atrevida nossa, nesse país ainda tão tupiniquim que até bem pouco tempo praticamente só se conhecia o modelo Viola Caipira, e que quando alguém faz descobertas científicas fundamentadas é desprezado, ou hostilizado, ou tentam desmerecer.
Nossa primeira motivação foram algumas “achâncias” que observamos no sentido que “machete” teria algo a ver com “maRchetaria”... Para sermos bem honestos, à primeira instância, uma quase “desmotivação” (no mínimo, um desânimo): há pessoas que não percebem um “R” a menos numa palavra mas se aventuram a tentar apontar origens, como dito, na base da “achância”. Melhor seria que ficassem caladas do que dar atestado de que não estão nem um pouco acostumadas a pesquisar... Neste ponto, compartilhamos uma mesma dor com linguistas, pelos “achistas criativos”, um verdadeiro câncer.
Duas outras constatações felizmente nos levaram a querer transformar este verdadeiro e muito azedo “limão” numa doce “limonada”: primeiro, que “machete” e “marchetaria”, juntos, nos lembraram o grande luthier baiano Rodrigo Veras, mestrando, um dos mais importantes nomes das Violas Machetes atuais e que às vezes nos socorre com fontes e informações; a ele, inclusive, dedicamos este Brevis Articulus e as novas descobertas.
Em segundo lugar, porque entendemos que ainda não teria sido apontado, de forma séria e embasada, as mais prováveis origens do termo “machete” enquanto nome de instrumento musical. Não é difícil de entender: estudiosos de Portugal, onde “machete” e “machinho” já seriam utilizados pelo menos desde 1712 (ver BLUTEAU, nas referências ao final), raramente citam as nossas machetes brasileiras (ver Vieira, 1899; Veiga de Oliveira, 1964; Morais, 2011), com menção honrosa a umas poucas, citadas num contexto de estudos sobre o cavaquinho por Nuno Cristo, já em 2019.
Já os poucos estudos sobre nossas machetes, curiosamente teriam focado nas atuais Violas Machetes baianas, e a partir do início do século XX (ver Wadley, 1980; IPHAN, 2006; Souza Lima, 2008; Pinto & Graef, 2012). Estes últimos, até citam, vez ou outra, as machetes portuguesas e alguns outros registros que não seriam exclusivamente na Bahia (como os de Câmara Cascudo e Maynard Araújo, ambos da década de 1950); mas observa-se, nas referências apontadas em todos estes estudos, que parece não considerar um significativo número de citações por várias partes do Brasil, principalmente no século XIX.
Veja, por exemplo, citações que envolveriam pequenos cordofones em batuques, que levantamos em nossa monografia: Lindley (1806, p.191); Freyreiss ([1815], p.542); Koster (1816, p.241); Tollenare ([1817], p.137); Pohl ([1819], p.608); Spix & Martius (1823, p.294); Neuwied (1825, p.33: p.91); Walsh (1830, v2, p.137); Debret (1839, v2, p.128); Rugendas (1835, p.25); Mattos (1836, p. 37); Gardner (1846, p.49); Saint-Hilaire (1848, v2, p.60); Gonzaga (1863, p.185) e Wells (1874, p.198).
Sim: nós não brincamos quando o assunto é levantar referências... Observe que foram pessoas de línguas, culturas e formações científicas diferentes que, por várias regiões do país, durante várias décadas, teriam feito descrições muito semelhantes. Talvez estas informações tenham se perdido no tempo porque não teriam sido feitas boas traduções antes; ou, talvez também, pela maior manifestação musical dos primeiros séculos no país (como já foi dito por outros, além de nós) ter vindo dos pretos.
Será que ainda existe preconceito?
Também faz diferença se for considerado apenas um ou outro registro, separadamente (que é muito observado ser feito).
Nós retraduzimos tudo que conseguimos a partir dos originais (em inglês, alemão, francês) e contextualizamos com olhar musicológico, social e outras coerências. Os instrumentos são citados, a maioria das vezes, com variações próximas ao nome “guitarra” (dependendo da língua), mas há quem tenha descrito como “bandolim” ou “banjo”, por exemplo, que seriam instrumentos de tamanho menor conhecidos pelos estrangeiros, mas sem registro de terem existido por aqui, à época. Alguns chegaram mesmo a grafar “viola” (que era como os portugueses chamavam), assim como “machete” ou “machette”. A melhor citação que achamos foi guitarre de poche (“guitarra de bolso”, em francês). Antes, estes instrumentos teriam sido traduzidos como “cavaquinho” ou “violão”, instrumentos que entretanto nem existiriam antes de 1820... Sobre isso, assim como “maRchetaria”, nem vamos comentar.
O que interessa é que todas as descrições teriam sido de atividades dos pretos em grupos onde se tocava, cantava e dançava. E onde termos próximos a “batuque” e “lundu” aparecem várias vezes, além de “fandango” (pois alguns entenderam que esta dança europeia poderia ser parecida). Alguns daqueles estrangeiros também interpretaram equivocadamente que “batuque” e “lundu” seriam danças distintas, com base em algum pequeno número de amostras (e de conhecimento) que tinham. Mais importante, além de considerar o nível de conhecimento musical que cada narrador teria, é analisar um bom conjunto de registros, por vários contextos históricos.
As machetes (ou “machinhos”, ou “machetinhos”) não poderiam ter surgido (pelo menos) desde o século XVIII em Portugal para depois reaparecerem “milagrosamente” no século XX no Brasil. Não é assim que funciona com cordofones populares... ou, pelo menos, não é o que temos visto desde os textos em latim mais antigos que conseguimos levantar e retraduzir, desde dois séculos antes de Cristo: a tendência mais observada é de continuidade por longos períodos, mesmo que com nomes diferentes, em línguas e regiões diferentes. A questão é que poucos se aventuram a pesquisar nomes de instrumentos e seus contextos pelos séculos.
Na verdade, ao analisarmos pelo espectro mais amplo (de regiões e datas), percebemos que pequenos cordofones cinturados, de fundo plano e com poucas cordas, chamados guitarras, teriam surgido na península hispânica, pelo menos desde o século XVI (ver Bermudo e Amat) como concorrência a pequenos cordofones árabes (“pequenos alaúdes”), que teriam sido diferentes: periformes, com fundos abaulados. Estes últimos teriam sido chamados mandurras (que remete ao sumério pan-tur) e/ou bandurrias (uma “espanholização”). Árabes (ou “mouros”) foram invasores que desde o século VIII teriam levado seus cordofones para o território europeu: este é o contexto histórico-social que justifica porque, com o tempo, surgiram instrumentos similares, mas com caixas diferentes, mais arredondadas ou as cinturadas, que ganharam a preferência dos europeus.
Outro contexto histórico-social também apontaria porque, em 1822, um italiano (e só ele), em Lisboa (e sem nunca ter vindo à Colônia), citou que um preto brasileiro (Joaquim Manoel) teria tocado (e até inventado!) um “cavaquinho”: este que teria sido uma petite viole française (“pequena viola francesa”). Outros, que efetivamente teriam visto Joaquim tocar (e muito bem) chamaram o instrumento de guitarre (em francês), bandurra ou viola. Portugueses até acham que seria “dúvida razoável”, mas faz muita diferença as narrativas de quem teria visto o instrumento da de um único, que não viu.
Ora... “viola francesa” (ou “violão”) são apelidos utilizados pelos portugueses que não tem qualquer fundamento quanto à procedência das guitarras: estas seriam espanholas, e já teriam feito grande sucesso no território europeu com armação de 5 ordens de cordas (as chamadas “guitarras barrocas”), depois evoluindo ao modelo com 6 cordas simples, o “violão”, de mais sucesso ainda (como é até hoje, pelo mundo).
Não é que os portugueses não soubessem disso: é que eles não queriam “dar palco” a nomes de culturas árabes, nem espanholas. O nome “viola” (já utilizado na península itálica) foi o que teriam escolhido, se agarrando a ele para todos os tipos de cordofones portáteis com braço. Esta teria sido a solução que satisfez o (em nossa opinião) até bonito nacionalismo (ou patriotismo) português. Bonito e louvável, mas é bom observar: para portugueses, até hoje, nada vale mais do que o nome que eles usariam. Costumam até hoje simplesmente desprezar o que acontece em outras línguas, culturas, países. Entendemos que o mais correto, entretanto, é observar o máximo possível do que ocorre pelo menos no território europeu, nas diversas línguas, por grandes períodos de tempo.
Em caso similar ao das “violas”, “cavaquinho” também teria agradado mais ao patriotismo português pois, à época, “machete” remeteria também a um instrumento típico dos pretos brasileiros (segundo diversos anúncios de jornal, de várias regiões do Brasil, no século XIX, disponíveis para consulta pela Biblioteca Nacional Digital). Não: portugueses não “dariam palco” a um nome então “mais brasileiro”, e pior ainda, instrumento de pretos que o tocavam muito bem... E assim surgiu o cavaquinho, puramente a partir de um nome: curiosamente com seis cordas, no início (como a “viola francesa”). As “pequenas violas” teriam passado antes pela armação de cinco cordas (ver Regimento dos Ofícios de Guimarães, 1719) e hoje o cavaquinho acabou por se consolidar, tanto por lá quanto por cá, em 4 cordas singelas. Apesar do cavaquinho, os portugueses não abandonaram o nome “machete”, que também sobrevive, junto com “braguinha”, “rajão” e outros; todos, instrumentos muito similares e é aí que ocorreu o equívoco de estudiosos, por pensarem que aqui no Brasil “cavaquinho” e “machete” também seriam equivalentes. Não seriam e não são.
É também pelo contexto histórico-social diferente que nossas machetes teriam se desenvolvido, muito provavelmente a partir da mesma época (início do XIX), para 10 cordas em 05 duplas, a armação mais famosa entre violas (mas originária das guitarras espanholas, chamadas “viola” pelos portugueses) e bem diferentes do cavaquinho e das machetes mais antigas. Diferente também das pequenas guitarras, das bandurrias antigas: nossas machetes são particulares e talvez só os charangos, famosos pela América Latina, usem a mesma armação em instrumentos pequenos (não pesquisamos isso a fundo, ainda).
Percebe a minúcia? Brasileiros, bem diferentes dos portugueses, não teríamos o mesmo tipo de nacionalismo (se é que temos algum tipo). E tínhamos muitos pretos (muito mais do que brancos), chamando os instrumentos de “machete” (que eram também “viola”). Quando surgiram os “cavaquinhos” portugueses, diferente deles os brasileiros não teriam tido tanta tendência a usar nomes genéricos, apesar da língua ser a mesma: a solução popular surgida aqui, então, teria sido separar de alguma forma dois instrumentos que para nós seriam diferentes entre si, o que, no caso, foi separado pela armação de cordas, além dos nomes.
No fundo, no fundo, todos seriam “pequenas guitarras”, até o ukulelê hawaiano: cordofones cinturados pequenos, com pequenas diferenças de acordo com as culturas e respectivos contextos histórico-sociais. Como o abandono do uso destas pequenas guitarras, pelos espanhóis, eles teriam emergido com outros nomes em Portugal, tendência que se atesta também pelas próprias violas dedilhadas.
A esta altura, dá pra entender porque se observam em escritos antigos nomes no diminutivo como “guitarrilha”, “bandurra”, “bandurrilha”... certo? Seriam instrumentos pequenos... E se tivessem sido tocados por pretos brasileiros? Será que poderiam ser considerados “machetes” também? Isso nenhum estudioso até hoje teria apontado.
Estes três diminutivos buscamos de instrumentos que teriam sido tocados por um “poeta”, segundo textos próprios e/ou alegados a Gregório de Mattos, o “Boca do Inferno” (que teria vivido aproximadamente entre 1636 e 1696). Ele é considerado “apenas poeta”, segundo a maioria dos atuais estudos sobre a História do Brasil... Não músico, sequer “violeiro”. Além destes diminutivos, há vários registros do nome “viola” no tempo em que Gregório viveu, inclusive nos textos dele, mas não encontramos registro literal do nome “machete”. Outros pretos que teriam sido músicos muito bons teriam sido Euzébio de Mattos (irmão de Gregório), Padre José Maurício Nunes e o citado Joaquim Manoel: todos, com registros de que teriam utilizado “violas”, ou “violas de arame”: teriam sido, aquelas todas, “machetes”?
A mais remota citação que conseguimos descobrir até agora de “machetes e machinhos” (que teriam sido “violas pequenas”) aponta para 1712, em Lisboa, em dicionário de Bluteau (como já citamos). Em terras brasileiras, “violas ou machinhos” teriam sido observados a partir de 1744 e “machete de tocar”, desde cerca de 1790, em documentos de alfândega (ver Pereira, 2013). Violas, entretanto, já teriam tamanhos variados desde 1572, segundo o Regimento dos Violeiros de Portugal (Morais, 1985) e “violas pequenas” já constariam literalmente desde o ano de 1700, segundo os já citados documentos de alfândega do Rio de Janeiro.
De onde teria vindo este nome “machete”, que Veiga de Oliveira, em 1964, teria citado que “... parece ser uma palavra arcaica, caída em desuso, e subsistente nas Ilhas e no Brasil”? Resolvemos pesquisar...
Começando pelo uso geral: “machete” seria também o nome de um facão ou marreta (como aponta para um diminutivo, preferimos dizer que seria um “machado pequeno”). Teria vindo de “macho”, masculus em latim, segundo a maioria dos etimologistas, que só apontam significado como “instrumento musical” em Português. Nos textos em espanhol de nosso banco de dados, realmente não consta, mas faz sentido, pelo que já dissemos: eles abandonaram as pequenas guitarras (e as vihuelas, maiores) a partir do século XVII, em função de um investimento nas “novas guitarras”, de tamanho intermediário e com 5 ordens de cordas.
Acabamos por encontrar algo pouquíssimo estudado em edição do ano de 1788, do livro Allgemeine geschichte der Musik (“História Geral da Música”), do musicólogo alemão Johan Nicoulau Forkel (1749-1818). Forkel é considerado um dos fundadores da musicologia moderna e, por isso, já tínhamos pesquisado antes uma edição deste livro, do ano de 1801, mas só na edição mais antiga constaria o termo MACHOL. Forkel teria pesquisado este nome em várias fontes (que não tivemos como checar, pois seriam manuscritos) e não teria chegado a uma conclusão; apenas que, sem dúvida, teria sido um instrumento musical e que equivaleria a SCHALISCHIM (já foi algo importante, fundamentado). Entre as fontes dele, algumas teriam apontado que equivaleria também a MACHALAH, em hebraico (bem mais parecido com MACHOL)... A ligação com língua árabe fez acender, para nós, uma luz: já consegue perceber? Não? Então sigamos...
Fuça daqui fuça de lá, encontramos alguns poucos entendimentos, todos diferentes dos de Forkel: Curt Sachs, em 1913, teria entendido que MACHOL [...] wird heute nicht mehr als Name eines Instruments (“não é mais considerado nome de instrumento”) e em 1940 nem o citaria mais. Ernesto Vieira, em 1899, tinha entendido ser “uma flauta mencionada no texto hebraico da Bíblia”. Vimos algo a este respeito (de ser bíblico) também pela internet, então fomos conferir a Vulgata online, a versão em latim, chamada também Bíblia Constantina. Nos textos, nada; mas em comentários de estudiosos, lá mesmo, encontramos que Maeleth, além de ser nome de uma filha de Ismael, equivaleria ao hebraico MACHALATH, instrumento musical citado em salmos de David. Vimos estes comentários semelhantes, por autores diferentes (em inglês, francês e italiano), num website sério, e por isso os consideramos relativamente consistentes. Mas... se não constava na Bíblia em latim, como poderia na língua portuguesa ter acontecido a evolução de maeleth e machalath até machete? Bom, a pronúncia ajudaria um pouco... mas vai pensando aí, enquanto seguimos no desenvolvimento...
Primeiro precisávamos “tirar a prova” do que teria lido Forkel, pois não acreditamos cegamente em ninguém. Então, fomos procurar livros sobre textos bíblicos em hebraico (não “livros em hebraico”, que não temos competência para ler, mas “sobre textos em hebraico”, em outras línguas). Acabamos por encontrar um excelente, em alemão, de 1777: Einléitung zu dem Neu-Testamentlichen Gebrauch der Psalmen Davids (“Introdução ao uso dos Salmos de Davi no Novo Testamento”), do teólogo alemão Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782). Estava lá: tanto para o Salmo 53 quanto para o 88 (as numerações diferem em um número das da Bíblia em latim): [...] Meister in der Musik aus Machalath (“mestre em música de Machalath”). E Otinger ainda detalhou: Machalat ist ohne Zweifel ein musicalisch Instrument zum Trauerspiel, leannot, das ist, ein Schwermuthsinstrument, einen zu demüthigen, einen traurig zu machen (“Machalat é sem dúvida um instrumento musical, dramático, magro, isso é, melancólico, triste”). No caso, nossa tradução se reforçou por citação em latim também encontrada no mesmo livro, sobre possíveis significados de MACHALAT. Cruzamento de alemão com latim dá o quê, “alemin”? “latimão”? Aí não sabemos... mas sabemos que foi assim.
Estava lá também, dos Salmos 45 e 69, sobre SCHALISCHIM, que seria o mesmo queSCHOSCHANNIM [...] welches ein Instrument von 3 Saiten Tönen oder Ecken bedeutet, so auch das weibIitche Geschlecht tractiren konnte (“instrumento de 3 cordas, tons ou cantos, ligado ao gênero feminino”); feminino, porque shoschannim seria também o nome de uma flor, um tipo de lírio. Conferimos, e realmente ainda significaria até hoje “uma flor” e vários teriam entendido apenas assim, desprezando o significado de instrumento musical, inclusive na Vulgata online, em latim. Só que nessa mesmo, de novo, dois estudiosos (Vigouroux e Haydock) já alertariam em notas que poderia ter sido também instrumento musical e não apenas uma flor...
Para nós, uma interessante coincidência, pois já havíamos percebido, há tempos, que “viola” teria sido primeiro nome de flor (um tipo de “violeta”, em latim, sec. VI), só surgindo como nome de instrumento a partir do século XII. E os dois significados ainda convivem. Um cordofone com nome de flor, pra nós, então, “tá tranquilo”...
O que não estava tranquilo, e nosso principal problema, foram posições contrárias de Sachs, tanto para MACHALAT (do qual não apontou conclusão, mas desaconselhou traduzir como “instrumento musical”), quanto para SCHALISCHIM (do qual foi categórico em afirmar que não seria instrumento musical). Respeitamos demais (como boa parte do mundo respeita) as pesquisas de Sachs: ele talvez seja o musicólogo mais completo da História, tendo mergulhado em línguas que outros nem citam, como grego, hebraico, etc. Como já citamos, consultamos ótimos levantamentos dele desde 1913 a 1940: é muito tempo pesquisando, descobrindo, publicando!
Respeitamos, mas... Sachs era um ser humano, e já tínhamos encontrado brechas de análises dele a partir de originais em línguas latinas (ele era alemão). Checando a análise sobre schalischim, ele afirmou que o termo só teria aparecido uma vez na Bíblia hebraica (em Samuel 1, cap.18, v.6), com a grafia salisim (que ele, entretanto, confirmou que teria a ver com o número “três”, deixando para nós uma boa dica). Sachs, portanto, não teria visto as ocorrências do termo nos Salmos. Uma vez mais confrontando com a Vulgata em latim, salisim teria sido traduzido lá como sistri (“cistro”) e esse já é nosso conhecido: embora alguns o confundam com um instrumento de percussão egípcio antigo (inclusive Sachs), não há dúvidas, por grande número de registros analisados, que tenha se ressignificado depois para nome de cordofone e seria uma das muitas variações em latim a partir de kithara (grego), como cithara, cedra, cetra, cistro, sistro... Sim, desses instrumentos teria sido gerada a atual “família dos cistres”, de caixa arredondada (bandolins, guitarra portuguesa, etc.).
Sachs aponta ter visto SCHOSCHANNIM (na grafia sosanim) nos Salmos 45 e 69 e nem se deteve em maiores análises, indicando equivocadamente que significaria liles (“lírios”), mas que teria sido sem dúvida um instrumento musical. Neste raro caso, nos parece sem dúvida mais consistente o já citado apontamento de Oetinger, que até não poderia saber tanto sobre instrumentos musicais como Sachs (quem saberia?), mas teria sido professor de hebraico e especialista em Salmos. E nós sabemos que as machetes sobrevivem até hoje, e que o nome, como instrumento musical, não teria vindo do latim, nem espanhol, italiano, etc.
Assim, entre os vários aspectos que analisamos até podermos apontar que o diminuitivo MACHETE teria evoluído a partir de MACHOL e MACHALAT (hebraico) também vem o fato que a chamada lusitânia (assim como toda a península hispânica) sofreu invasão muçulmana por cerca de sete séculos e até Bíblias teriam sido retraduzidas para árabe / hebraico, à época, por lá.
Então, foi assim. Muito obrigado por ter lido até aqui e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
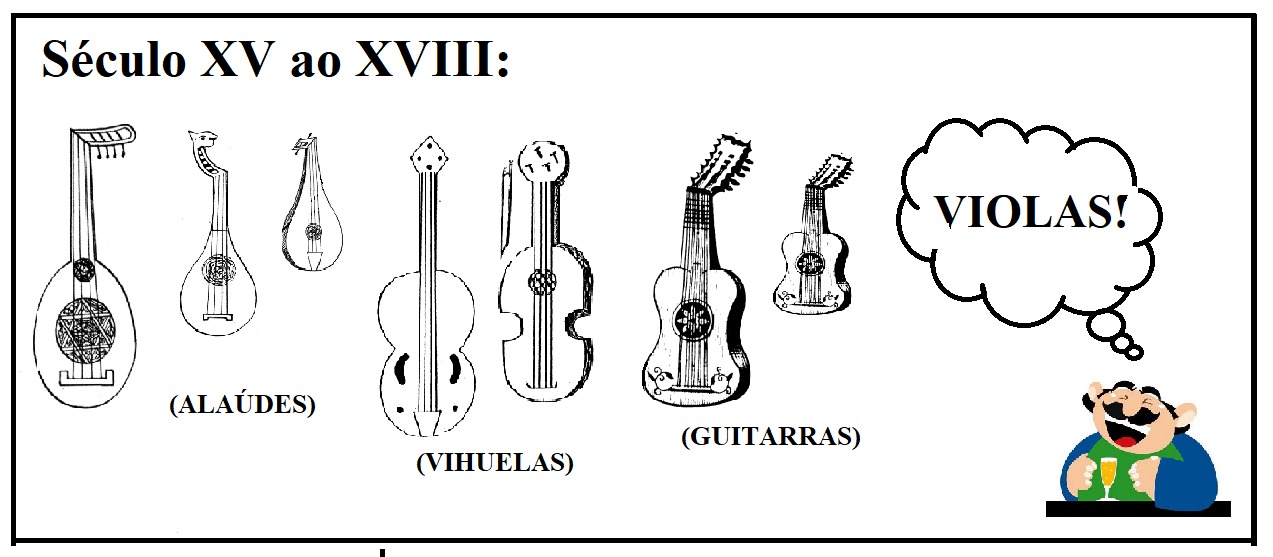 VIOLAS DEDILHADAS: ANOMALIAS HISTÓRICAS
VIOLAS DEDILHADAS: ANOMALIAS HISTÓRICAS
La bihuela [vihuela, vyyuela] de péndola [peñola] con aquestos y sota [verso 1203]
La vihuela de arco fas dulçes de bayladas [verso 1205]
(“A vihuela dedilhada com aqueles, e abaixo / a vihuela de arco de suaves baladas”)
[Juan Ruiz, Harcipreste de Hita (ca.1283-ca.1350), em Libro de Buen Amorsegundo variações de três códices (Gayoso, Toledo e Salamanca), transcritos pela Dra. Rosário Martinez na tese Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media, 1981, p. 1220-1223, traduções sempre nossas]
Viola, Saúde e Paz!
Uma das várias “novidades” (pioneirismos científicos) que apresentamos no livro A Chave do Baú são descobertas sobre o uso de um mesmo nome para instrumentos diferentes. Diferentes, na forma de serem tocados, a saber: “dedilhada” ou “friccionada por arco”. O atento leitor já deve ter percebido, né? Temos no Brasil “violas” dedilhadas e “violas” de arco, é um fato... Até onde pesquisamos, a origem deste curioso fato não teria sido explicada (sequer, questionada) antes.
É mesmo um pouco complicado de entender essa anomalia que só acontece nestes instrumentos e só na língua portuguesa, mas, se fosse fácil, centenas de estudiosos, por vários séculos, já teriam descoberto antes, concorda? Por ser complexo é que semanalmente nos aprofundamos aqui, nos Brevis Articulus. Sorte vossa, por ter acesso a estes textos; e grande sorte e alegria nossa, se alguém tiver interesse: muito obrigado, é por você que teimamos em praticar ciência, incentivo à leitura e defesa (salvaguarda) de nossos Patrimônios.
O que descobrimos, na verdade, não teria sido novidade na História europeia dos cordofones: nela, arcos só apontam ter sido mais utilizados a partir do século X, segundo cruzamento de vários tipos de registros (esculturas, desenhos, textos), analisados por diversos pesquisadores, de diversas regiões e épocas. Entre os diversos pesquisadores, destacamos por língua e época das publicações: em inglês Carl Engel (1883), em alemão Curt Sachs (1913, 1940), em francês Albert Lavignac (1925) e a espanhola Rosario Martinez (1981).
Os mesmos instrumentos, antes apenas dedilhados, teriam passado então a ser tocados também por arcos, numa longa fase de transição (estimamos de dois a três séculos). Seriam chamados pelos mesmos nomes que tinham antes dos arcos terem chegado (variações próximas dos termos rota, giga e rabab). Estes seriam então, no começo, tanto dedilhados quanto friccionados por arco, só depois tendo passado a ser conhecidos como “os primeiros friccionados com registros no território europeu”. Observa-se que apenas o rabab (“rabeca”) teria mais registros no território europeu como sendo tocado por arco, mas teria sido antes também dedilhado, segundo pesquisadores como Paul Garnault (artigo “Les Violes”, Encyclopédie de la Musique, 1925).
O que teria acontecido com rotas, gigas e rabecas seria o mesmo que acontece hoje com nossas violas brasileiras e portuguesas: um mesmo nome para instrumentos tocados de duas formas bem diferentes. Só que, além do nome “viola” apontar não ter nada a ver com aqueles outros três, haveria uma lacuna de cerca de três séculos até o surgimento de mais evidências conclusivas. Isto sozinho não atesta cientificamente, mas aponta o fato (que comprovamos por várias outras atestações) que algumas características de cordofones podem romper séculos e, em vários casos, até resquícios nos nomes são observáveis por várias línguas diferentes. Desculpem a empolgação, mas não podemos deixar de citar que este aspecto é muito bacana... Pense bem: os instrumentos a revelarem, silenciosamente, a História (a deles e as das sociedades que teriam testemunhado)...
Mas voltando à prosa: a relação mais direta só viria a partir das vihuelas espanholas, que no século XIV teriam sido também tanto dedilhadas quanto friccionadas por arco, como teria intuído, entre outros, o padre-poeta castelhano Juan Ruiz (conforme destacado na abertura). A semelhança dos nomes não deixa dúvidas, até porque atestamos a evolução de vários nomes similares a partir do século XII em latim, occitano e catalão, línguas comprovadamente influenciadoras do espanhol e do português (entre outras línguas chamadas “latinas”).
Aquelas vihuelas de nome bivalente quanto a forma de tocar já teriam sido bem estudadas antes de nós pelos britânicos Thurston Dart (artigo"La viole da Gamba", da RevistaStoria degli strumenti musicali, 1961) e Ian Woodfield (livro La viola da gamba dalle origine al Rinascimento, 1999) e, também, mas com citação de contextos histórico-sociais e demonstrações em bem mais litogravuras, pelo australiano John Griffiths (artigo Las vihuelas em la epoca de Isabel, 2010).
É curioso observar que estes “gringos ingleses” tenham escrito livros e artigos em italiano e espanhol... Não encontramos os mesmos trabalhos em inglês, mas não faz falta: é até louvável o esforço deles em usar línguas latinas e são todos bons estudos, muito bem embasados. Apesar disso, teria escapado àqueles grandes estudiosos o caminho que as vihuelas dedilhadas teriam traçado até chegarem às nossas violas, portuguesas e brasileiras. A língua portuguesa, não por coincidência, seria a única a ainda preservar, até os dias atuais, um nome igual, tanto para violas dedilhadas quanto para friccionadas por arco; por isso, é legítimo e coerente que caiba a um brasileirinho atrevido (e não a outros estudiosos pelo mundo) que “desembole este novelo” a partir desta “ponta solta”.
As nossas “violas” teriam os mais remotos registros conhecidos em três escritos portugueses, dos anos de 1455, 1459 e 1477, segundo apontamentos de Veiga de Oliveira (Instrumentos Populares Portugueses, 1964) e Manuel de Morais (artigo A Viola de Mão em Portugal, 1985). A princípio, aqueles registros não especificariam se teriam sido violas dedilhadas ou friccionadas, mas logo em seguida as evidências se confirmariam e as “violas” dedilhadas se tornariam o principal cordofone em Portugal, com vários registros remanescentes dos séculos XVI e XVII. O que pesquisadores não teriam percebido é que outros cordofones dedilhados (como alaúdes e guitarras), com vários registros em regiões vizinhas a Portugal, praticamente não teriam tido seus nomes citados em textos portugueses, e que as “violas” citadas pelos portugueses teriam as mesmas descrições e desenhos dos instrumentos estrangeiros...
Ou seja: as evidências reais são que “viola” teria sido apenas um nome genérico dado a todos os cordofones com braço, não tendo existido, de fato, “violas” diferentes dos demais cordofones largamente utilizados; isso, por enquanto, só nós temos a audácia de afirmar categoricamente... Conforme já avisamos, somos atrevidos: vai desculpando aí, por favor.
Embora, por exemplo, Manoel de Morais tenha afirmado que “viola é empregado como nome genérico de uma família de instrumentos de corda com braço”, pesquisadores demonstram apego ao nome “viola” e seguem tratando-as como se tivessem existido de fato nos primeiros séculos (do XIV ao XVII). Apontar que elas não existiriam (senão somente o nome) significaria enfrentar um problema bem complexo, pois no tempo presente dos primeiros pesquisadores citados (século XX), e até hoje, as violas existem... Uma possível lacuna teria que ser explicada, contextualizada, “provada”, por assim dizer: é muito mais fácil assumir que elas “sempre teriam existido”, até porque, há registros. Além disso, até agora ninguém teria se atrevido a contestar...
É por isso que, também “por enquanto”, só nós postulamos e contextualizamos que violas dedilhadas portuguesas (e brasileiras), de fato, só podem ser consideradas que existiriam quando for possível atestar detalhes que as diferenciassem das guitarras espanholas e outros cordofones: isto só teria acontecido a partir de meados do século XVIII, quando as guitarras então dominavam a cena dos cordofones no território hoje chamado europeu, e na chamada Península Ibérica são conhecidos poucos registros de alaúdes, vihuelas e guitarras pequenas (estas que, claramente, teriam mudado de nome, para rajão, machinho, machete, Braguinha e similares). O máximo que pesquisadores (no caso, portugueses e brasileiros) apontam, portanto, é um bilinguismo (entre guitarras e violas), que realmente faz sentido entre os séculos XVII e XIX; porém, antes, teria havido um “multilinguismo”, onde o nome “viola” teria sido utilizado para alaúdes, guitarras pequenas de 4 ordens de cordas e vihuelas. Um multilinguismo no qual não se conhecem registros de instrumentos chamados “violas” que fossem diferentes daqueles outros cordofones, bastante populares por quase todo o território europeu da época.
Entre as complexidades que outros pesquisadores não teriam enfrentado estão:
- estudos organológicos sequer hoje em dia apontam consenso de que número de cordas e de ordens sejam diferenciadores de instrumentos (“azar o deles”, é o que pensamos);
- estudos linguísticos, até os dias atuais, não apontam consenso sobre origens do termo “viola”, entre outros nomes de instrumentos musicais (“azar o deles também”);
- são raros os estudiosos, até os dias atuais, que apontam trabalhar bem com as diferenças entre “presente” e “passados”, expressas em características organológicas e etimológicas de instrumentos musicais. Ao contrário, o que mais se observa é estudiosos agirem como se um instrumento que eles têm contato, no presente deles, sempre tivesse tido aquele formato e aquele nome da língua que estivessem usando nas suas respectivas publicações contemporâneas.
Não seria, entretanto, equívocos infantis, toscos; afinal, estamos a falar de inúmeros estudiosos, vários deles muito competentes, dedicados e respeitados (o que seria de nós se tantos outros não tivessem deixado bons trabalhos para conferirmos?). Teriam sido mais como “pequenos deslizes”, desculpáveis possivelmente pela louvável intenção de querer traduzir bem para os leitores o complexo assunto. A “pegadinha”, no entanto, é que se não analisarmos muito bem o passado, perdemos muito do caminho histórico percorrido. Alguns estudiosos até criticam deslizes assim quando cometidos por terceiros, mas, curiosamente, costumam também cair no mesmo tipo de armadilha: a do contexto histórico correto.
É importante observar que o que desenvolvemos (a partir de vários estudos de terceiros) foi uma prática de olhar multidisciplinar (ou “multitemático”) cuja importância e aplicabilidade poucos estudiosos teriam tido antes a perspicácia de perceber e de se aprofundar tanto (isto para não afirmar de novo que somos os primeiros a chegar tão longe, numa brincalhona falsa modéstia... Por enquanto, pelas apropriações indébitas e tentativas de descredibilização que já começam a surgir, faz-se necessário reforçar o aspecto do ineditismo metodológico e deixar a modéstia para outras oportunidades).
Ajuda-nos a atestar nossa atrevida afirmação (de que pesquisadores não teriam percebido ou não quiseram apontar que não existiram “violas” de fato, até determinado período histórico) se analisarmos com bastante atenção e profundidade o que teria acontecido quanto a nomes e características de cordofones portáteis pelo território europeu, em especial em regiões próximas a Portugal, nas mesmas épocas. Bora lá:
No restante da península Hispânica (ou “Ibérica”), quanto aos dedilhados, guitarras (pequenas, com 4 ordens de cordas) e vihuelas (com 6 ordens) teriam registros pelo menos desde o século XIV e espelhariam instrumentos de procedência árabe: respectivamente manduras e alaúdes ou, em espanhol, bandurrias e vihuelas de Flandres, segundo, entre outros, Juan Bermudo (Declaración de Instrumentos,1555). Significativa diferença é que os instrumentos espanhóis seriam cinturados e de fundo plano, e os árabes, periformes, de fundo abaulado.
Aquelas guitarras pequenas e vihuelas dedilhadas cairiam em desuso a partir do século XVII. Desta informação tiramos que, muito provavelmente por analisarem apenas as fontes em espanhol, pesquisadores não tenham atentado para o que seguiu acontecendo na Itália e em Portugal quanto a instrumentos similares às vihuelas espanholas.
Já quanto às pequenas guitarras, observa-se a partir daquela época a ascensão de um instrumento que armaria com 5 ordens de cordas e tamanho um pouco maior, mas que manteria em espanhol o nome de guitarra. Este instrumento ficou muito famoso por toda a Europa, como antes teriam sido um pouco as guitarras menores, e muito provavelmente por isso se manteve o nome guitarra, no que chamamos então de “ressignificação” do nome, ou seja, continuar com a nomenclatura já conhecida, mas para representar um instrumento um pouco diferente.
Vários chamam hoje de “barrocas” aquelas então “novas guitarras”, por causa do período histórico apontado em estudos de História da Arte. O moderno termo “barroco”, entretanto e obviamente, não aparece em registros mais antigos, demonstrando um tipo de trato que entendemos não ser o mais adequado com relação a nomes de instrumentos: traduzir e/ou tentar renomear instrumentos só colabora para ficar mais difícil entender o rico histórico do passado deles. Um histórico que confirmamos, está lá, nos nomes e em algumas características organológicas. Só que, se generalizarmos (principalmente os nomes), fica muito mais difícil ter a atenção chamada para os tais resquícios históricos...
Um pequeno equívoco lamentável, secundado por centenas de estudiosos de várias áreas, há séculos, mas que não pode ser imputado como “má fé” ou “incompetência”, vez que só agora estamos a divulgar nossa metodologia recém desenvolvida (ela é a tal que chamamos de “A Chave do Baú”). Não teria havido estudo tão abrangente antes. Apontamos estes equívocos para justificar porque nossa metodologia é capaz de ajudar a descobrir tesouros que tantos outros pesquisadores ocidentais não teriam descoberto: não é questão de ser “melhor” (estamos longe disto), mas questão de ser atrevido, perspicaz, teimoso: no popular, “extremamente chato”, principalmente com relação a dados históricos e contextos histórico-sociais...
Já na península itálica, na mesma época (séculos XIV ao XVI), interessantes registros atestam que “viola” por lá também teria sido nome bivalente quanto à forma de tocar, não por coincidência, exatamente como as vihuelas espanholas. Neste caso, por não ter observado muitos outros estudos neste sentido, listamos os dados e apontamos o desenvolvimento nós mesmos:
- estimado ao ano de 1240, no Libro de Apolonio (segundo manuscritos arquivados na Biblioteca de El Escurial, na Espanha) haveria entre variações próximas como vihuela e viuela a grafia literal “viola” em textos em espanhol.
- estimado ao ano de 1350, o poeta Giovani Boccacio (livro Decameron) apontou viuolas que teriam sido utilizadas para acompanhamento de cantos: mais provavelmente, portanto, e àquela época, teriam sido dedilhadas.
- estimado ao ano de 1486, em Nápolis, o belga Johanes Tinctoris (em De inventione et usu musice) em latim apontou que “violas” seriam cordofones de procedência espanhola; seriam tanto sine arculo (“sem arco”, ou seja, dedilhadas), principalmente em cantilenas italianas e espanholas), e cum arculo (“com arco”), utilizadas para acompanhar declamações de poesias; acrescentou que rebecum (“rebecas”) e liutum (“alaúdes”) seriam em quase tudo similares às violas, a não ser que as últimas seriam cinturadas (atestando espelhamento como o espanhol quanto aos instrumentos abaulados, de procedência árabe). Tinctoris se declarou tocador de rebecum e deviola e é um dos mais respeitados musicólogos surgidos após o padre italiano Guido D’Arezzo (este, considerado em dos pioneiros em estudos que depois originariam a atual música tonal ocidental). Observamos ainda que Tinctoris teria tido a rara atenção de optar por escrever em linguam vulgarem (“latim popular”), aproximando-se assim das nomenclaturas originais dos instrumentos, aos quais ainda tentou apontar, segundo o que sabia, as regiões de procedência mais prováveis (como se percebe, não “inventamos a roda”, apenas ficamos muito atentos ao que fizeram os bons, e tentamos ainda melhorar, a partir do que vemos ser feito).
- em 1533, Giovani Lanfranco (Scintille di Musica) não citou “violas”, mas apontou, em sua proposta de sub-classificação para friccionados, os nomes violoni, violone eviolono, que seriam todos de Braccio & de Arco. Os violones, entretanto, teriam a mesma afinação de alaúdes, com a diferença que estes teriam cordas geminadas (duplas de cordas). Temos aí uma evidência de espelhamento entre dedilhados e friccionados por arco, assim como antes se observa em instrumentos espanhóis de nome bastante similar (a língua italiana, como se sabe, também descende, e até mais diretamente, do latim).
- em 1536, Francesco Milano (Intavolatura de Viola o vero Lauto) já apontou desde o título de seu método que as “violas” a que se referia seriam o mesmo que alaúdes, portanto, seriam dedilhadas (e não friccionadas por arco).
- estimado ao ano de 1542, Silvestro Ganasi (Regula Rupertina, o método antigo mais referenciado até os dias atuais), utilizou a nomenclatura viola darcho mas também citou violone como um instrumento de afinação e armação de cordas iguais aos dos alaúdes, como fizera pouco antes Lanfranco.
Observa-se, numa somatória, que espanhóis teriam nacionalizado (ou tentado descaracterizar) nomes árabes originais dos instrumentos, ao utilizar bandurria e “vihuela de Flandres”. Flandres teria sido uma cidade portuária de grande comércio do litoral francês / belga à época, mas que não tem qualquer ligação com a procedência real dos alaúdes, que eram sem dúvida árabes, ou “mouros” como se dizia: consegue perceber a rejeição, nesse tipo de “fake news medieval”? Principalmente, espanhóis apontariam preferência por formatos de caixa diferentes dos abaulados árabes. O formato cinturado não teria sido inventado por eles, vez que já teria registro pelo menos desde o século X em cordofones chamados organa (tanto em grego quanto em latim). Sobre as organas, sugerimos lerem nossos apontamentos a respeito, são reveladores em termos de evolução de nomes e características de instrumentos pelos séculos. Já entre as mais remotas e enfáticas citações sobre a opção espanhola de formato de caixa está o já citado Juan Ruiz (Libro de Buen Amor, estimado ao século XIV), que poeticamente separou guitarras latinas de guitarras moriscas entre outros instrumentos que arabigo non quiere (“árabes não querem”) e que a árabes non convenien (não convém). Em contexto histórico-social, observa-se que nos séculos seguintes a região Hispânica se tornaria uma grande potência, portanto, suas opções culturais serem seguidas por outros povos seria natural, a não ser por povos concorrentes de longa data, como Portugal.
Italianos também teriam nacionalizado o nome vihuela paraviola, a partir do século XV (até porque o nome já teria registros em latim desde o século XII, para cordofones). Também como exemplo do nacionalismo italiano, a guitarra espanhola seria chamada chitarra a partir do século XVI, acompanhando a tendência de preferência europeia da época para aqueles dedilhados, que, como já dissemos se tornaram muito famosos. Desta forma, os italianos teriam começado a separar dedilhados de friccionados pelo uso de dois nomes diferentes; mas, no início, os instrumentos teriam sido praticamente iguais às vihuelas espanholas, inclusive na bivalência de nomes para as duas formas diferentes de tocar. Só com o passar do tempo os italianos desenvolveriam evoluções hoje consolidadas, como o famoso formato cinturado de caixa (mais “trabalhado na grife”) da hoje chamada “família dos violinos” (família que, na verdade, originou-se das primeiras violas, bem anteriores aos violinos).
Italianos teriam evoluído também o uso de cordas metálicas em ordens triplas de cordas, nas citadas chitarras (os espanhóis usariam duplas de cordas, feitas a partir de intestinos de animais - “tripas” - depois substituídas por cordas de materiais plásticos, como nylon). Entre os que estudaram bem estas características das chitarras está o pesquisador Darryl Martin (artigo The Early Wire-Strung Guitar, 2006).
Já os portugueses teriam agido de forma bem mais peculiar: evitariam nomes árabes, assim como os espanhóis, mas preferiram adotar o nome “viola”, como os italianos, tanto para dedilhados quanto para friccionados; isto, sem que se observe terem feito modificações em seus instrumentos até séculos depois (muito menos, acompanhar a tendência de chamar os dedilhados de “guitarras” ou similar, separando-os dos friccionados). O comportamento português é bastante peculiar e justifica-se por contextos histórico-sociais próprios, embora alguns em comum com os espanhóis.
Portugueses não agiriam como seus vizinhos nem quando as guitarras espanholas se espalharam por toda a Europa conhecida, a partir do século XVII, com nomes similares como guitarre (em francês), guitar (em inglês) e Guitare (em alemão).
Portugueses só reagiriam um pouco quando mais tarde (na virada do século XVIII para o XIX, em contexto com as fases da Revolução Industrial), quando novamente as guitarras espanholas mudariam de armação (para 6 cordas simples) e tamanho um pouco maior, definitivamente conquistando a preferência observada hoje em praticamente o mundo todo. Os portugueses então chamariam aquelas “ainda mais novas guitarras” de “violão” ou “viola francesa” (este último nome, num procedimento similar à descaracterização sem fundamento adotada por espanhóis antes, quanto a Flandres). Ou seja: os portugueses optaram por seguir utilizando, pura e simplesmente, o nome genérico “viola” para todos os cordofones, acrescentando então apenas uma variação bem próxima. Isso, independente do que acontecia em regiões vizinhas, às quais, sem dúvida teria contato. Mesmo que tácita (posto que não se observe leis ou orientações públicas neste sentido), teria sido uma ação pública, continuada, cujo cunho aponta para um peculiar tipo de expressão do nacionalismo português, que atestamos também em outros registros históricos. Outros contextos histórico-sociais, de outras regiões, apontam reflexos semelhantes em instrumentos populares por praticamente toda a História dos cordofones europeus.
Até aqui já deve ter dado para perceber porque então surgiu esta anomalia, que são as violas dedilhadas. Ajudará mais ainda um aprofundamento sobre a verdadeira origem das violas, tanto portuguesas quanto brasileiras... mas aí já serão outras prosas...
Por enquanto, muito obrigado por ter lido até aqui. E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).
Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.
Disponível em: Revista USP - Artigo 214286
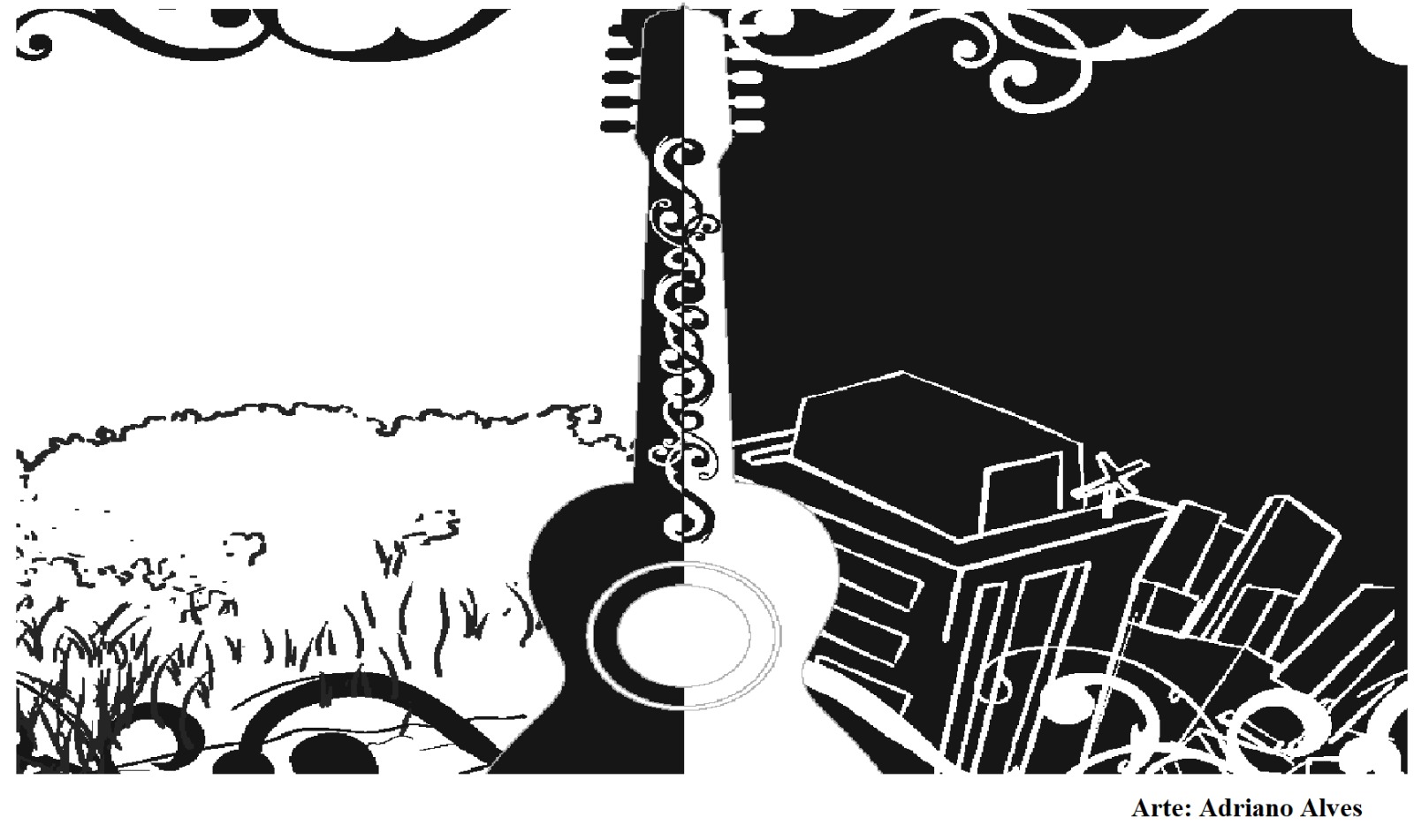
DUALIDADE HISTÓRICA DAS VIOLAS
Viola, Saúde e Paz!
Em 2017, empenhados pela campanha nacional que lançamos em prol do Reconhecimento Nacional das Violas como Patrimônio Imaterial, começamos não apenas postagens diárias sobre violas dedilhadas nas redes sociais virtuais, mas também um monitoramento geral sobre as violas no Brasil. Aquela ação continuada se tornou muito útil para nossas pesquisas quando as vertemos para formato acadêmico, a partir de 2020, em função da Premiação/bolsa de estudo que ganhamos, monografia publicada em 2021 e no livro A Chave do Baú, lançado em fins de 2022. Procuramos manter, até os dias atuais, tanto o monitoramento quanto as pesquisas, conforme semanalmente publicamos aqui, nestes Brevis Articulus.
Foi pelo monitoramento que observamos, em 2017, uma incidência do que, em “linguagem internética”, se chama de “tretas”: troca de farpas públicas, calorosas, ofensivas, de defesa de opiniões. E consideramos normal, histórico-socialmente, pois tínhamos introduzido uma ideia de impacto nacional, nunca antes ventilada. Erramos junto também, no início, ao fazer comentários pouco comedidos, entretanto, pela consciência da grandiosidade da proposta que estávamos fazer, nos arrependemos e chegamos a nos retratar publicamente: postamos naquele 2017 um pedido público de desculpas e a promessa de tentarmos nos corrigir. Ainda temos em mente, até hoje, a promessa antiga, apesar de às vezes ainda errarmos, infelizmente (esse negócio de ser humano é um saco...).
Esperamos complacência pelo menos dos mais esclarecidos: pregar no deserto, feito um “João Batista da viola”, atrai dúvidas, desdizeres, insultos e, no caso, até ameaças de morte por quem não entende a proposta (não entende, nem quer ler para tentar entender). São desafios às nossas limitações enquanto gente, enquanto pessoa humana que erra. Também é fato histórico que sempre que alguém vem a público rediscutir colocações, apresentando descobertas científicas, uma rejeição inicial é quase automática. É, portanto, praticamente impossível não haver atritos, mas quem sobreviveu a ameaças de morte, segue pirraçando, até que vários “alguéns” resolvam ler o que escrevemos, podendo ser nessa, ou nas gerações seguintes.
Logo a seguir à promessa feita, e em função dela, começamos a publicar a série de textos “Violas pela Paz”, que ainda deixamos disponível para leitura no grupo Facebook criado para este fim. Até uma canção-tema com este nome compusemos, após proposta do parceiro cearense Aloísio Cavalcante Jr. (que também segue disponível para audição no Canal João Araújo Viola Urbana, no Youtube). Nela, apesar de gravação caseira, nos esmeramos para executar contrapontos entre a melodia cantada e os toques da viola, a fim de representar que a harmonização entre visões diferentes é possível, desde que haja respeito. Respeito, que era a temática dos textos “Viola pela Paz”, que acabaram por esbarrar já num tipo de dualidade: a falta de hábito de leitura pela maioria do público alvo, que gera uma estranha aversão ao conhecimento, aos estudos, aos dados de época... Dual, porque por um lado existe grande curiosidade, busca por respostas, origens, comprovações... mas quando alguém pesquisa e descobre respostas, a curiosidade parece não ser grande o suficiente para ler e conferir, para entender o que é apresentado. Será que o bom mesmo é permanecer na dúvida? Sem dúvida, para os que lucram com ela, é bom que muitos permaneçam na dúvida... (desculpe o jogo de palavras).
Enfim... Depois, também logo em seguida (entre 2017 e 2018), observamos iniciar nas redes um péssimo costume de “tretas” públicas, mas envolvendo principalmente política. Claramente isso é implantado para tentar descredibilizar verdades e conceitos já consolidados há séculos, querendo dizer que nada é verdade, nada tem valor. Entre os conceitos e práticas indiscutivelmente válidas que são combatidos, estão o respeito, a tolerância, a Ciência como um todo, a leitura, os dados históricos, etc. A culpa, entretanto, não é só de quem tenta gerar caos para tentar validar ideias sórdidas e distorcidas: é muito, também, de quem não tem hábito de leitura e reflexão, e por isso vai “ao vento” das fakenews feito veleiro sem leme...
Tornou-se isso já uma espécie de “epidemia”, que se agravou pelo distanciamento ocorrido durante a verdadeira pandemia. Assim, de nossa parte, acabamos por decidir que seria melhor parar de publicar textos que convidavam os violeiros a darem bom exemplo para a toda a sociedade, uma vez que a maioria das pessoas, inclusive violeiros, estavam divididas, se engalfinhando mutuamente nas redes, pela defesa de algum candidato a chefe do executivo (diga-se de passagem, quando quem manda mesmo neste país são os parlamentares. Vai entender... só mesmo vivendo sem ler e refletir isso pode acontecer).
Seria uma utopia muito maluca nossa, nadar tanto contra a corrente, não? Mais maluco ainda, querer propor isso por meio de textos, num segmento da sociedade que não tem hábito de leitura, e procura nas redes memes, gifs, vídeos curtos? Pois foi por isso que parou o “Violas pela Paz”... mas os textos continuam lá, como registro histórico.
Como se percebe, nossa batalha é antiga: insistimos em propor publicamente uma aproximação maior entre estudos e experiências, História e lendas, tradição e evolução continuada. Leituras e reflexões. Insistimos em inserir dados de época na equação popular de crenças sem embasamentos concretos. É no que acreditamos, a soma dos vários tipos de conhecimentos, um auxiliando o outro, para evoluírem e evoluirmos juntos. E por isso resolvemos trazer para este Brevis Articulus algumas análises de fatos históricos que já fazíamos àquela época, hoje mais embasadas e ampliadas pelo grande número de registros e estudos que colecionamos. Com o particular de que nossa análise científica vai se embasar, neste texto, mais pela observância geral, oriunda do tal monitoramento que descrevemos. Vamos lá:
Pensamos (ainda) ser fato conhecido e aceito por todos que as violas, tanto no Brasil quanto em Portugal, sempre atuaram em cenas distintas: instrumentos chamados de “violas” teriam sido bem aceitos tanto em festas religiosas quanto populares (navegando, por assim dizer, entre o “Sagrado” e o “profano”); também atuavam tanto nas cortes quanto no meio do povo, etc. Entre as diversas referências a respeito, destacamos (por ser menos conhecidos) mais de uma dezena de registros do início do século XIX, no Brasil, de vários viajantes estrangeiros. Estes narraram pretos tocando violas tanto em eventos religiosos, tanto dentro quanto fora das igrejas, quanto tocando “profanamente”, nas ruas e em reuniões chamadas “batuques”.
É bom sempre lembrar, “batuques”, à época, não seriam os toques de tambor, como quase todos equivocadamente passaram a interpretar até os dias atuais. É preciso analisar o conjunto das fontes de época, e muitos analisaram apenas uma ou duas fontes: “batuques” teriam sido, na verdade e na somatória de narrativas, reuniões para tocar, cantar e dançar, e eram guiadas por instrumentos chamados “violas”. Indicamos para referência: livro Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerais, do explorador francês Saint-Hilaire (1830, tomo II, p.240-242) e o livro Notas Dominicaes, do também francês Louis-François Tollenare (páginas 135-150 da edição de 1905, mas referente a fatos de 1817).
Fenômeno similar ainda acontece com o termo “pagode”, que no Brasil é nome de ritmos (de viola, e depois o samba comercial), mas também de dança (“dançar um pagode”) e de reuniões para cantar, tocar, dançar (tanto no Norte de Minas quanto na Bahia).
Já para entender o que “guiava” execuções similares, num século XIX onde já reinava a música tonal por aqui, e ainda guia, é preciso pensar na função de um instrumento de harmonia, que aponta a tonalidade a ser seguida, seja lá em qual tom e se estivessem bem afinados ou não os instrumentos. Várias e várias narrativas apontam que primeiro começava um canto-base com uma guitarre (ou variações deste termo segundo a língua do narrador estrangeiro, inclusive alguns citando o próprio nome “viola”, em português / italiano). Não, não era a “batucada” que guiava, eram os cordofones.
Ousamos afirmar, por nossa experiência e visão agora treinada cientificamente, que até os dias atuais há muita "des-paridade" (se permitem um termo inventado, e com hífen de ênfase, outro jogo de palavras sonoramente interessante). Ou seja, há uma não-paridade, um dúbio ainda presente no ar... E entendemos ser normal e coerente, pois pelo que temos visto da História dos cordofones ocidentais, a tendência é sempre de continuidade de algumas características, até que (ou a não ser que) algum evento de grande impacto social aconteça. Entendemos inclusive que a recente pandemia trará mudanças no cenário (no caso, praticamente mundial), mas não é algo automático. Tende a levar alguns anos, talvez décadas, mas que haverá mudanças significativas nos cordofones, nos próximos anos, acreditamos que haverá.
Quem sabe não será uma nova fase, de reavaliação geral das bases científicas, de reestudos, reconsiderações? Faria sentido, pois nossos atrevidos e pioneiros estudos nasceram durante (e por causa) da pandemia. Também faria sentido, num sentido de ação-reação, a Ciência sair fortalecida, após tenebroso período de grande negação pública, ampliado por estarmos cada vez mais “conectados” o tempo todo (no caso, a sensibilidade pela tragédia também esteve conectada, diariamente, praticamente on line), ou seja, foi uma enorme comoção social.
Voltando às dualidades históricas envolvendo nossas violas, por exemplo, apesar dos registros históricos e das similaridades indiscutíveis, há até quem duvide que nossas violas tenham origem nas portuguesas... Já lemos declarações nas redes nesse sentido de maneira séria, acreditando mesmo! Se isso não é certificado de pouca ou equivocada leitura, e de seguir impropérios feito manada, não sabemos o que é...
Vejamos mais alguns exemplos históricos de dualidade:
O instrumento popularmente considerado “divino”, das folias e outras manifestações folclóricas ligadas ao catolicismo, também seria um manancial de histórias de "pactos” para se tocar melhor.
O instrumento considerado por alguns como “de serviçais” (leia-se “de pretos, patifes, marginais”) também teria sido tocado por nobres, moças e padres; por exemplo, no século XVIII, violas saíram da Colônia para ser atração até em Lisboa, onde pretos como Domingos Barbosa e Joaquim Manoel tocaram “modinhas e lundus” com grande sucesso, a ponto de incomodar o famoso poeta português Du Bocage, que aos dois dedicou versos bem perversos (ops, jogo de palavras de novo, agora rimou... desculpe, a citação a poesias nos inspirou!).
Cornélio Pires (que não tocava viola, mas foi um dos pioneiros em produções importantes com elas), foi criticado por alguns, por levar as violas para o disco a partir de 1929. A principal crítica era que, para "caber" nos discos, as longas modas-de-viola originais (segundo relatos de Tonico & Tinoco) tiveram que ser limitadas a cerca de 4 minutos de duração.
No “mundo das duplas”, menos se valoriza (até hoje) os violeiros "solteiros", ou seja, os solistas, sejam cantadores ou os que tocam mais música instrumental. Na mesma época de Tião Carreiro (o genial inventor do Pagode de Viola), seu conterrâneo Renato Andrade (muito menos lembrado, mas também um gênio nas execuções), chegou a levar viola solo a mais de 36 países pelo mundo, tocando de tudo, inclusive peças eruditas, que relia com muita maestria (e rimamos de novo...).
(Um raro parêntese nessa dualidade talvez tenha sido Bambico, que tocava instrumentais, mas também cantava, era bom de estúdio e de palco, em vários ritmos, sozinho, em dupla... É menos conhecido ainda pelo público em geral, mas muito respeitado por todos que procuram saber a fundo sobre violas. Todos estes é possível “monitorar”, por assim dizer, via vídeos disponíveis pela internet).
Na década de 1960, com os solos de Heraldo do Monte em Ponteio (de Edu Lobo & Capinam) e, sobretudo, em Disparada (Geraldo Vandré & Théo de Barros), a viola "ficou famosa" e logo foi criticada por algumas duplas autointituladas “defensoras da tradição” como em "Viola Cabocla" (de Tonico & Piraci), música que começa com "não era lembrada, veio para a cidade sem ser convidada..." e termina com "... voltou pro sertão, trazendo a medalha". Estas provocações não fariam sentido na vida real, pois as violas historicamente sempre estiveram também nos grandes centros. Inclusive as primeiras, tendo vindo do estrangeiro, só podem ter chegado pelos grandes portos, para só depois terem chegado ao interior. Equivocam-se (ou querem enganar alguém?) muitos, inclusive estudiosos, ao afirmar que violas teriam “vindo da roça”: só se fosse a “roça de Portugal”, que realmente era bem mais rural que urbana, nos primeiros séculos após a invasão ao Brasil. Além disso, não há “competição por medalha”, a não ser nas cabeças pouco pensantes de alguns: instrumentos musicais populares tendem a transitar por todas as situações sociais, adaptando-se perfeitamente a cada uma delas (pelo menos desde a Grécia antiga, segundo pesquisamos).
Na década de 1970 veio a apropriação indébita feita pelo estilo hoje conhecido por "sertanejo universitário", inspirado na cultura country estadunidense, que substituiu violas por guitarras elétricas nas formações. Este estilo é criticado e até odiado por muitos do meio violeirístico. Não é bom nem falar muito a respeito, pois os radicais costumam se inflamar, mas as evidências (canto em duetos terçados, formato melódico-harmônico, etc.) nunca deixaram dúvida de que o “sertanejo universitário” tenha surgido como nova roupagem ao caipirismo, em função do sucesso comercial deste: em especial, as vendas significativas de discos de Cornélio Pires. Grandes sucessos comerciais podem não ser citados pelos tradicionalistas, mas na verdade nunca passam despercebidos pelos concorrentes, que costumam reagir e lutar para ter também um pedaço do bolo: é o capitalismo, e é normal. Não há motivo para não considerar estes fatos, que são também contextos histórico-sociais.
Na década de 1980, o fenômeno Almir Sater, principalmente pelas novelas de TV: criticado pelos mais radicais por tocar ritmos diferentes, sozinho, temas instrumentais, mas considerado praticamente tão “referência” quanto Tião Carreiro, segundo enquetes públicas que fizemos enquanto coordenadores das edições do Prêmio Nacional de Excelência da Viola nos anos de 2010 e 2013.
A dualidade é normalmente curiosa, porque na verdade não apresenta grandes rupturas (ao contrário, são como um dúbio transitar); porém, há algumas possíveis incidências de dualidades não totalmente pacíficas: coincidência ou não, em nossas pesquisas não observamos em mesmos palcos e projetos, ao mesmo tempo, alguns nomes de destaque como Tião Carreiro & Renato Andrade; Rolando Boldrin & Inezita Barroso; Ivan Vilela & Roberto Corrêa; Juliana Andrade & Adriana Farias, entre outros. É possível que haja registros pontuais, em algum momento que não tenhamos descoberto, assim como podem ser verdade alguns boatos de “rixas” pessoais antigas entre importantes personagens, que carregam a responsabilidade de serem modelos para muitos...
Um fator que colabora para surgimento de divisões, sem dúvida, é o caipirismo: este por décadas costumava querer impor que “viola só deveria tocar música caipira” e fazer de conta que o resto (a História, a música, o país, o mundo) não existiria. Um entendimento que, no mínimo, vai contra a História das violas, conforme demonstramos sempre por aqui, por inúmeros dados de época e metodologia científica musicológica. Nossas comprovações, entretanto, carecem de leitura e reflexão para serem entendidas, e o caipirismo costuma pregar que não é necessário ler muito, que a “tradição” é que tem mais valor. E, também conforme sempre denunciamos, um dos muitos aspectos da genialidade de Cornélio Pires ao “embalar para venda” sua interpretação pessoal do termo “caipira” é induzir ligação com a religiosidade, esta, típica do DNA brasileiro. É sabido que, quando há religiosidade, a maior tendência é de se deixar levar pela fé, não de procurar confirmações em dados e estudos. E também de acreditar no que é mais agradável ao pensar comum, e as histórias lançadas e difundidas por Pires são extremamente agradáveis, tanto a egos e crenças de muitos quanto a bolsos de alguns, até os dias atuais.
Quando registros de época são revelados, percebe-se que as violas de fato nunca se portaram conforme gostariam as chamadas “leis tradicionais” do caipirismo: ao contrário, mesmo com algumas peculiaridades (como a sua rara origem, a partir apenas de um nome que expressaria o nacionalismo português, como evidenciamos em nossas pesquisas), as violas seguiram caminhos que coincidem com a História dos cordofones ocidentais, o que é normal e lógico, vez que viria de séculos sendo assim.
O próprio fato de o principal modelo não ter sido chamado de “viola caipira” durante o auge do caipirismo (que atestamos por centenas de registros), comprova que o caipirismo não teria sido uma comoção social significativa. Muito longe disso, aliás: sequer no Estado de São Paulo as violas teriam “dado qualquer bola” ao caipirismo, pois teriam havido modelos diferentes no centro e no litoral não chamados “viola caipira”. Estes dados são claros, por exemplo, em pesquisas de Maynard de Araújo, publicadas na década de 1950, e até citadas por pesquisadores contemporâneos, mas sem denotarem este importante fato: haveria vários modelos de viola pelo Brasil (uma “Família”, conforme postulamos) e o nome “viola caipira” era pouquíssimo utilizado, diferente do que viria a acontecer a partir de algumas décadas depois.
É preciso olhar o passado dentro de seus contextos corretos: só a partir de meados da década de 1970 o nome “viola caipira” viria a se firmar no uso popular prioritário, e não por causa do caipirismo (como vários acreditam e querem que se acredite), mas a partir de investimento das gravadoras, principalmente a de Tião Carreiro e seu pagode de viola.
A questão é que vários dados históricos não teriam sido descobertos antes, ou estrategicamente não teriam considerados e divulgados, lembrando que a maioria das pesquisas sobre violas no Brasil prioriza o modelo Viola Caipira (e as vendas intrínsecas ao caipirismo). O passado ter acontecido segundo a conveniência interpretativa de alguns é que constituiria uma anomalia histórica, e isso achamos impossível acontecer. Pelo menos, nunca vimos uma “cultura inventada” vingar por muito tempo, a não ser as chamadas “culturas de mercado”, como o fonográfico (que não são culturas de verdade). O passado deixa rastros, inclusive nos nomes e detalhes dos instrumentos musicais populares (estudo ao qual nos dedicamos).
O nome do principal modelo de viola surgiria ou se modificaria conforme algum evento social de grande impacto, e o caipirismo imaginado por Pires (e depois superlativado por Antônio Cândido) não teria sido isso: já a ascensão do sertanejo hoje chamado “universitário” teria sido fenômeno social considerável, agravado por uma reação em forma de investimento da gravadora que desde a década de 1960 já vinha investindo numa “nova maneira de tocar viola”. Coincidência ou não, ação surgida após a “nova maneira de tocar violão” lançada pela internacionalmente conhecida e lucrativa Bossa Nova. A mesma gravadora, que divulgava o artista de maior venda do segmento (Tião Carreiro), a partir do crescimento do sertanejo moderno começou a investir também na marca forte “viola caipira”.
Gostamos sempre de frisar que querer ganhar dinheiro não é nem nunca foi ilegal, faz parte do capitalismo em que vivemos no Brasil há séculos. Mas para se alegar que haveria uma “cultura ancestral” caipira seria necessário existir dados de época, que não existem. A função da Ciência é contextualizar e deixar as coisas claras, para que cada um possa tirar suas conclusões, checando os fatos e contextos apresentados.
A sempre boa notícia é que, conforme observamos com olhar histórico-científico e sempre costumamos celebrar, a Família das Violas Brasileiras está a retomar o caminho normal de todo instrumento musical popular, que é o de vencer séculos levando consigo resquícios identificáveis. Ou seja, a sina de ser capaz de ajudar a contar muito do que passou a sociedade na qual “viveu” (por assim, figurativamente, dizer). No nosso caso, ser capaz de contar muito da História do Brasil, do diverso e multicultural Brasil, mas também seguir contando a coerente História dos Cordofones Ocidentais.
Alguns modelos talvez até possam ter ficado pra trás, pelo entendimento coletivo chamado caipirismo ter prevalecido por algumas décadas, mas, com a atual retomada do caminho, é possível até que alguns modelos reapareçam, no futuro, como é o caso de algumas violas que não tem mais registros na região Norte do país, mas que já tiveram e podemos provar... só que aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... e vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).

O HISTÓRICO DOS ESTUDOS SOBRE VIOLAS NO BRASIL
“[...] Com estes dados e documentos e milhares de outros de história da arte, chegamos à conclusão de que guitarra italiana, guitarra espanhola, guitarra francesa, viola portuguesa, viola brasileira foram nomes diferentes de um mesmo instrumento”.
(Theodoro Nogueira, em Anotações para um Estudo sobre a Viola, A Gazeta, 24/08/1963)
Viola, Saúde e Paz!
Até chegarmos hoje à contextualização de uma Família de Violas Brasileiras (dedilhadas), postulação nossa ainda muito recente e pouco (re)conhecida, estudamos a fundo a História dos cordofones ocidentais, por fontes e estudos de vários pesquisadores. Levantamos centenas de dados até então pouco divulgados e nunca antes retraduzidos e organizados cronologicamente em uma única pesquisa como o fizemos. Antes, um longo e tortuoso caminho foi traçado por estudiosos sobre as violas dedilhadas brasileiras, que foram nosso ponto de partida.
É deste histórico que trataremos neste Brevis Articulus, aprofundando um pouco mais no assunto a partir de citações feitas antes em nossa monografia e nosso livro A Chave do Baú. Acrescentamos também trazemos de presente aos leitores a transcrição completa do pouquíssimo conhecido estudo Anotações para um Estudo sobre a Viola: Origem do instrumento e sua difusão no Brasil (destacado na abertura). Não deixaremos assim, “de cara”, o link para download, mas basta seguir na leitura que logo ele aparecerá... “Bora”?
Ao que pesquisamos até agora, os estudos sobre violas no Brasil terão começado a partir dos folcloristas... Se, em 1941, Mário de Andrade (1893-1945) teria afirmado que “[...] Esse caso da viola brasileira acho tão complicado que ainda não me animei a estudar” em carta ao historiador potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), já em 1943 Mário teria encomendado alguma pesquisa histórica sobre violas ao folclorista paulista Alceu Maynard de Araújo (1913-1974). Este último, infelizmente, apesar de ter pesquisado bastante, parece não ter concluído e publicado a pesquisa histórica.
Mário de Andrade parece ter influenciado outros, vez que no mesmo ano de 1943 pode ter acompanhado publicação do musicólogo e folclorista carioca Luiz Heitor Correia de Azevedo (1905-1992): interessantes colocações sobre violas do artigo Violas de Goiaz, a partir de pesquisas de campo realizadas em Goiânia (GO), publicado na Revista Cultura Política. Artigo curto, sem conteúdo histórico considerável, mas onde destaca-se que o termo “viola caipira” não estava ainda consolidado: longe disso, aliás.
Depois disso, em 1955 chegaria a vez do já citado Maynard Araújo começar a publicar detalhes sobre violas observadas em suas, então, substanciais pesquisas de campo, vez que declarou ter entrevistado um total de 818 violeiros (!): entre 1946 e 1948 (pelo interior de São Paulo) e, entre 1951 e 1953, “[...] pelos 4 ventos do Brasil”, segundo ele. Em 29/05/1955 publicou um resumo como artigo do jornal Correio Paulistano - Pensamento e Arte e, entre 1958 e 1959, detalhamentos em diversas publicações na Revista Sertaneja. É nestas últimas publicações que comentou sobre o citado pedido feito por Mário de Andrade, e que estaria juntando dados, mas ainda estaria longe de terminar a tal pesquisa histórica solicitada. Realmente, suas poucas citações sobre origens da viola são bastante equivocadas, a luz dos dados que hoje em dia temos à disposição. Mas suas pesquisas de campo são úteis: comprovam, por exemplo, que haveria naquela época vários modelos de viola pelo Brasil. Também apontam que os modelos mais arcaicos, mais interioranos, eram bem diferentes do modelo industrializado, que curiosamente foi o que acabou por assumir depois o nome Viola Caipira.
Embora não apontando ser fruto de estudo aprofundado, cabe também citar, por causa da ordem de fatos, um depoimento feito em 1959 pelo ator e radialista mineiro Vicente Leporace (1912-1978), no encarte do LP Exaltação à Viola (Chantecler, CMG 2041). Músicas arranjadas pelo maestro paulista Élcio Alvarez (1922-1992) e interpretadas por orquestra e coro, com destaque para solos de viola do multi-instrumentista paulista Ângelo Apolônio “Poly” (1920-1985). No texto do encarte, que não observamos ter sido muito considerado em outros estudos, Leporace apontou à época que “[...] até hoje não houve um dicionarista, um estudioso de lexografia que tenha prestado atenção maior à viola!”. Uma informação considerável, vez que realmente não encontramos citação do termo em dicionários até cerca de duas décadas depois de 1959. Leporace ainda levantou dúvida sobre o nome do instrumento (entre “viola brasileira” e “viola caipira”) e, talvez por isso tudo, resolveu postular um conceito próprio, um tanto lúdico, de “viola caipira”.
A dicotonia de nomes acabou por ecoar bastante aproximadamente nos 15 anos seguintes, segundo centenas de publicações que observamos (e listamos em detalhes em nossa monografia). A repercussão se espalhou a partir de músicos e pesquisadores cujas opiniões e trabalhos foram considerados interessantes pela mídia. Além dos próprios Leporace, Élcio Tavares e Poly, foram muito citados nas décadas seguintes: Theodoro Nogueira, Rossini Tavares, Guerra-Peixe, Renato Almeida, Mário de Andrade, Geraldo Vandré e outros.
É assim que chegamos, em 1963, ao nosso destaque de abertura: o pioneiro estudo do maestro paulista Ascendino Theodoro Nogueira (1913-2012). Algumas citações a fontes de época em outras línguas, embora o maestro não tenha se aprofundado muito, teriam sido suficientes para ele perceber que “viola” teria sido apenas um nome diferente, mas não um instrumento diferente de outros existentes. Theodoro citou alguns folcloristas e outros que o teriam ajudado na pesquisa, além das poucas fontes que teria conseguido para embasar seu estudo.
Infelizmente, o próprio Theodoro teria acabado por prejudicar a difusão de seus interessantes apontamentos, pois em 1971 os publicou novamente, mas com algumas inserções e modificações, no encarte do LP Bach na Viola Brasileira. Assim, muito provavelmente por ter sido visto como uma resenha comum de apresentação de discos (como acontecido com Leporace antes), não teria chamado muito a atenção de pesquisadores contemporâneos. Vários pesquisadores nem chegam a citar o estudo de Theodoro mas, entre os que o citam, observamos: Rosa Nepomuceno (1999, p.74); Saulo Dias (2010, p.225); Rui Torneze (2010, p.7); Vinícius Pereira (2011, p.93); Roberto Corrêa (2014, p.169); Romildo Sant’anna (2015 [2000], p.296); César Petená (2017, p.15) e Laís Fujiyama (2018, p.7). Estes todos não apontam ter percebido que o texto de 1971 não seria exatamente o original e, portanto, que suas diferenças quanto ao texto de 1963 seriam importantes. Entre as diferenças, vê-se a evidência da dicotonia de nome do principal modelo da Família das Violas durante o período e a importante participação de Theodoro na discussão (dada a importância de seu nome e a inusitância do uso de viola em músicas “eruditas”). Estes últimos detalhes, entre outros, nos levaram a buscar atestações e contextualizações deste importante e (até então) não divulgado capítulo da história de nossas violas. A década de 1960 até teria sido estudada, mas a teoria apresentada não se atesta pelos dados de época, principalmente pelo grande número de dados que levantamos.
É preciso ressaltar que a maioria das pesquisas brasileiras sobre violas se evidenciara, até agora, pelo viés do caipirismo, liderado por formadores de opinião muito importantes, por seus justos méritos. A visão muito secundada, de que o modelo Viola Caipira teria tido um “avivamento” exatamente na década de 1960, lançada pelo Dr. Roberto Corrêa, pelo menos em termos de nomenclatura é desatestada por dados de época, que, diferentemente, apontam que naquela década teria havido, na verdade, uma dúvida pública sobre o melhor nome para o modelo mais conhecido. Ou seja: até os dados apontados pelo grande violeiro e pesquisador atestam que havia vários modelos de viola, mas que o modelo mais conhecido não seria ainda chamado de “Viola Caipira”. Leporace (não citado por Corrêa) já teria vislumbrado o fato em 1959 e isso se comprova por registro ter durado até meados da década de 1970.
A fim de presentear os leitores de nossos Brevis Articulus, e por termos conseguido fotos do estudo original pela generosíssima ajuda dos funcionários do Museu Zequinha de Abreu, de Santa Rita do Passa Quatro (SP), resolvemos publicar uma transcrição integral, com as ilustrações, mas acrescentada de comentários nossos, inclusive juntando as diferenças observadas depois, em 1971. Deixamos o PDF à disposição para baixar gratuitamente em alguns dos diversos Grupos Facebook que monitoramos, como o grupo Viola Brasileira em Pesquisa.
O prometido acesso então pode ser feito, por exemplo e entre outros, pelo link: Viola Brasileira em Pesquisa. Logo após a publicação de Theodoro, em 1964, o folclorista paulista Rossini Tavares de Lima (1915-1987) publicou o artigo Estudo sobre a Viola, na Revista Brasileira de Folclore, onde citou que Theodoro Nogueira “[...] foi o primeiro compositor a contribuir para a integração da viola caipira, sertaneja ou brasileira na música erudita atual” (como se observa, havia dúvida sobre o nome mais apropriado). Sem dúvida Theodoro teria então influenciado na criação do artigo de Rossini, mas as citações históricas foram poucas, sem apontamento de fontes e sem fundamentações.
Embora sem aparente ligação com as violas, um estudo publicado também em 1964 viria marcar até os dias atuais o caminho das violas brasileiras: trata-se do livro Os Parceiros do Rio Bonito, do sociólogo carioca Antônio Cândido de Mello e Souza (1918-2017). Com indicação de ter sido fruto de pesquisa de campo culminada em tese de doutoramento, citações simples (sem desenvolvimentos científicos nem apontamentos de dados de época) feitas naquele livro apontam curiosamente serem consideradas como fatos, uma espécie de “aval científico” à interpretações publicadas em textos artísticos e defendidas enfaticamente entre 1910 e 1945 pelo empresário cultural paulista Cornélio Pires (1884/1958). Candido ainda sugeriu ampliação do conceito para uma grande “região caipira” surgida a partir do século XVIII, que seria a “paulistânia”...
É importante lembrar que teria sido apenas uma tese, e no livro as ligações são apenas citadas, sem qualquer aprofundamento científico nem dados de época. O tratamento é como se fossem “notório reconhecimento público”. Desta forma, Candido teria inaugurado um entendimento coletivo ainda vigente hoje, onde, simplesmente pelo sobrenome “caipira”, o modelo mais famoso das violas estaria ligado a uma “cultura ancestral”. Entre centenas de citações por pesquisadores, não se observa nem uma vez a tese de doutoramento de Candido, apenas o citado livro, onde detalhamentos e desenvolvimentos simplesmente não existem. O importante estudioso inclusive parece ter publicado apenas este único trabalho sobre o tema, tendo mudado os rumos da carreira após não ter conseguido se eleger a Deputado por São Paulo: uma candidatura que teria acontecido exatamente na época que teria depositado sua tese (década de 1950). Já sobre o conceito “paulistânia”, descobrimos que teria sido baseado em textos do eugenista paulista Alfredo Ellis Jr. (1896-1974), estrategicamente não citado nominalmente por Cândido no livro. Ellis Jr. teve carreira política e até conseguiu levar os paulistas à guerra contra o restante do país com suas ideias, na década de 1930, mas jamais teria alegado ligação da “paulistânia” com o caipirismo antes da publicação de Candido, além de, naturalmente, não ter provado haver cultura diferente pelo território e nem que os paulistas seriam superiores a outros seres humanos.
O nome Viola Caipira só viria mesmo a se consolidar, como hoje é conhecido, por ações comerciais de gravadoras, a partir de meados da década de 1970, mas a maioria dos pesquisadores e outros adeptos do caipirismo sugere entender que teria existido “desde sempre” no Brasil. Seria como se todas as “violas”, realmente mencionadas no Brasil desde o século XVI, tivessem sido “violas caipiras” (ou que deste modelo moderno teriam sido gerados os outros modelos, embora comprovadamente mais antigos, diferentes e que nunca teriam sido citados por este nome antes).
Se fossem simples equívocos, seriam o de interpretar o passado como se fosse equivalente ao presente: mas isso é aspecto muito básico para que tantos pesquisadores não tenham percebido... As evidências são de que o caipirismo teria atrativos suficientes para gerar e manter sem comentários e questionamentos este estranho comportamento.
O que nos interessa apontar aqui é que o entendimento coletivo chamado “caipirismo” acabou por tirar a atenção de estudos sobre outros modelos de viola e, principalmente, diminuiu a possibilidade de perceber dezenas (se não centenas) de evidências de que, na verdade, o que sempre existiu no Brasil, assim como em Portugal, é a presença de uma Família de Violas, com vários modelos diferentes, interligados por contextos musicológicos e históricos atestáveis. Esta postulação é inédita nossa, pelo menos por enquanto, pois pode acontecer de virem a querer “fazer de conta” que não a publicamos e tentarem tomar de nós qualquer crédito... Parece piada, mas é trágico, pois já aconteceram coisas semelhantes antes, e a resistência ao Conhecimento é um fato.
Não é à-toa que adotamos o personagem de não ter “papas na língua”: é um tanto por autodefesa... e outro tanto, confessamos, por chatice, pirraça e anarquismo mesmo. Por favor, desculpem aí...
Felizmente não foram todos os estudos sobre viola que se prenderam ao caipirismo: por exemplo, em 1981 foi publicado o livro Viola de Cocho, um alaúde brasileiro, fruto de pesquisas da musicóloga paulista Dra. Julieta de Andrade. Outros dois estudos pioneiros são o de Cíntia Ferrero (sobre Violas Brancas, em 2007) e o de Cássio Nobre (sobre a Viola Machete, em 2008). Coincidência ou não, estes três modelos são hoje abordados em dossiês de Reconhecimento oficial de Patrimônio Imaterial...
Apesar da afirmação da Dra. Julieta de que as violas “teriam vindo dos alaúdes” (colocação consensualmente rejeitada pelos musicólogos mundiais, até porque os formatos de caixa são diferentes), do estudo dela “pescamos”, por assim dizer, dicas sobre variações de nomes de cordofones pelos séculos, por várias línguas de culturas diferentes, que depois atestamos terem sido feitos originalmente pelo musicólogo alemão Curt Sachs (1881-1959), no livro The History of Musical Instruments. Aprofundamos, alargamos e desenvolvemos muito este princípio, mas, naturalmente, não “inventamos nada do zero”. Não podemos negar que graças a estudos pioneiros e corajosos (e pouquíssimo considerados pelos defensores do caipirismo) é que hoje atrevidamente chegamos a desafiar colocações tradicionais da musicologia, linguística, antropologia e outras ciências, com descobertas inéditas advindas de um banco de dados que nunca teria sido antes aplicado na História dos cordofones ocidentais.
Atrevidos? Sim... mas é porque atestamos tudo cientificamente, não por conveniência ou pelo que mais nos agradasse. Buscamos e organizamos dados como não vimos ninguém ter feito antes. Somos honestos, mas de bobos só temos o jeito de andar e a chatice de ficar sempre provocando.
O nosso estudo partiu do pequeno acervo de brasileiros sobre violas, de onde selecionamos estatisticamente os 13 mais citados. As datas de depósito apontam as primeiras décadas do século XXI e entre estes, então, importantes nomes, seriam, pela ordem cronológica: Rogério Budasz, Andréa Carneiro de Souza, Eric Martins, Cíntia Ferrero, João Paulo Amaral, Gisela Nogueira, Cássio Nobre, Adriana Ballesté, Sandro Dias, Marcus Ferrer e, curiosamente, o estudo sobre violões de Márcia Taborda (que teve apontamentos históricos sobre violas ainda inéditos, à época). Nas 13 “fontes-base”, principalmente, reinvestigamos todas as citações, checando-as uma por uma desde as possíveis publicações originais, ou as mais remotas que fosse possível. Estas fontes nos levaram a textos em diversas línguas europeias como latim, occitano, catalão, espanhol, francês, italiano e variações do inglês e do alemão pelos séculos. Retraduzimos tudo com atenção a detalhes às vezes não observados normalmente em traduções convencionais, por aplicarmos nossas experiências em visões musicológicas, de poeta/compositor e de escritor (análise de discurso, percepção artística, etc.). Várias descobertas e decisões investigativas sobrevieram destes processos, como a posterior ampliação de busca de registros sobre o termo “viola” em todas as línguas relativas, desde o latim do século II aC., pois atestamos pouca consideração a violas dedilhadas pelo resto do mundo. E também a evolução da nossa metodologia, que foi sendo testada e confirmada várias vezes. Esta tal “metodologia” nada mais é que a tal da “A Chave do Baú” que escolhemos para dar nome ao nosso livro. E ela abre mesmo, confiram.
Criamos assim uma visão bem embasada historicamente sobre o estudo das violas no Brasil. Um exemplo é uma corrente de busca de brasileiros por possíveis origens das violas citadas nos primeiros séculos: vários pesquisadores teriam buscado informações em estudos de portugueses, dos quais se destacam Ernesto Veiga de Oliveira (1910-1990) e Manuel de Morais. Além das 13 fontes-base, esta corrente foi observada em estudos de Paulo Castagna, Marcos Holler, José Ramos Tinhorão e outros, mas, apesar da pista observada por Theodoro Nogueira em 1963 (que, conforme já dissemos, é pouco conhecida), nenhum outro pesquisador teria observado que as violas portuguesas (e, portanto, também as nossas) não teriam evidência de existirem realmente antes de meados do século XVIII, senão apenas um nome “viola” aplicado a vários cordofones similares, procedentes de culturas concorrentes de Portugal.
Pode parecer um detalhe muito pequeno, quase de semântica, mas a constatação desta particularidade nos guiou para evidências concretas de contextualizações histórico-sociais que, por sua vez, revelaram verdadeiros “tesouros perdidos” por toda a História dos cordofones europeus. Inclusive nos levaram a um aprofundamento de estudo sobre nomenclaturas de instrumentos musicais que ainda não teria sido feito, nem por musicólogos, nem por linguistas nem por outros estudiosos de qualquer Ciência... Sim, sim, não conseguimos evitar: parecemos atrevidos demais (pra não dizer arrogantes e megalômanos), mas é a pura verdade. Não por sermos melhores que ninguém, mas por termos vislumbrado caminhos que outros não apontaram ter percebido, e por isso mergulhamos neles, com muita dedicação. São basicamente estes os nossos méritos, além de tentar compartilhar as descobertas ao máximo, sobretudo com nossos pares que não tem muito hábito de leitura.
Nosso destaque final sobre a história dos estudos sobre viola no Brasil recai sobre os dois maiores formadores de opinião do meio, os doutores Ivan Vilela e Roberto Corrêa, ambos com carreiras multitalentosas (como músicos, arranjadores, produtores, pesquisadores e outras atividades). As duas carreiras apontam início aproximadamente na década de 1980. Ambos naturalmente entraram na citada lista dos “13 mais”, porém com destaque, por serem, de longe, os mais citados e secundados até os dias atuais; citados não apenas em trabalhos sobre viola, mas de diversas outras áreas, tanto do Brasil quanto do exterior. Estas duas maiores referências (por seus inegáveis e múltiplos méritos) surgiram não só nas citações, quanto na origem de praticamente todos os principais eventos sobre a viola nas últimas décadas... Não duvide, cheque: nossa monografia tem apontamentos individuais referenciados de uso do termo “viola” desde o século XVI até o ano de 2021 no Brasil: não é brinquedo não...
Grandes poderes, maiores responsabilidades, diria o tio do Homem-Aranha (ou algum provérbio antigo não muito bem identificado hoje em dia): os doutoramentos depositados respectivamente em 2011 por Vilela e 2014 por Corrêa são, de longe, as fontes mais citadas de informações sobre as violas, mas, na verdade, ambos tiveram foco no caipirismo, não em musicologia histórica. Ambos assumiram a interpretação pessoal de Cornélio Pires, reforçada pelas citações simples de Antônio Cândido e mais de uma centena de grandes estudiosos que os seguem até os dias atuais (na maior parte, da área de sociologia). Fizeram assim, sem sinal de qualquer contestação ou dúvida, muito menos de ampliações dos desenvolvimentos anteriores nem indicações de fontes de época. Sim, para algumas áreas é plenamente aceito que um estudo se baseie em citações de terceiros... Mas para falar de História, de passado, é muito recomendável apresentar evidências em registros de época.
Em resumo, para os dois pilares da viola atuais, viola é a caipira, por ser da região caipira “paulistânia”, e é a mais importante, posto que a mais conhecida. Ao assumirem suas opções pessoais de serem “caipiras com orgulho”, colaboram decisivamente para o afastamento coletivo de estudos sobre outros modelos e de constatações importantíssimas, que ficam embotadas por um entendimento coletivo que tende a considerar apenas o modelo de nome Viola Caipira nas equações investigativas.
De certa forma, “bom pra nós”, por terem deixado porteira aberta para nossas inéditas descobertas (nós, que a princípio, somos infinitamente menos habilitados que eles e tantos outros); entretanto, por outro lado, enquanto estes dois importantes nomes não estiverem dispostos a discutir e, possivelmente, rever algumas de suas colocações e entendimentos publicados, mais tempo levará para que a sociedade em geral descubra vários detalhes interessantíssimos sobre nossas violas. Nossas violas são tesouros em diversos aspectos, principalmente como testemunhas de mudanças histórico-sociais vividas por toda a história ocidental. Isso está muito longe de ser “pouco”, e pode significar talvez até um recontar de alguns trechos da História (pelo menos, da História dos cordofones).
Temos a honra de conhecer estas duas “feras” há alguns anos e algumas vezes já abusamos da grande paciência e educação que ambos têm, tentando interpelá-los diretamente: tudo indica que deve demorar algum tempo até que venham a público pelo menos discutir a hipótese de que pudessem ter estado enganados em alguns detalhes, ou que teriam deixado passar algumas coisas...
É importante citar que tanto Ivan Vilela quanto Roberto Corrêa (e, portanto, praticamente todos os que estudam e admiram violas) não negam a existência dos outros modelos (aí já seria demais também, né?). Só que normalmente os demais modelos são tratados como simples curiosidades, ou que teriam sido gerados a partir do modelo Viola Caipira... Neste último caso, é pertinente repetir: o modelo Viola Caipira tem citações a partir de 1900, por iniciativa de luthiers estrangeiros (Di Giorgio, Giannini e outros), que se basearam no formato das antigas guitarras espanholas. Foi desenvolvido na grande capital São Paulo (portanto, de “caipira”, no sentido de “interiorana” não tem nada). Já o nome “Viola Caipira”, embora com citações pontuais desde aquela época, resistiu a todo o período de surgimento e reafirmação do caipirismo, tendo vindo a se consolidar, comprovadamente, só a partir de meados da década de 1970. Esta última informação cavamos inédita e trabalhosamente, a partir de centenas de publicações, utilizando, além da técnica estatística dos dados, contextos histórico-sociais que observamos também em toda a História dos cordofones ocidentais, não apenas no Brasil.
A boa notícia é que apesar do pequeno atraso causado pelo caipirismo, as violas apontam estarem a retomar o caminho normal. O Dr. Paulo Castagna, em 2017 (antes de conhecer e, honrosamente pra nós, ter revisado nossos estudos) já tinha apontado indícios de uma família de violas, não de um instrumento predominante (porém, sem maiores contextualizações e sem citar alguns modelos). Ivan Vilela já tem se apresentado há algum tempo usando o nome “viola brasileira”. Roberto Corrêa, após publicar alguns materiais envolvendo outros modelos desde 2016, vem se apresentando atualmente com vários deles juntos em um mesmo espetáculo, de onde pode-se acreditar que, com o tempo, “descobrirá uma forma” de contextualização histórico-científica de todos os modelos existentes. Quando encontrar esta forma, certamente deverá publicá-la em forma de estudo, pois é um pesquisador. Acreditamos inclusive que ambos, Vilela e Corrêa, vão acabar por aceitar até o modelo Viola 12 Cordas (da Família, o modelo mais rejeitado, cuja descoberta devemos todos aos esforços do professor e violeiro paulista Júnior da Violla).
Por nossa metodologia científica, não há motivos para rejeitar nenhum dos modelos consolidados no Brasil que tenha lastro histórico observável e utilização por vários Estados, e o modelo Viola 12 Cordas tem tudo isso, mais até que o modelo Viola Caipira.
Por nossos contatos pessoais, sabemos que vários pesquisadores já entendem nossas colocações, pois checaram os dados apresentados. Entretanto, terão ainda de encontrar alternativas de tratamento público do assunto, vez que a adesão ao caipirismo rende ganhos interessantes com aulas, shows, palestras, etc. Aliás, o caipirismo sempre foi rentável para alguns, desde que surgiu. Não temos como provar, mas as evidências são todas de que teria sido criado e fomentado para lucro (e não há qualquer ilegalidade nisso, somos um país capitalista). Estudos não precisam atrapalhar lucros, ao contrário, só podem é credibilizar mais as atividades, trazendo mais lucros e mais honestos.
Tudo aponta que estamos em uma fase de transição, como tantas que observamos em nossos estudos: a tendência é que em algum tempo a Ciência prevalecerá (até aos atrevimentos e jocosidades dos nossos escritos). As pesquisas e entendimentos sobre as violas brasileiras tendem a retomar seu caminho de crescimento e podem vir a se tornar um grande orgulho nacional e internacional. Temos dito e vamos tentar acompanhar tudo... mais aí já serão outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... e vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
ARAÚJO, Alceu Maynard de. A Viola Cabocla [compilação de artigos]. Revista Sertaneja, São Paulo, v. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 - de jul. 1958/maio 1959. São Paulo: [internet], 1964
BALLESTÉ, Adriana Olinto. Viola? Violão? Guitarra?: proposta de organização conceitual de instrumentos musicais de cordas dedilhadas luso-brasileiras do século XIX. 2009. Tese (Doutorado em Música) – Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2009.
BUDASZ, Rogério. The Five-Course Guitar (Viola) in Portugal and Brazil in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries.2001. Tese (Doutorado em Filosofia) – Graduate School University of Southern California, Califórnia (EUA), 2001.
CASTAGNA, Paulo. Fontes bibliográficas para a pesquisa da prática musical no Brasil nos séculos XVI e XVII. 1991. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Artes) – Universidade de São Paulo, 1991.
CASTAGNA, Paulo (criador). Viola Brasileira. [artigo de discussão coletiva]. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. San Francisco, CA: Wikimedia Foundation. 2017.
CORRÊA, Roberto. Viola Caipira: das práticas populares à escritura da arte. 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2014.
DIAS, Saulo Sandro Alves. O processo de escolarização da viola caipira: novos violeiros (in)ventano novas possibilidades. 2010. Tese(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2010.
FERRER, Marcus de Araújo. A viola de 10 cordas e o choro: arranjos e análises. 2010. Tese (Doutorado em Música) – Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2010.
FERRERO, Cíntia Bisconsin. Na Trilha da Viola Branca: aspectos sócio-culturais e técnico-musicais do seu uso no fandango de Iguape e Cananéia SP. 2007. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes da UNESP, São Paulo, 2007.
HEITOR, Luiz. Violas de Goiaz. Revista Cultura Política, Rio de Janeiro, ano 3, nº 34, nov. 1943.
HOLLER, Marcos Tadeu. Uma História de Cantares de Sion na terra dos Brasis: a música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-1759). 2006. Tese (Doutorado em Música) – Instituto de Artes da UNICAMP, Campinas SP, 2006.
MARTINS, Eric Aversari. A viola caipira, a modinha e o lundu. 2005.Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2005.
MORAIS, Manuel. A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789). Nassare Revista Aragonesa de Musicología XXII, Zaragoza [Espanha], v1, nº1, p. 393-492, jan./dez. 1985.
SOUZA LIMA, Cássio Leonardo Nobre de. Viola nos sambas do Recôncavo Baiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.
NOGUEIRA, Gisela Gomes Pupo. A viola com anima: uma construção simbólica. 2008. Tese (Doutorado em Interfaces Sociais da Comunicação) – Escola de Com. e Artes da USP, São Paulo, 2008.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000 [1964].
PETENÁ, César Augusto. A viola brasileira na sala de concerto: Os sete prelúdios de Theodoro Nogueira. 2017. Monografia (Bacharelado em Música) – Faculdade Integral Cantareira, São Paulo, 2017.
PINTO, João Paulo do Amaral. A viola caipira de Tião Carreiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, SP, 2008.
SOUZA, Andréa Carneiro de. Viola – do sertão para as salas de concerto: a visão de quatro violeiros. 2002. Dissertação (Mestrado em Música) – Centro de Artes da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2002.
TABORDA, Márcia Ermelindo. Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 1830/1930. 2004. Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.
TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998.
VILELA, Ivan. Cantando a própria história. 2011. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia da USP, São Paulo, 2011.
VIOLLA, Júnior da. Viola de doze cordas: as seis ordens de uma ilustre desconhecida. [revisão independente de monografia]. São Paulo, ed. do autor, 2020.

LACUNAS: de DEBUSSY a TIÃO CARREIRO
“O Pagode de Viola, afluente recente e ladino, é enxerto repicado, chibatado e trepidante do Recortado com o Cururu, admirável pelos ornamentos veementes e sensacionais da viola, tendo os toques secos e desencontrados de violão no contratempo.”
(Romildo Sant’Anna, em A Moda é Viola - Ensaio do Cantar Caipira, 3ª ed., 2015)
Viola, Saúde e Paz!
Começamos do final para não precisar explicar depois, aos que ainda não souberem, o que seria um “Pagode de Viola”. A boa definição, que apontamos em destaque, também nos serve para homenagear um dos nossos maiores ídolos brasileiros em termos de pesquisas: o escritor, jornalista e pesquisador “Romildo Sant’Anna” (para os íntimos), mas sem esquecer que ele é mestre em linguística, doutor em teoria literária e livre docente em literatura comparada. Sua “obra-master”, A Moda é Viola, teve primeira edição no ano de 2000, e infelizmente só tivemos contato com ela e seu autor a partir de 2016. É daquelas obras que indicamos com ênfase, por ser difícil encontrar nela alguma colocação sem fartas e precisas referências... Nós até conseguimos localizar algumas poucas lacunas, mas é porque somos chatos, obsessivos, “exaustivos” mesmo (em todas as acepções da palavra): desafiamos outros que também sejam capazes de encontrar “links quebrados” neste livro, até porque o Dr. Sant’Anna costuma publicar revisões periódicas, que trazem também muitos conteúdos complementares. Salve engano, já chegaram a cinco reedições, mas que, de qualquer forma (e festejamos por isso), é “por enquanto”, pois o homem não para! Bom seria fossem todos assim...
Durante as pesquisas históricas sobre violas é quase impossível não inserirmos visões sobre teoria musical, atreladas à História, linguística, estatística e outras ciências, como fizemos no livro A Chave do Baú. E é o que continuamos em Brevis Articulus como este, quando levantamos a questão: haveria qualquer ligação possível entre o músico francês Claude-Achille Debussy (1862-1918) e o violeiro mineiro José Dias Nunes “Tião Carreiro” (1934-1993), ou entre os estilos que representaram?
Precisamos (e queremos) aproveitar para dar outros dois créditos: primeiro, que nos inspiramos em recente resumo sobre o assunto que fizemos em postagem Facebook do amigo e “sócio” Aurélio Miranda, do Matogrosso do Sul; e, para não mentirmos sozinhos, credibilizamos atualizações sobre estudos e fofocas musicais ocidentais contemporâneas com o super competente mestre Matheus Bitondi, de São Paulo (este último, candidatíssimo ao Prêmio Nobel da Paciência, por sempre nos atender em nossas inortodoxas demandas, sejam musicais, linguísticas, acadêmicas, o que for... acho que se consultarmos até sobre ufologia ele nos atenderia).
Já que começamos do final, seguiremos nossa viagem nesse “trem” de trás pra frente mesmo: segundo o sítio oficial apoiado pela família do artista, Tião Carreiro teria inventado o tal Pagode de Viola em 1959. Coincidência ou não, este criativo e marcante toque de viola teria surgido, então, logo em seguida a uma verdadeira revolução acontecida na música brasileira: a bossa-nova, muito marcada por um também “toque diferente”, só que ao violão, trazido a público com estrondoso sucesso a partir de 1958 pelo baiano João Gilberto (1931-2019). Só em 1958, a emblemática interpretação ao violão da música Chega de Saudade (de Jobim e Vinícius)teve duas gravações, a segunda delas cantada pelo próprio João, de maneira considerada bastante inusitada à época, tendo tido enorme reação positiva de crítica e de público, como ainda é, até os dias atuais.
Além de terem sido duas “maneiras diferentes de tocar”, criadas e lançadas na mesma época, via cordofones populares, destacamos entre as possíveis coincidências que quem teria ajudado a dar nome ao novo toque de Tião, além de ter sido autor de duas entre as primeiras composições gravadas sobre o novo ritmo (Pagode e Pagode em Brasília, ambas em 1959), foi o paulista Teddy Vieira (1922-1965). Teddy, à época, era diretor na gravadora de Tião, a Chantecler, ou seja, talvez possa ter sido mais do que uma simples coincidência, não?
Será que um diretor de uma grande gravadora teria percebido que um novo ritmo estava a balançar as estruturas da música brasileira, já então com reflexos até no exterior, e assim teria resolvido dar ideia de se inventar também um novo ritmo para a viola, com objetivo de também faturar algum com a nova onda, a nova bossa?
Não temos como provar, mas entendemos que, sendo um bom diretor como parece ter sido, é bem possível que Teddy e sua equipe tenham pensado exatamente isso. Assim como, quando o hoje chamado “sertanejo universitário” começou a fazer sucesso (alguns anos mais tarde, no início da década de 1970), a mesma gravadora teria investido ainda mais na viola, para rivalizar com as guitarras em ascensão e que rapidamente se tornaram sucesso de vendas. Terão também passado a divulgar com grande ênfase o nome “viola caipira” (pouco usado até aquela década), para aproveitar a já comprovadamente lucrativa sugestão de ligação com uma cultura ancestral que o sobrenome aponta. E ainda fortaleceram a divulgação empareada da “viola caipira que toca pagode de viola”, que sabemos, gera bons dividendos até os dias atuais. Já destas ações a partir da década de 1970, que apontam um olhar comercial bem atento da mesma gravadora e envolvendo o mesmo artista, podemos apontar com centenas de referências de época, se necessário.
Deixamos perguntas e apontamos dados e registros para cada um poder pensar a respeito, se quiser. Até onde entendemos, este tipo de demonstração baseada em dados e fatos não é teorizar, e não teria sido apresentado assim por ninguém antes: exatamente por que pesquisamos e trazemos a público.
Musicalmente (quer dizer, “com base em teoria musical”), o Pagode de Viola teria alguma coisa a ver com a bossa-nova? Hum... Nunca vimos ninguém falar nada assim também, será que devemos nos atrever? Claro que sim!
Observemos que, pela definição em destaque, faz parte da origem do Pagode de Viola alguns chamados “contratempos ao violão”: um tipo de toque hoje conhecido como Cipó Preto. Trata-se, como bem apontou nosso ídolo Romildo, de acentos (ou “ataques”, ou “toques secos”) dos acordes do violão nos chamados “tempos fracos” dos compassos, caracterizando assim os chamados “contratempos”, para ser fiel à nomenclatura usada. Não conseguimos evitar citação de fontes que lemos, pedimos desculpas se isso incomodar. A “criação”, ou “adequação ao toque da viola” do tal Cipó Preto é requisitada pelo maestro Itapuã Ferrarezi, embora sem que tenha sido ele a dar este nome. Itapuã teria assumido inspiração no ritmo cubano Rumba (segundo entrevista concedida a Roberto Corrêa), mas, na verdade, este tipo de acento deslocado é observado tanto em rumbas, quanto em reggaes e até em xotes e lundus, mesmo quando executados por outros instrumentos, não especificamente só por violões. Chamamos atenção que guardem na memória: é observado em ritmos que apontam ter tido origens na música africana...
Ora... Quais teriam sido as novidades que João Gilberto apresentou? Qual teria sido essa tal de “bossa” nova? Pelo que pesquisamos, estariam entre as “novidades” o deslocamento de ataque, por acordes e pelo canto, ao ritmo base (que seria o samba, outro ritmo de origem africana). Não são coincidências interessantes? Ah, sim, não podemos esquecer: o Pagode de Viola também segue, de forma geral, a “linha mestra” rítmica do samba, chamada popularmente de “sincopada”, embora a definição teórica de síncope não seja exatamente o que mais caracteriza o samba. “Sincopado”, no caso, seria mais no sentido de “desencontrado” mesmo. E também não podemos deixar de observar que o nome “pagode” sempre teria sido, desde bem antes de 1959, o nome dado a reuniões de pessoas para tocar, cantar e dançar. Nestas reuniões se tocaria “samba”, segundo os cariocas, com certa razão, mas como bons mineiros que somos, sabemos que em Minas Gerais, inclusive na região onde Tião Carreiro nasceu, se tocava em reuniões similares um ritmo ainda chamado de “batuque” (que, infelizmente, está quase a cair em desuso).
Sim: o mesmo nome “batuque”, largamente citado, por exemplo, por exploradores estrangeiros em várias regiões do Brasil, no início do século XIX: um ritmo embasado harmonicamente em pequenos cordofones, chamados de “machinho”, “machete” ou... “violas”! Alguns cariocas e seguidores fiéis costumam afirmar que a reunião (e o ritmo, e a dança) já eram chamados de “pagode” desde os primórdios, mas a verdade, segundo os registros, é que o nome teria sido “batuque” (ou baduca, e outras variações próximas, observadas em textos em línguas estrangeiras). Algumas vezes, conforme menor número de registros, “lundum” ou similar teria sido usado com os mesmos significados (dança, ritmo, reunião), mas “pagode”, sem dúvida, é um termo bem mais moderno.
Pedimos desculpas mesmo, mas não conseguimos deixar de citar fatos e dados comprováveis, de época: por favor, sejam misericordiosos com esta nossa fraqueza... É que sempre optamos por “referenciar a História”, ao invés de inventar histórias.
Também não nos fugiu à observação que, na verdade, a técnica de João Gilberto teria registros anteriores similares: por exemplo, com contratempos que o paraibano José Gomes Filho “Jackson do Pandeiro” (1919-1982) já teria trazido a público desde 1953, com músicas como Forró em Limoeiro e Sebastiana; esta última, onde o mote-refrão é exemplo claro de contratempos: “... e gritava a, é, i, ó, u, ipisilone...”. Se tiver dúvida, cada letra do “a-e-i-o-u” aponta exatamente o espaço entre os tempos da música, que dão a sensação de “desencontro” do canto com o acompanhamento.
Sim, Jackson do Pandeiro também chamou a atenção da crítica e do público na época, por seu talento. Não tanto quanto a bossa-nova depois chamaria, alavancada pelo interesse carioca explícito em apoiar, mas chamou. A diferença técnica é que Jackson dividia os acentos com as notas cantadas; já João Gilberto, também nordestino, os dividia pelo canto (que fazia questão de interpretar mais retilíneo e com volume baixo, mas isso não interfere na acentuação rítmica em relação aos tempos do compasso), mas também “redividia” usando os acordes, atrasando ou antecipando os ataques deles com relação ao que é o mais convencional (que é aplicar os acordes nas chamadas “cabeças dos tempos”). João Gilberto não fazia acentos constantemente com os acordes, como um “Cipó Preto”, mas aqui e ali, “caía” com eles “fora do tempo”, para dar brilho e caracterizar sua interpretação.
Outra característica marcante de João Gilberto foi a utilização de acordes considerados mais sofisticados, com escalas e intervalos tipicamente utilizadas pelos jazzistas, assim como também fez muito outro grande nome da bossa-nova, o carioca Tom Jobim (1927-1994). Jobim assinou os primeiros sucessos de João Gilberto, que não apresentava composições próprias, mas de bobo não tinha nada, e conseguiu a simpatia do já reconhecido Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Que Jobim estudava Debussy e muito jazz, até poderíamos demonstrar, mas ainda é cedo para chegar lá e fugiria um pouco do tema aqui.
Quanto às harmonias, o Pagode de Viola (lançado a partir de composições autorais), se atém mais, até hoje, a acordes mais simples, “caretas”, às vezes apenas com as principais três notas básicas, que inclusive equivalem às notas das cordas soltas, das afinações mais usadas em violas (1ª, 3ª e 5º notas da escala maior tonal, ou seja, intervalos de terças e de quintas). Estas três notas, emitidas juntas, é o mínimo exigido para caracterizar o que Caetano chamou de “acorde perfeito maior” e é por isso que afinações como a da maioria das violas são chamadas “abertas” (quer dizer, soltas elas já partem de um acorde maior). Isso é bem básico, bem diferente dos tetracordes e acréscimos jazz-bossa-novísticos...
Não podemos deixar de notar que no Pagode de Viola há uma repetição bem característica, baseada em dois acordes (“graus V-I” ou “dominante-tônico”, segundo as teorias da chamada Harmonia Funcional). Coincidência ou não, o mesmo tipo de estrutura, com apenas estes dois tipos de acordes, é a fundamentação de outro ritmo que citamos, o tal “batuque mineiro”, mas também aparece em diversos ritmos mais simples, antigos e até considerados folclóricos, como o cururu citado por Romildo, no destaque de abertura deste Brevis Articulus.
Outro acréscimo (ou anexação) que ocorre no Pagode é o chamado recortado, técnica que consiste em abafar as cordas com a mão que comanda o ritmo (não a que desenha os acordes) e que, no caso, no toque da viola, marcam exatamente o tempo forte e a síncope (ou contratempo) logo em seguida. Nesta repetição “interlúdica” do Pagode, marca também a troca entre os dois acordes da viola; diferente do Cipó Preto feito ao violão, a troca de acordes na viola acontece bem na chamada “cabeça” dos tempos (sem desencontros).
Uma coincidência interessante, mas apenas porque ilustra nosso texto, onde tanto falamos de “tempos fortes e contratempos”... Caso tenha dificuldade de entender, observe atentamente quando acontecem os grupos de quatro recortados ou “abafados de mão” num Pagode de Viola (é fácil perceber o “tchapt-tchapt”): se estiver bem tocado, o primeiro recorte é no tempo 1; o segundo, entre os tempos 1 e 2; o terceiro, no tempo 3 (vai perceber que o acorde muda), com o quarto “tchapt” logo a seguir.
Isto, naturalmente, num Pagode tradicional, em 4 tempos, como o samba também é, pois tem “um maluco” por aí”... (é nóis mess)... que, apenas como exercício, compôs um “pagode ternário”, ou seja, um pagode em três tempos, aplicando recortados entre os tempos 2 e 3... O vídeo, de gravação caseira, se chama “Trepagode” e está em nosso Canal Youtube. E sim, fomos “apredejados pela internet”, por autoproclamados “entendedores e defensores da tradição”, mas não chegou (daquela vez) a sermos ameaçados de morte, então, meno male. A intenção é pura (mas atrevida) de demonstrar que, se Tião criou, outros podem criar, pois os estudos sobre teoria nos habilitam a entender o que foi feito e até tentar ir além. Tentamos fomentar estudos, pois colhemos muito deles. Não “sacaneamos” (por assim brincando dizer), via estes estudos, apenas Tião, como também todos os demais citados neste texto (até Bach!) e vários outros, principalmente pelo que nos revelam e habilitam nossos profundos estudos sobre melodias. Desculpa aí...
Tecnicamente, no Pagode de Viola há o que chamamos de um “interlúdio de expressão”, fartamente repetido entre estrofes, que estaria entre características que Romildo chamou de “ornamento”. Analisando este tal interlúdio em uma música em tom “Mi maior” [E], o acorde dominante correspondente seria o chamado “Si com sétima menor” [B7]; porém, desde, Tião teria usado, ao invés de apenas um acorde, uma variação criativa, onde os dedos ficam deslizando por notas contíguas, mas que pode-se dizer que seja composta de dois acordes relacionados ao B7 convencional: um acorde que seria um “Si com sexta” [B6] e outro, um “Si suspenso com sétima menor” [Bsus4(7)].
Não: provavelmente ninguém nunca tenha citado isso assim antes, pelo menos no que monitoramos das raríssimas análises de formação de acordes publicadas por “violeiros”. Caso tenha curiosidade em comprovar, apresentamos em nosso Canal Youtube também o vídeo “O mito do Trítono e o Pagode de Viola”, onde demonstramos nota por nota este curioso desenvolvimento, que entendemos possa ter sido criado até instintivamente pelo criativo Tião Carreiro. Desculpa aí, mais uma vez...
O que interessa é: até podem não ser intervalos típicos do jazz, como os da bossa-nova, mas alguma sofisticação, mesmo que intuitiva, coincidência ou não também é observada no Pagode de Viola...
Os tais intervalos hoje chamados de “típicos de jazz” (ou “escalas do jazz”), eram já famosos na época do lançamento da bossa-nova. Os mais observados seriam o emprego de sétima maior e nona (no acorde tônico), e inserção de nonas, sextas, décimas primeiras e décimas terceiras aos demais acordes. No caso, estas notas “sofisticadas” apareceriam nos solos até improvisados, principalmente dos jazzistas estadunidenses, e foram naturalmente incorporadas aos acordes usados por instrumentistas de harmonia, como o pianista estadunidense Bill Evans (1929-1980). Do jazz, passaram depois a ser usados, tanto os acordes quanto as escalas, em diversos estilos, como no blues e no soul (por lá) e na bossa-nova e na chamada MPB, por aqui. Ninguém nos pergunta, mas em nossa visão, às vezes usa-se demais estas dissonâncias, inserindo tensão onde a música não pediria (analisamos tensão e resolução o tempo todo, nas melodias)...
Mas o que queremos perguntar é: estas escalas, acordes e outras características teriam sido usados pela primeira vez no jazz?
Em nossa última estação deste “trem das lacunas, em marcha-ré”, chegaríamos finalmente à França, do pré-anunciado Debussy. De fato, até Bach já teria utilizado antes, pontual e didaticamente como fazia muito, alguns dos intervalos hoje chamados “típicos do jazz”... Poderíamos até apontar alguns exemplos, mas não queremos chocar demais (e teríamos que gastar vários parágrafos sobre nosso ainda desconhecido estudo sobre melodias, o “Cadências Melódicas”).
O fato é que, como pesquisadores atentos e por procuramos nos especializar em melodias, observamos alguns detalhes que não vemos ser comentados por musicólogos e outros curiosos no último século, que se baseiam mais em estudos harmônicos. Sim: “há caroços neste angu” também, mas vamos seguir o tema aqui, sem desviar tanto, pois já estamos a apontar lacunas demais...
Menos complicado de apontar é que já há certo consenso geral, nos estudos ocidentais (segundo Bitondi, o potencial Nobel), que Debussy teria influenciado o jazz, não apenas pelo uso dos tais intervalos, mas pela sua importância na aplicação de “cenas e cores” às composições, quereria ele dizer, texturas musicais que teriam surgido no contexto do chamado Impressionismo, período histórico-artístico em que a arte “impressionou” o mundo (desculpem este e outros trocadilhos, é que achamos bem divertido fazê-los). A arte gráfica daquela época, em várias partes do mundo, a partir da França, refletiu (ou foi refletida?) pela sociedade e a música de Debussy teria refletido o Impressionismo também visto em quadros, na moda, etc. Mais uma vez vamos evitar de apontar alguns experimentos similares observados antes em peças de Bach, para não “bach-gunçar” demais a prosa... (ops...).
Deixaremos, porém, como “cereja do bolo”, uma citação que raras vezes vimos ser feita: uma composição de Debussy chamada Golliwog’s Cake Walk, que teria sido criada entre os anos de 1906 e 1908 para sua irmã Claude-Emma (ou “Chou Chou”, para os íntimos). “Golliwog” teria sido um brinquedo da irmã, quando ainda bem pequenina. A música pontua categoricamente a ligação do compositor erudito francês com o Cake Walk, uma dança onde escravizados parodiavam movimentos dos brancos, no ritmo estadunidense chamado ragtime, reconhecidamente precursor e influenciador do jazz. Nem precisávamos apontar registros de época, mas não conseguimos evitar de ir além do que lemos. Aquela música, entre outras, aponta, portanto: influências de música afrodescendente nos trabalhos do francês e que, coincidência ou não, teria depois influenciado (ou “ecoado”, talvez?) na música preta estadunidense, e que por sua vez teria saído a lançar sementes pelo tempo, encontrando ecos em outros estilos pelo mundo.
No Brasil, não teria sido só no samba e depois na bossa-nova: bem antes a música preta já fazia das boas por aqui, em violas, embora nós, diferente dos estadunidenses, pareçamos ter mais resistência em admitir publicamente esta raiz preta violeira... Mas aí já são outras lacunas, outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... e vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
 VIOLAS A PATRIMÔNIO
VIOLAS A PATRIMÔNIO
“Art. 216: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira...”
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988)
Viola, Saúde e Paz!
Entre começar pela notícia boa ou a ruim, optamos por começar pela péssima: segundo inventariantes, em pesquisas em andamento neste nosso ano de 2023, na Ilha Terceira, nos Açores, não estariam mais ativas violas “18x7”, quer dizer, violas com 18 cordas em 7 “ordens”, ou “parcelas”, como se diz por lá. Não estariam mais ativas nem lá, nem em nenhum outro lugar. O modelo ainda existiria até meados da década de 1990, segundo livros de José Alfredo FERREIRA ALMEIDA* e José LÚCIO* (* = ver referências ao final). Na verdade, o modelo seria uma espécie de “extensão” (por uma sétima ordem, tripla), ao modelo 15x6 (de 3 ordens duplas e 3 triplas), este que, felizmente, ainda sobrevive... Porém, como vários outros, tanto em Portugal quanto no Brasil, poder-se-ia dizer numa analogia que estão “com a vida sustentada por aparelhos” (ou seja, “mais pra lá do que pra cá”, como se diz no Brasil popular).
Não sentimos “apenas” a perda de um modelo (que, no caso, até estaria de certa forma ainda representado pelo citado modelo 15x6), mas nos amedronta bastante a perda de referências concretas, palpáveis e “apalpáveis”, verdadeiros resquícios da História dos Cordofones Ocidentais presentes em cordofones contemporâneos, sobreviventes. Mesmo que este tipo de estudo seja abordado mais profundamente praticamente só por nós, em todo o mundo (por enquanto?), a esperança é que, no futuro, outros estudiosos possam conferir dados e registros de época que contextualizamos hoje e até aprofundar os estudos que nos atrevemos a lançar em publicações como o livro A Chave do Baú e aprofundamentos como os que fazemos aqui nos Brevis Articulus semanais.
No caso, entre os tais dos “resquícios históricos” estariam os trios de cordas metálicas, que pelos registros até então conhecidos só teriam surgido em Portugal a partir de meados do século XVIII (*ver João Leite Pita da ROCHA e Manoel da Paixão RIBEIRO), mas que refletiriam o observado desde o século XVII nas chitarras italianas (*ver Darril MARTIN e John GRIFFITHS). Por enquanto, só nós temos apontado esta ligação histórica das violas portuguesas com as chitarras italianas e outros cordofones da terra da pizza, nos séculos XV e XVI, com base em contextos histórico-sociais da época envolvendo Portugal-Espanha-Itália (*ver Johannes Tinctoris, De inventione et uso musicӕ, ca.1486 e LANFRANCO, GANASI, MILANO, entre outras referências que sempre citamos por aqui). Se os resquícios desaparecerem, junto com os modelos (como já desapareceram os das também extintas violas portuguesas 12x6), vamos acabar por parecer mais malucos do que já somos...
Em tempo, para os que não leram nosso livro ainda: o mais comum (ou mais divulgado), tanto em Portugal quanto aqui, é violas armarem com duplas de cordas, como o nosso famoso modelo top star de vendas, o Viola Caipira. Com uma ordem tripla, sobrevivem os modelos brasileiros Viola Nordestina e Viola Branca (“Caiçara” e “Fandangueira”); duas ordens triplas sobrevivem nos modelos portugueses Viola da Terra e Viola Toeira e na mineirinha brasileira Viola de Queluz; três trios, agora então não há mais sobrevivente...
Sim, sim: você tem razão, estamos a exagerar um pouco mesmo... Há que, por caridade, desculpar nossa dor tão sensacionalista! Não se pode negar que trios de cordas continuam representados... Mas convenhamos: o único modelo brasileiro com dois trios de cordas (Viola de Queluz) hoje em dia praticamente só resiste em peças de coleção, sendo pouco eficazes, na prática, as ações pelo renascimento dele na região de origem (Conselheiro Lafaiete, MG) e nada além dos limites da nossa terra, a dos comedores de pão-de-queijo. Por este motivo, inclusive e apesar de muito “nossa”, não listamos a mineira Viola de Queluz em nossa postulação científica inédita de uma Família das Violas Brasileiras. As Violas de Queluz, então, não podem sumir de jeito algum: ainda nem teriam o resquício histórico delas devidamente entendido pelos mais famosos pesquisadores do assunto no Brasil (que talvez, por alguma mórbida coincidência, são ambos também nascidos em Minas Gerais). A nossa dor, ao escrever neste Brevis Articulus, é um tanto de vergonha também, principalmente por nossos conterrâneos, famosos e teimosos...
Mudemos nós então o rumo da prosa para celebrar a prometida notícia boa: os bons ventos nos chegam d’além mar, mas, curiosamente, por um brasileiro. Um pernambucano arretado, comedor de sarapatel, mas radicado em Portugal desde 1996. Por lá, Mestre José Wellington do Nascimento, ou apenas “Wellington Nascimento”, como assina no Facebook, já vem aprontando das boas em termos de cantorias e toques de violas, e também de vida acadêmica, da qual, para resumir, vamos citar apenas a ótima dissertação de mestrado depositada em 2012 na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada: Viola Da Terra, Património e Identidade Açoriana.
Como se percebe desde o título da dissertação, não é à toa que Mestre Wellington faz parte da equipe que está a inventariar “Violas da Terra dos Açores”, com vistas ao Reconhecimento Oficial como Patrimônio Cultural Imaterial pela Secretaria de Cultura do Governo de Portugal (via Diretório Geral do Patrimônio Cultural).
Precisa explicar que esta é a tal da grande e boa notícia? E... ouviremos “vivas”, ou será que gastamos aqui os parágrafos de introdução sobre desaparecimento de modelos de viola para nada?
A ação lançada em 03 de junho de 2023 tem potencial de colaborar, e muito, com o fim do desaparecimento de modelos de violas (e dos resquícios históricos que eles representam e atestam). É preciso, entretanto e portanto, contextualizar algumas coisas, que faremos a partir de informações que Mestre Wellington, mui generosamente, nos concedeu em entrevista exclusiva para este Brevis Articulus:
A primeira informação seria:“Arquipélago dos Açores é uma Região Autônoma e a candidatura está a ser patrocinada pelo Governo dos Açores; está centrada na Viola da Terra (Açores)”.Para quem não sabe ou não lembra, o Arquipélago dos Açores, situado no Oceano Atlântico (mais ou menos no meio do caminho entre lá e cá) é formado por nove ilhas de origem vulcânica: Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Faial, Pico, Graciosa, Flores e Corvo.
Outra contextualização necessária é que o que o projeto estaria a referenciar como “Violas da Terra” especificamente os modelos “[...] Viola da Terra de dois corações com 12 cordas e 5 parcelas e a Viola da Terra com 15 cordas e 6 parcelas (Ilha Terceira)”. Foi neste ponto, inclusive, que nosso coração (que é único, e não dois, como em algumas caixas de ressonância de viola de lá), se partiu de dor e tristeza, por saber que não mais existiria o outro, citado, modelo de “Viola da Terceira 18x7”...
Os nomes “viola da terceira” e “viola terceirense” são os observados nos livros que citamos, para os modelos da ilha específica; e “viola da terra” ou “viola açoriana”, consta como citação geral aos modelos das ilhas do arquipélago. Já o novo projeto parece estar a adotar, a princípio, a nomenclatura “Viola da Terra (Açores)”. Como estudamos muito sobre nomes de instrumentos musicais pela História, estes detalhes nos chamam a atenção. Nosso entendimento é que o nome “mais certo” é o que se consolida pelo tratamento popular, com o passar do tempo. Normalmente este processo natural aponta nomes diferentes de acordo com diferenças organológicas, mesmo que pequenas, a não ser que algum evento social de significativo impacto atue... E em Portugal “calhou” de ser também referência a regiões geográficas de origem ou procedência. Sabedoria popular, talvez? Não sabemos, só sabemos que costuma ser assim, segundo registros. Muitos e variados registros, confirmáveis. Vamos, portanto, observar o que vai acontecer no futuro quanto à esta nova proposta de nomenclatura para os nomes dos modelos sobreviventes.
Vida que segue: são então dois os modelos em processo de “inventariamento” (nos permitimos inventar este termo, inspirado no português de Portugal). Depois desta fase, é para serem reconhecidos como Patrimônio de Portugal. “Inventariar”, no caso, seria o trabalhoso procedimento científico exigido para o Reconhecimento ser oficializado, que consiste em fazer levantamentos e contextualizações de registros escritos, iconográficos, depoimentos e histórias de pessoas que toquem e/ou fabriquem os instrumentos, etc. Tudo o que for possível investigar.
Achas pouco para considerares como ótima notícia? Ora, pois, pá!... Se assim o pensas, diríamos que o que tens é pouca fé. Sem contar que no Brasil, segundo Gilberto Gil, “café não costuma faiá” (ops... começamos o parágrafo em estilo “portuga” e acabamos por derrapar para estilo coloquialíssimo “brazuca”: foi mal, “desculpe o auê”, como diria Rita Lee...).
Falando sério, o que vemos: será o primeiro modelo de viola portuguesa a ser Reconhecido Oficialmente como Patrimônio (afirmamos porque temos fé); tudo então pode conspirar (e vai) para que, no futuro, defensores e detentores dos demais modelos portugueses também se aviem para um Reconhecimento Nacional; depois, o céu (quer dizer, a Unesco) é o limite, para um Reconhecimento Mundial, como Patrimônio da Humanidade. Oxalá (pois fé, daqui, não há de faltar). E o que fede aqui... Ah, já chega, né? Melhor não exagerar nessas palhaçadas “texticulares”.
O que teriam as violas brasileiras a ver com isso?
Olha que legal: alguns podem achar estranho um brasileiro por lá, envolvido com defesa de Patrimônio Imaterial... Mas quem estudar um pouco da História desse tipo de ação político-cultural, hoje mundial, descobrirá que bem antes de iniciativas da Unesco como a Convenção do Patrimônio Mundial (de 1972) e a definitiva Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (de 2003), a ideia já era ventilada por aqui...
Sim: “tupiquiniquins”, comedores de feijoada e outras maravilhas, já pensavam o assunto, bem antes do resto do mundo, e teve até lei (Decreto-Lei nº 27, de 30 de novembro de 1937). O mais importante é que a ideia veio de Mário Andrade, então nos primórdios do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), órgão que depois se tornou o “Instituto” IPHAN (não precisa escrever de novo o que o resto da sigla significa, né?).
Duvidou? Confira nas referências ou até no portal internético oficial do IPHAN. E permita-nos refrescar as memórias: Mário Raul de Morais Andrade (São Paulo, 9 de outubro de 1893 – São Paulo, 25 de fevereiro de 1945) foi um poeta, contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro (os negritos são em explícita “causa própria” nossa, pois “farinha pouca, nosso pirão na frente”). Sim, senhoras e senhores: naturalmente não são todos, mas quando alguns pesquisadores falam e são ouvidos, por mais malucos que pareçam, o trem costuma andar bem e nos trilhos... (“trem” aqui, como “trem de ferro” mesmo, não no contexto de mineirice, porque as palhaçadas já cansaram... quer dizer... ops...).
Já em caminho de finalizar nossa prosa aqui, um resumo cronológico de ações nacionais relacionadas a “Violas a Patrimônio” pelo Brasil, pois faz parte de contexto interessante: em 2004, o Samba do Recôncavo Baiano foi reconhecido oficialmente (trazendo como um chamado “Bem Associado”, as Violas Machetes); em 2005, o modo de fazer e tocar Viola de Cocho; em 2011, o Fandango Caiçara (onde as Violas Caiçaras são também um “Bem Associado”), foi reconhecido por aqui e entrou até para a “Lista de Melhores Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Humanidade” pela UNESCO.
Pausa para reler o último parágrafo e perceber que, de maneira direta, apenas o modelo Viola de Cocho já teria efetivamente sido Reconhecido: confira!
Além de estudos em andamento (como das Violas de Buriti, desde 2019, e a possibilidade de Violas Nordestinas poderem vir a entrar, como Bem Associado ao Repente, este reconhecido oficialmente em 2021), em 2017 foi protocolado Requerimento para Reconhecimento de todos os modelos de viola brasileiros (a tal da nossa Família das Violas Brasileiras), em conjunto, como Forma de Expressão válida aos Livros de Registro. Uma iniciativa maluca do músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor mineiro João Araújo (é nóis mess!). Um requerimento que atualmente encontra-se arquivado, principalmente por falta de interesse da classe.
O único Estado brasileiro (até agora) a reconhecer oficialmente as violas como Patrimônio Cultural Imaterial foi Minas Gerais, desde 2018, num curioso Dossiê (*) onde é negado o crédito pela iniciativa registrada oficialmente pela Assembleia Legislativa de MG (!) como Projeto de Lei 1921, de 2015. Aquele PL também foi fruto das insistências e até “brigas” do mesmo maluco, que vos escreve aqui usando o divertido, mas descarinhosamente chamado “plural de falsa humildade”, muito comum nos artigos científicos.
Uma curiosidade que a História provavelmente há de contar no futuro sobre “Violas a Patrimônio” é que tanto o Projeto de Lei realmente originário de tudo, quanto a oficialização por Minas Gerais quanto, agora, o início dos processos em Portugal recaíram em meses chamados “junho”. Tais coincidências são boas para se criarem lendas, por exemplo, que Santo Antônio (casamenteiro) poderia estar agindo pelas violas, para se vingar de São Gonçalo, considerado o oficial “das violas”, mas que nunca nem foi santo e que teria andado a fazer uns casamentos... Sim, criar lendas é fácil, basta ser um pouco criativo e querer.
Finalizando com falares de coisas boas e fundamentadas, que é sempre o melhor, nossa alegria com a (sem dúvida) ótima notícia vinda dos Açores é também porque em 2017 chegamos a convidar, em Almada (Portugal), violeiros portugueses a entabularmos, juntos, ações de defesa de nossas violas, todas elas, como vistas a no futuro serem reconhecidas como Patrimônio Imaterial da Humanidade... Ou seja, o mesmo filme já teria sido visto antes, né? Entretanto daqueles, como também dos brasileiros, não conseguimos ecos de apoio continuado (ao contrário, há quem até fale mal de nós, pode isso?), mas entendemos que a semente foi lançada: um dia, com muita fé (e, mais ainda, café) há de gerar frutos, como os que já parecem estar a surgir. Esperamos que os registros históricos possam apontar, no futuro, de onde teriam vindo esta maluquice. Oxalá e eparreia-aiá! Serão bons assuntos para outras prosas...
Por enquanto, muito obrigado por ter lido até aqui - e vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
PRINCIPAIS REFERÊNCIAS (além das já descritas no texto):
ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Prêmio Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.
FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers., [S.1.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023. Disponível em: Revista USP - Artigo 214286 (acesso outubro 2023).
FERREIRA ALMEIDA, José Alfredo. A Viola de Arame dos Açores. Separata de Boletim Paroquial da Ribeira Chã, ano XIV, nº100. Ponta Delgada: Ed. do autor, 1990.
GANASI, Silvestro. Regola Rubertina. Veneza: s/n, 1542.
GRIFFITHS, John. At Court and at Home with the Vihuela de Mano: Current Perspective of the Instruments, its Music and its World. JLSA 22, 28 páginas, Universidade de Melbourne, 1989.
GRIFFITHS, John. Las vihuelas en la época de Isabel la Católica. Cuadernos de música Iberoamericana, Madri, v.20, p. 7-36, jul./dez. 2010.
IEPHA - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS. Dossiê para registro dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. Belo Horizonte, IEPHA, 2018.
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. O Registro do Patrimônio Imaterial. Brasília (DF): Ministério da Cultura/IPHAN, 2006.
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Dossiê Samba de Roda do Recôncavo Baiano. Brasília (DF): Ministério da Cultura/IPHAN, 2006.
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Dossiê Fandango Caiçara. [Dossiê de Registrol]. Brasília (DF): Ministério da Cultura/IPHAN, 2011.
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Dossiê Modo de fazer Viola de Cocho. Brasília (DF): Ministério da Cultura/IPHAN, 2005.
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. O Registro do Patrimônio Imaterial. Brasília (DF): Ministério da Cultura/IPHAN, 2006.
LANFRANCO, Giovani. Scintille di musica. Brescia: Ludovido Britanico, 1533.
LÚCIO, José. Os Sons e Tons da Música Popular Portuguesa. [Apostila]. Lisboa: ed. do autor, 1998.
MARTIN, Darryl. The early wire-strung guitar. The Galpin Society Journal, UK, p.59, maio 2006.
MILANO, Francesco. Intavolatura de Viola o vero Lauto. Napoli: s/n, 1536.
RIBEIRO, Manoel da Paixão. Nova Arte de Viola. Coimbra [Portugal]: Universidade de Coimbra, 1789.
ROCHA, João Leite Pita da. Liçam Instrumental da Viola Portuguesa. Lisboa: Of. Franc. Silva, 1752.
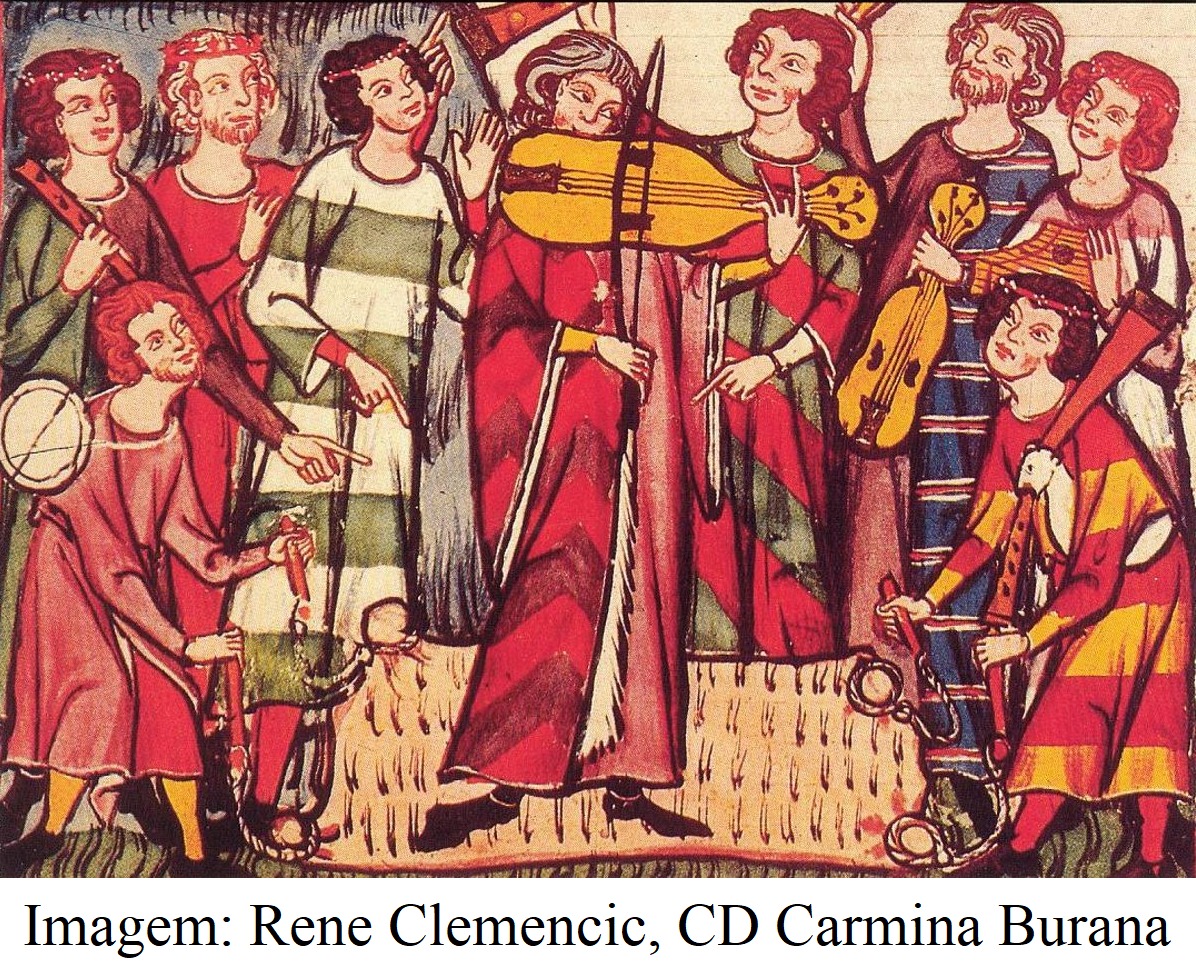
VIOLAS TROVADORESCAS
“[...] it is generally allowed that the Troubadours, by singing and writing in a new tongue, occasioned a revolution not only in literature but the human mind.”
“[...] é geralmente aceito que os Trovadores, cantando e escrevendo em uma nova língua, ocasionaram uma revolução não apenas na literatura, mas também na mente humana”
[Charles Burney (1726-1814), em A General History Of Music, 1782].
Viola, Saúde e Paz!
Neste Brevis Articulus vamos aprofundar, um pouco mais, dois dos vários contextos inéditos apresentados em nosso livro A Chave do Baú: a influência das poesias trovadorescas na História Ocidental dos Cordofones e o período do surgimento do nome VIOLA em occitano, língua também chamada langue d’oc, provençal ou romance, influenciada pelo latim popular e que depois, entre outras línguas, influenciaria o catalão e o francês, e com estas, mais tarde, o espanhol e o português.
O nome “trovador” teria vindo a partir do latim trovare, francês trouver, occitano e catalão trobar. Todos significariam “inventar, descobrir”. É traduzido em francês hoje como joungler (“malabarista”) ou ménestrel; em inglês, juggler ou minstrel; e em espanhol,juglar. Como nosso leitor é inteligente e atento, já percebeu pelas traduções (ou já sabia) que os Trovadores eram artistas de múltiplos talentos: de fato, declamariam versos, cantariam, dançariam, fariam malabarismos, comédia, etc. Qualquer semelhança com os ainda resistentes espetáculos circenses, inclusive entendemos que não seria mera coincidência...
Charles Burney, autor em destaque, foi um músico inglês (cravista, organista, compositor) e também historiador/musicólogo. Um “erudito” respeitado, com várias publicações elogiadas e citadas até os dias atuais. O trecho destacado introduz um profundo e bem embasado desenvolvimento que ele assim justificou, à página 221:
[...] As the origin of Songs and the formation of the Language of every country are so nearly caeval, I hope the reader will allow me to bestow a few pages upon a subject, which though it be thought not absolutely necessary for a musical historian to trace, yet it lies so near his path that he can hardly proceed on his way without its being often impressed upon his mind, fortuitously
(“Como a origem das Canções e da formação da Língua de cada país são quase contemporâneas, espero que o leitor me permita dedicar algumas páginas a um assunto que, embora não seja considerado absolutamente necessário para um historiador musical traçar, fica tão perto de seu caminho que ele dificilmente pode prosseguir sem que fortuitamente [pontualmente] se impressione”).
Concordamos muito com Burney que o assunto esteja “no caminho” de todo interessado pela História dos instrumentos; mas, apesar disso, em cerca de uma centena de estudos que pesquisamos, das principais línguas europeias, ele teria sido o único a dedicar maior profundidade às poesias. Teria sido o único a se aproximar da nossa maneira de analisar o fenômeno histórico chamado Trovadorismo: um evento de grande impacto social, principalmente em seu auge (entre os séculos XII e XIII), e que por isso teria tido grandes reflexos na sociedade e, assim, nos instrumentos musicais populares.
O musicólogo analisou de forma científica um assunto que mais poderia ser considerado das áreas de “literatura” e/ou “linguística”, apresentando uma cronologia de registros em latim e em variações de francês, inglês, italiano, catalão (inclusive manuscritos). Assim, foi capaz de apontar contextos histórico-sociais relacionados às poesias (e/ou prováveis letras de canções) desde os Gregos, passando pelos Árabes e os Romanos até chegar ao chamado vulgare (o latim popular) e sua influência no que Burney chamou de “nova língua dos Trovadores” (que seria a que definimos aqui como occitano e/ou suas outras alcunhas). Qualquer semelhança entre alguns dos caminhos de Burney e parte da nossa metodologia também não acreditamos que seja mera coincidência, e sim comprovação da nossa lógica científica em comum. É bom atestar paralelos com os bons, embora, com todo o respeito, “nós é marrento” e procuramos sempre ir mais adiante do já tenha sido pesquisado. No mínimo, porque vivemos 200 anos depois que Burney se foi, com maior facilidade de acesso e dedicação a um número ainda maior de fontes que ele.
Na verdade, conforme várias das citações de Burney que conferimos e outras que acrescentamos (como poesias em dialetos alemães, em espanhol e em português, que ele não citou ter pesquisado), nosso desenvolvimento e entendimento é que teria havido uma grande fase de transição, iniciada com a queda de Roma (século V); em seguida, a ascensão das diversas culturas então libertas, mas ainda sob influência da Igreja Católica (que mantinha o latim em uso todo o vasto território antes dominado); e depois somou-se a influência da invasão dos mouros-árabes (século VIII ao XV), com seus instrumentos e musicalidade superior principalmente em liberdade de uso e criação, levada de forma mambembe de reino a reino, que viria a dar origem ao tal do Trovadorismo (este que, então amplamente incorporado à cultura europeia da época, teria atingido o já citado auge nos séculos XII e XIII).
Tantos séculos de atrito entre culturas diferentes trouxeram reações no cenário social, que, para resumir, viriam culminar por exemplo no chamado “final da Idade Média” (século XV).
Instrumentos musicais populares (que também tiveram suas fases particulares de desenvolvimento) teriam refletido o contexto histórico-social, entre outros aspectos, pelo surgimento de um turbilhão de nomes diferentes (nas diferentes línguas das citadas culturas emergentes) e também pela queda em desuso de alguns instrumentos (pelo menos quase não são observados em registros), enquanto outros instrumentos surgiram e/ou tiveram mudanças de formato. É o caso dos alaúdes e similares, de caixa de ressonância em formato de pera (ou gota d’água) cortada ao meio longitudinalmente, com fundo abaulado: por terem sido introduzidos pelos invasores árabes, teriam sido substituídos gradativamente (mas não ao aponto de sumirem completamente) por instrumentos de caixas cinturadas, de fundo plano, criados pelos europeus. Estes últimos instrumentos, principalmente, citados por variações de nomes próximos a VIOLA, embora tenha havido também o desenvolvimento paralelo que levou ao atual nome GUITARRA, conforme já destacamos em outro Brevis Articulus.
Definitivamente não teria sido por coincidência, portanto, que nos tais séculos XII e XIII catalogamos os mais remotos registros de variações do nome VIOLA para cordofones nas diversas línguas. A única coincidência seria que os nomes dos autores não seriam conhecidos, mas entre as variações mais literais, localizamos, retraduzimos e inserimos na cronologia: VIOLA do Codex Calixtinus, em latim, estimado entre os anos de 1130 e 1160, da qual não há descrição se dedilhada ou friccionada; o termo VIOLAR (“tocar viola”), em relatos sobre um tal Perdigon, um joglars (“trovador”) catalão, que teria vivido entre 1190 e 1220, com maior probabilidade de sua viola ter sido dedilhada, visto que ligada diretamente a trobar (criar versos) e a mesma probabilidade a de uma VIOLA citada no poema Daurel et Beton, escrito em occitano e estimado “entre fins do século XII e início do século XIII”.
Encontramos ainda o termo VIOLARS (“tocadores de viola”), instrumentos dos quais não se tem muitos detalhes, em texto também estimado apenas como “do século XII”, segundo manuscritos que o próprio Burney teria pesquisado, mas sem especificar qual. No livro ele apontou ter lido manuscritos dos anos de 1119 e 1137 e, pelo bom nível geral (do livro e do autor), acreditamos, mas não deixamos de fuçar mais registros até encontrar confirmações (afinal, “marra é marra”).
Burney entendeu que VIOLARS (no século XII) teriam sido tocadores de vielle (cordofone acionado por teclas e por uma roda com manivela) e/ou também de viol (um friccionado pequeno, que ele entendia ser “o mesmo que o violino”). Neste ponto, nossa boa relação com o inglês azedou um pouco: primeiro, porque sem dúvida o nome francês vielle teria vindo de vielle a roue (“viola de roda”), instrumento que ele descreveu bem, mas não no século XII: com os nomes latinos antecessores organa ou sambuca rotata, a tal “viola de roda” teria tido registros inclusive em esculturas e desenhos desde pelo menos o século X. Além disso, no século XII, vielle já teria aparecido como cordofone (dedilhado ou friccionado por arco) em textos em francês antigo e até em latim (onde aponta ter sido corruptela a partir do francês, surgido antes).
Além disso... viol? Qual é, Burney! Viol só teria sido observado a partir do século XVI! Pior ainda: “violino” também, enquanto nome, só a partir do mesmo século XVI... “Bola fora” total sua, meu amigo! Desculpe o trocadilho, mas nessa você se “queimou” (que seria burned em inglês), em adaptação livre e sacana nossa.
Infelizmente não é raro que estudiosos, mesmo os melhores, equivoquem-se com o contexto histórico de nomes antigos de instrumentos, sendo também muito comum traduzirem nomes antigos para os modernos de sua própria língua. O mais grave do equívoco é interpretarem que as características dos instrumentos sempre teriam sido as mesmas, muitas vezes analisando apenas por alguma similaridade ou semelhança nos nomes. Como constatamos quase sempre, os instrumentos vêm sempre mudando, principalmente em características e nomes, e estas mudanças quase sempre são paralelas com contextos histórico-sociais. Este estudo não teria sido feito com tanta profundidade assim antes, por isso, em equívocos em cadeia, a maioria dos estudiosos pelo mundo considera que só teriam existido violas “de arco”, quando há evidências e até descrições que apontam dedilhadas. Esta lacuna observamos muito nos excelentes e muito aprofundados estudos de vários estudiosos. O bom é que grandes estudiosos costumam apontar as fontes que pesquisaram, então pudemos localizá-las e as retraduzir, com nosso olhar atento (e marrento), à procura de detalhes.
Foi exato este o caso: Burney teria identificado, entre trovadores, além dos VIOLARS: JUGLARS (que para ele teriam sido tocadores de instrumentos de sopro); MUSARS (para ele, tocadores de outros instrumentos) e COMICS(comediantes). Dos quatro nomes, Burney só teria acertado “comediantes”: uma “queimação” geral, portanto...
Com certa dificuldade, alguma sorte e muita atenção (pois nem Burney nem outros citaram), conseguimos localizar um texto muito semelhante, só que em francês, de Cesar de Nostradamus (1553-1629), filho do famoso astrólogo. À página 132, de publicação de 1614 de seu livro L'histoire et Chronique de Provence ("A História e Crônica de Provença"), encontramos:
[...] sur leurs lyres & instruments, dont ils furent appellez Troubadours (c'est à dire Inventeurs) Violars, Iuglars, Musars & Comics, des violons, fleuttes, instruments musicaux & des Comedies.
(“em suas liras e [outros] instrumentos, os depois chamados Trovadores - que quer dizer Inventores - Violars, Juglars, Musas e Comediantes, com seus violons, flautas e [outros] instrumentos de música e comédias”).
Um “bombomzinho”, este texto, não? Sim... Só que temos que desembalar antes de comer qualquer bombom: Nostradamus não citou mais detalhes sobre os instrumentos, nem fontes, nem datas especificamente; mas apontou narrativas de personagens que apontam que o texto seria do século XII, então, ok!... Atentos, percebemos que citou violon, um nome que em francês, no século XVII, até poderia significa “violino”... mas no século XII, ainda nem existiria! Talvez por isso, e por também ter citado fleuttes (“flautas”), César Nostradamus tenha enganado Burney (se é que teria lido, pois não citou)... Ah, estes estudiosos desatentos!
Bom... Mesmo em um texto em francês, já tínhamos percebido termos que também teriam chamado a atenção e respeito de Burney (pois não os teria traduzido para o inglês) e que estariam em occitano ou catalão (para nós, que falamos português, “salta aos olhos” termos latinos em textos em inglês e outras línguas germânicas).
Bom, bom, então: descascado o bombom, era mesmo dos bons! Com destaque à citação de lyres (instrumentos mais conhecidos como dedilhados), feita por Nostradamus, mas não por nosso então já ex-amigo Burney.
Os apontamentos equivocados de Burney conferimos terem sido depois citados pelo tempo, sem muitos questionamentos, por vários pesquisadores como o escocês John Gunn (em 1789) e os ingleses Carl Engel (em 1883), Francis Weber (em 1891) e Christopher Page (já em 1987). Nenhum deles apontou ter observado o texto em francês de César Nostradamus, nem os equívocos de Burney e muito menos um detalhe a mais que observamos: Burney citou como ingenious and probable (“genial e provável”) uma opinião do filólogo francês Pierre-Alexandre Levesque de La Ravallière (1697-1762), que então achamos interessante fuçar e confirmar no livro dele Les Poesies du Roy de Navarre (“As Poesias do Rei de Navarre”).
Em publicação de 1742, Ravallière arriscou o que chamou de uma nouvelle etimologie (“nova etimologia”) para o termo em francês jongleurs: que aquele poderia ter sido originalmente ligado a ongles (“unhas”), ou seja, específico a músicos que tocassem instrumentos dedilhados. O bom desenvolvimento, que ele demonstrou por citações a dicionários e poemas antigos, é que anteriormente o termo teria significado Enchantieres & Multeplieres (“encantadores e multiplicadores”) de palavras; à medida que aquele tipo de artistas começou a ficar mais raro, eles teriam sido substituídos por outros membros das trupes bem menos qualificados naquele tipo de arte e assim o nome teria passado, com o tempo, a ser aplicado para significar “malabaristas”, também no sentido figurado de bourder & mentir (“trapacear e mentir”). Entendeu? Os novos declamadores, “encantadores de palavras”, não seriam tão bons quanto os antigos, seriam “trapaceiros”. Todos os trovadores se fantasiariam e fariam brincadeiras, inclusive os músicos, e por isso todos teriam passado a serem vistos como jongleurs (“malabaristas”), tanto no sentido figurado (de fazer malabarismos com todo tipo de arte) quanto no real (de realmente brincar com malabares e outros objetos, jogando-os ao ar).
Entende-se que “tocar com as unhas” poderia, então, ser um indicador de que os JUGLARS das fontes de César Nostradamus e de Burney pudessem tocar instrumentos dedilhados, distinguindo-os assim dos VIOLARS, que então tocariam “violas” ancestrais... Só é preciso estar atento: nem todas as “violas” teriam sido friccionadas por arco, como destacamos sempre! Neste caso, basta cruzar registros do mesmo século XII, observadas em textos em latim, occitano e catalão (e que nem Ravallière nem os demais indicaram ter pesquisado). Vantagem para os marrentos, então!
Como os estudiosos apontam terem tido foco em variações do nome “viola” apenas como instrumentos friccionados por arco, não teriam levantado e organizado um bando de dados como o nosso, nem teriam atestado a evolução histórica do significado de jongleurs de Ravallière (sequer teriam levado em consideração, como fazemos agora). Estes dados todos se complementam e as opções múltiplas se confirmam, vistos assim, em conjunto: uma preciosa visão que teria se perdido na História até agora.
Fomos mais um pouco além e observamos que o termo VIOLARS não teria sido observado literalmente em outras fontes antigas além das que César Nostradamus e Burney teriam pesquisado. Segundo especialistas em línguas provençais, entre os séculos XII e XIII outros termos próximos é teriam sido observados em manuscritos, para “tocadores”: Raynouard (1843, p.561) apontou viulaire e violador; ambos os termos, confirmados por Mistral (1879, p.1128), que acrescentou violaire e os três termos foram confirmados por Levy (1915, p. 791). Já o musicólogo Galpin (1911, p.88) teria observado os termos vilours e vidulators, e este último, bastante próximo a vidulatores, que teria sido mencionado pelo filólogo inglês John de Garlande, segundo Bárbara Rubin (1981, p.82-83).
Observa-se, entretanto, que apesar da não observação literal de VIOLARS, as pronúncias dos outros termos apontados seriam todas relativamente próximas, e sabe-se que o occitano teria sido língua antiga comum na fronteira dos hoje territórios catalães e franceses. Sem contar que em poesias (que são a maioria das fontes da época), as variações orais por causa de adequação a métricas e rimas, ao serem transcritas, poderiam apontariam estas grafias variadas (uma observação que fazemos por nossa experiência em composição de poemas e letras de músicas, e que Burney também teria constatado).
Mesmo com o Trovadorismo já a caminho do desaparecimento (que teria se dado após a chamada Peste Negra, no século XIV), o termo VIOLA teria sido ainda o mais observado nos reinos de Navarra e de Aragon, em mãos de juglares (“trovadores”, em espanhol), provenientes de territórios franceses e italianos, segundo pesquisas muito embasadas da Dra. Martinez (1982, p.1042-1044). Já em textos em português só se conhecem registros do nome VIOLA a partir do século XV, o que é muito significativo, pois Portugal se estabeleceu como Reino independente também a partir do século XII...
Estas, pois, as muitas evidências de instrumentos chamados “viola” a partir do occitano durante o Trovadorismo, das quais é preciso estar atento quanto a descrições, pois no começo poderiam ter sido tanto dedilhadas quanto friccionadas por arco. Há ainda variações bem próximas do nome VIOLA para instrumentos musicais observadas em textos em francês, dialetos alemães, variações do atual inglês, em italiano... mas aí já são outras prosas!
Muito obrigado por ter lido até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
PRINCIPAIS REFERÊNCIAS (além das já detalhadas no texto):
ENGEL, Carl. Researches into the Early History of the Violin Family. London: Novello, E&Co., 1883.
GALPIN, Francis W. Old English Instruments. London: Methuen, [1911].
GUNN, John. The Theory and Practice of fingering the Violoncello. Reino Unido: Ed. do author, 1789.
LEVY, Emil. Provenzalisches Supplement-Worterbuch. Leipzig: O. R. Reisland, 1915.
MARTINEZ, Maria do Rosario Alvarez. Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos. 1981. Tese (Doutoramento em História da Arte) - Faculdade de Geografia e História, Universidad Complutense de Madrid. 1981.
MEYER, Paul. Daurel et Beton: chanson de geste Provençale. Paris: Firmin Didot, 1880.
MISTRAL Frédéric. Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français. v.2. Paris: H. Champion, 1879.
PAGE, Christopher. Voices and Instruments of the Middle Ages: Instrumental Practice and Songs in France 1100-1300. London: Dent, 1987
RAVALLIÈRE, Pierre A. L. de la. Les Poesies du Roy de Navarre. v.2. Paris: L & J Guerin, 1742.
RAYNOUARD, François J.M. - Lexique Roman ou Dictionnaire de la Langue des Troubadours. v.5. Paris: Chez Silvestre, 1843.
RUBIN, Barbara Blatt. The Dictionarius of John de Garlande. Laurence: Coronado, 1981.
WEBER, Francis J. A Popular History of Music from the Earliest Times. London: Simpkin, Marshall, Hamilton , Kent & Co., 1891.
 VIOLLA de JÚNIOR: 12 cordas ilustres e com muita história.
VIOLLA de JÚNIOR: 12 cordas ilustres e com muita história.
O quadro da santa ceia, doze apóstolos tem
Minha viola não é santa, tem doze cordas também
Doze meses tem o ano, doze horas tem o dia
Doze horas tem a noite, esta noite é de alegria
Esta viola divina, já me deu o que eu queria
(trecho da música Viola Divina, de Tião Carreiro & Paraíso)
Viola, Saúde e Paz!
Em nosso livro A Chave do Baú tentamos desembaraçar o grande novelo que envolve número de cordas em cordofones populares, com foco no pouco pesquisado recorte do acontecido no nordeste do Brasil entre as décadas de 1950 e 1970. E aqui, nos Brevis Articulus, cabem aprofundamentos, como sempre fazemos. É preciso estar atento e forte: na época existiriam no Brasil, só com base em catálogo da fábrica Gianinni de 1954, “violas” (10x5 e 12x6) e “violões” (6x6 e 12x6)... (para quem caiu de paraquedas em nossos textos, “10x5” significa “dez cordas em cinco ordens” e assim sucessivamente. Fique esperto, número de cordas e ordens são dados importantes!).
Já de cara não levamos muito em consideração sobrenomes que aquela e outras fábricas davam, nem nomes pontuais como “viola divina”, “viola de pinho” e similares, pois comparando com centenas de matérias de jornais e outras fontes, nossa metodologia indica atestar os nomes que de fato “pegaram” no gosto público, ou seja, os que foram repetidos por muito tempo, segundo estatística de citações. Estes, inclusive, são também os mais citados por estudiosos sérios. Duvidou? Basta conferir na nossa monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil os quadros inéditos que elaboramos com dados coletados na Biblioteca Nacional Digital e outros periódicos, além das também já citadas fontes.
Pausa para atualizar: já lemos mais de 400 livros, mais de 100 trabalhos “escolares” (teses, dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso “TCCs”) e mais de 250 artigos. Na tal monografia apontamos item por item, em ordem cronológica, desde o século XVI até os dias atuais. Cada item, obviamente, com sua respectiva transcrição e/ou tradução a partir de diversas línguas estrangeiras, quando foi o caso. E cada item com suas respectivas fontes para quem quiser conferir. Sim, sim: “o bagulho é sinistro”, como diriam alguns: em tempos de canalhice e enganação, não brincamos com informação histórica, muito menos com a inteligência de quem nos lê.
O que mais interessa é que aqueles instrumentos citados no catálogo existiram, eram diferenciados principalmente pelas armações de cordas e teriam estado à venda por grande parte do Brasil. Adicionamos ao caldeirão de pesquisa um tempero que chamamos de “o pulo do gato” de quem quiser entender a História dos cordofones: uma vez que um instrumento tem registro continuado (em qualquer época ou lugar), a tendência é que ele siga existindo por muito tempo: às vezes com outros nomes, às vezes na mesma região (mas também em regiões ligadas culturalmente), às vezes com pequenas alterações de detalhes, etc. A “pá de cal” (ou seja, a marca definitiva de morte científica, até para pesquisadores experientes) e que é preciso distinguir com muita atenção o que seria “variação pontual” e o que seria “característica relevante, continuada”, esta última só atestada por número significativo de evidências, de dados, referências... Entendeu porque sempre citamos várias fontes, de diferentes autores e épocas?
É aí que a vaca torce o rabo, tosse e quase engasga, pois estamos a tratar de instrumentos populares, construídos sem regras rígidas, por povos criativos (os brasileiros, então, são dos mais criativos). Para ser sério e honesto, como é nossa intenção, não se pode desprezar nenhum fato - e a liberdade de construção e utilização de instrumentos é fato até hoje, muito mais, imagine, quando nem existia internet... Ou melhor: imagine quando não existia ainda nem foto, para se ter base de comparação de construção de um instrumento musical?
Pode ser que esteja pensando: mas e a iconografia? Sobre esculturas, desenhos, pinturas, iluminuras e similares é bom considerar que teriam sido feitos por artistas sem compromisso formal de refletir a realidade das peças retratadas. Creiam: vários pesquisadores pelo mundo se fiam em iconografias e se dão mal há séculos - principalmente quando imaginam, sem checar exaustivamente, que os instrumentos retratados teriam existido de fato e se teriam exatamente as características mostradas naquelas peças artísticas. Pior: que teriam os nomes que apareciam em registros escritos da mesma época... Esta última correlação está longe de ser garantida: mesmo que um pintor ou escultor escrevesse o nome que ele achava que os instrumentos teriam, seria o nome utilizado apenas naquela região, época e língua específicos. O que observamos, diferente do que até linguistas defendem, é que vários nomes de instrumentos circulavam por longos períodos, muitas vezes pela influência de várias línguas diferentes ao mesmo tempo. Estudar isso “né brinquedo não”!
Além disso, por sermos também artistas, podemos afirmar que é bom desconfiar de nós às vezes: nosso principal compromisso quando estamos a fazer arte é com a arte em si, e arte não é ciência: está, ao contrário, longe de ser correta, sequer previsível.
No caso, nós sabemos nos portar como “não artistas” quando precisamos e por isso afirmamos que o mais seguro (ou “menos inseguro”) é cruzar todo tipo de informação comprovável que for possível conseguir. Um grande e variado número delas. Também é bom sempre duvidar de tudo e só apontar o que parecer ser mesmo incontestável, mas apresentando todas as evidências e desenvolvimentos, sem preguiça. É uma pena, pois as pessoas comuns costumam não gostar de ler muito, adoram histórias curtas, fáceis de entender, sem se importar se seriam inventadas ou não... É neste ponto que vários pesquisadores parecem escolher entre “serem honestos e aprofundados” ou “ganhar dinheiro e notoriedade” ... A última opção é bem mais fácil: basta dizer o que o povo quer ouvir, do jeito que gostam que seja dito.
Voltando às cordas, mas não como nos ringues de luta, além daqueles instrumentos “de fábrica” do catálogo Gianinni, acrescentamos que teriam existido ainda, na época, algumas violas 12x5: estas existiriam em Portugal pelo menos desde meados do século XVIII e por aqui, as mais antigas “Violas de Queluz” (do século XIX) também teriam evidência de terem sido assim. Portanto, um registro escrito de “viola de 12 cordas”, sem mais detalhes, não comprovaria com precisão como teria sido o instrumento. Entendeu? “viola 12 cordas” poderia significar “viola de cinco ou de seis ordens” (cordas em duplas ou em trios), ou poderia até ser um violão... Sério: não seria mais fácil ignorar estes registros, pois daria muito trabalho investigar? Pois é o que parece ter sido feito pela maioria dos pesquisadores.
Soma-se que, a partir da década de 1980 (quando começaram pra valer as pesquisas sobre violas brasileiras) já haveria interesse comercial (e/ou afetivo, quase religioso) em divulgar o modelo mais conhecido (leia-se “o mais vendido”), o modelo Viola Caipira. Aqui, um equívoco básico (para não dizer “tosco”) de pesquisa histórica: imaginar que o passado teria sido igual aos dados conhecidos do presente. O pesquisador Roberto Corrêa, por exemplo - um dos dois maiores formadores de opinião do meio da viola, por seus merecidos méritos e talentos – em 2014 defendeu em seu doutoramento que a década de 1960 teria sido de “avivamento da viola caipira”, sendo que, à luz das fontes de época, os instrumentos ainda não seriam contundentemente chamados assim, pois prevalecia o nome geral “viola”. Pior: centenas de registros apontam que na verdade, na época haveria dúvida pública entre os nomes “viola caipira” e “viola brasileira”. Sequer na época em que Cornélio Pires fundou sua interpretação pessoal, hoje conhecida como caipirismo (entre 1910 e 1945) as violas eram chamadas “violas caipiras”, nem pelo próprio empresário paulista.
O entendimento equivocado (porém, fácil de ser aceito pelo menos atentos e afetivos quase religiosos), é que as violas teriam sido como o violão: um modelo padronizado, praticamente único. Violas de 12 cordas (assim como outros modelos de viola) foram então convenientemente sendo “esquecidas”, principalmente pelos poucos que se empenharam em pesquisar as violas brasileiras nas últimas décadas. Na dúvida sobre esta afirmação, não é tão difícil esclarecer, qualquer um pode conferir, como nós fizemos: não são muito mais que 50 os trabalhos acadêmicos depositados por brasileiros desde a década de 1980 e antes destes, só há alguns poucos artigos desde a década de 1950 (exatamente quando estudiosos discutiam sobre a melhor nomenclatura).
Muitíssimo curioso é que a maioria dos pesquisadores indicam, por exemplo, a variedade de afinações das nossas violas, como se fossem curiosidades (na verdade, é indício mais do que claro de que elas tiveram comportamento histórico diferente dos violões, que usam a mesma afinação de guitarras desde o século XVII, similar à das vihuelas e dos alaúdes de antes). E até, às vezes, pesquisadores apontam alguns modelos diferentes de violas: estes modelos, quando não são apontados como tendo sido gerados depois e/ou por causa do “divino” modelo Viola Caipira (um equívoco inacreditável de falta de fundamentação em registros de época), são indicados como “curiosidades” regionais, naquele inegável aspecto da liberdade popular, que comentamos há pouco, mas que no caso dos modelos da Família das Violas Brasileiras não cabe, por critérios que sempre (re)citamos feito mantra: significativo número de registros, nomenclatura continuada, estudos existentes, evidência em outros Estados além do considerado “de origem”.
Claramente, as colocações cientificamente equivocadas (mas convenientes ao caipirismo) demonstram, entre outros fatores, uma falta de entendimento (ou de conhecimento) da tendência de continuidade histórica demonstrada por cordofones há séculos: basta comparar com as violas portuguesas, consolidadas por lá também em uma família de instrumentos similares, e se perguntar: por que diabos aconteceria diferente por aqui, se estivemos sob o jugo português do século XVI ao XIX? Quantos detalhes da nossa cultura (além da obviedade de falarmos a mesma língua) são necessários para atestar que temos, sim, algumas características próprias, mas que o “grosso” das nossas origens, a maior quantidade de influências, devemos diretamente aos portugueses? Ok: rejeitar o colonizador é compreensível e até, de certa forma, nobre... Mas desprezar ou querer deturpar fatos e registros históricos é muito sério. É desonestidade intelectual.
Uma atenuante (antes que dê vontade de sair estrangulando pesquisadores por aí) é um comportamento muito observado: pesquisadores costumam segundar outros, mais antigos e que já tenham atingido notoriedade pública e/ou acadêmica. É considerado normal que pesquisas se baseiem em anteriores, porém, se um grande estudioso se equivoca (ou distorce, ou despreza algum fato por alguma motivação pessoal) é grande a possibilidade de pesquisadores secundarem aquelas colocações sem discutir nem conferir os dados. Entendemos que não deveria ser assim: diferentemente, ao se basear em visões de terceiros, por mais competentes que eles possam ser, é desejável que sejam checadas fontes de época, estudar bem o desenvolvimento (quando apresentado) e até criticar e/ou acrescentar algo ao que já fora feito (neste último caso, talvez seja exagero nosso, mas é o que fazemos sempre).
Acreditem: há até doutoramentos aprovados por grandes universidades onde quase não encontramos citações a fontes de época: tudo na base do “copiei e colei” de visões de pesquisadores famosos! Pior ainda: como somos “chatos”, conferimos todas as citações e denunciamos que o que existe de “links quebrados” (ou seja, citações cujas fontes não comprovam o que foi citado) é... nem sabemos como melhor descrever... Incrível? Frustrante? Vergonhoso? Escolham o termo que preferirem...
Dentro de todo este cenário, entretanto, há um trabalho a ser louvado, relembrado, comemorado. Trata-se do conjunto de esforços do professor, violeiro e pesquisador Júnior da Violla, de São Paulo (SP). Artigos, TCC com revisão voluntária apresentada após alguns anos do primeiro depósito (fato raríssimo no meio) e atuação continuada, disponibilizada diariamente pelas redes sociais virtuais. Não que seja fundamental, mas agrega bastante valor também o fato de Júnior ser bacharel em Música (pela FAAM) e formado também em Música Antiga (pela EMESP).
Atestamos literalmente “palavra por palavra” o trabalho, pois tivemos a honra de fazer revisão ortográfica do TCC que depois, revisado e atualizado, foi disponibilizado em 2020; e mais honra ainda de travar com (ou seria contra?) Júnior da Violla verdadeiras batalhas de discussões sobre descobertas e métodos de pesquisa, até os dias atuais. Nós, que de bobos só temos o jeito de andar, procuramos sempre extrair e aprender ao máximo o algumas vezes até irritante pragmatismo de Júnior quanto às análises de fontes. Isto se reflete em vários dos procedimentos que hoje adotamos. Entretanto, só amadurecemos de fato a visão quando, nos anos seguintes, mergulhamos também à procura de dados sobre as Violas 12 Cordas (não só por sermos chatos, mas porque mergulhamos atrás de cada modelo consolidado a fim de atestar nossa postulação da existência de uma Família de Violas Brasileiras). Foi então que compreendemos, na prática, a complexidade do assunto: conforme já descrevemos, há poucos registros, nenhuma outra pesquisa teria sido feita, e várias armações de cordas possíveis, sendo que poucas fontes teriam apontado estas variações em detalhes. Foi então que também viemos a reconhecer ainda mais a importância do trabalho de Júnior da Violla, que entendemos ainda precisa ser mais valorizado publicamente, sobretudo no meio da viola.
Se estaríamos a exagerar aqui porque falamos de um amigo? Ah, não existe qualquer possibilidade disso! Nossa relação quanto a pesquisas sempre foi muito mais pautada por “tapas” do que por “beijos” (como se diz no popular). E, em nossa visão, o trabalho de Júnior ainda está longe de ser perfeito: esperamos que possa melhorar muito quando ele resolver partir para uma dissertação de mestrado ou, até melhor, se possível, uma tese de doutoramento. E afirmamos isso, para ele e para todos, sem qualquer medo de sermos interpretados como arrogantes, por exemplo, embora quem não gosta dos fatos que apresentamos parece gostar de nos acusar de arrogância por puro prazer ... Parece que os “someliers de humildade alheia” acham mais fácil atirar no mensageiro, ao invés de ler e conferir a seriedade e exatidão da mensagem (os dados levantados). Faz parte? Se faz, não sabemos, mas que é triste, é...
Desabafos à parte e seguindo na argumentação sobre o trabalho de Júnior e de outros que poderão vir, um fato muito mais importante é que agora existe à disposição um banco de dados muito maior e muito mais organizado do que existia cinco anos atrás. Só a ampliação de fontes em diversas línguas, já retraduzidas e reinterpretadas à exaustão, que contextualizam as violas com a História ocidental do cordofones, já pode municiar e embasar bem melhor a já excelente visão pioneira de Júnior da Violla. Isto, naturalmente, se ele quiser utilizar o que disponibilizamos, pois passa longe de ser garantido: como dissemos, e agora exemplificamos, o mais provável é que Júnior da Violla não aceite nossas sugestões. “Apesar dessas teimosias” (escrevemos entre risos, como se não fôssemos também teimosos), a ele se deve respeito e até gratidão, pois entendemos que “o justo é o justo” - e infelizmente são raros os trabalhos honestos quando se trata de violas no Brasil.
A Júnior da Violla devemos, entre outras, atestações via instrumentos remanescentes (além de fotos e até vídeos), como de uma Viola 12 Cordas, em seis duplas de cordas, utilizada pela dupla Mandy & Sorocabinha, na década de 1930. Sim: curiosamente, no meio do caipirismo utilizava-se o modelo, que conforme citamos depois teria sido “esquecido” por conveniência, sendo que é possível que outras duplas também utilizassem, à época (conforme letra de música destacada no início). Além disso, um acervo considerável de fotos e dados de instrumentos similares, nacionais e estrangeiros, parece estar sendo preparada pelo pesquisador - coleção que certamente seria inédita no mundo (ops... isso talvez seja spoiler, foi mal!).
Em recente entrevista, Júnior revelou que uma de suas motivações iniciais (que remontam ao ano de 2011), teria sido a procura por um instrumento que fosse capaz, ao mesmo tempo, de executar peças típicas tanto para violão quanto para viola, para facilitar as aulas que ministra há décadas (Júnior é pioneiro, por exemplo, em aulas pela internet). Suas primeiras referências de utilização similar teriam sido: uma viola de Heraldo do Monte, que curiosamente teria sido sugerida ao guitarrista pernambucano em 2004 pelo Dr. Ivan Vilela, pesquisador e grande formador de opinião no meio da viola (por seus também merecidos talentos e méritos) e que, entretanto, não se pronuncia a respeito da comprovada existência histórica do modelo. Outra referência teria sido viola de Zeca Collares, confirmada em postagem do ano de 2009, no Youtube, onde se lê que o músico buscava poder utilizar tanto a afinação Cebolão quanto a Rio Abaixo em um mesmo instrumento; e ainda teria sido referência para Júnior o pequeno modelo de violão estadunidense Mini-Maton.
Atualmente utilizam regularmente Viola de 12 Cordas, entre outros, o pernambucano Heraldo do Monte; os mineiros Zeca Collares, Luiz França e Francisco Furtado Filho; os paulistas Bruno Sanches, Diogo Matias, Guilherme de Camargo, Ricardo Vignini e Thiago Paccola e o gaúcho Valdir Verona. Já teriam fabricado Violas de 12 cordas, entre outros: as fábricas Giannini, Del Vecchio, Xadrez, a antiga Casa Lira e alguns protótipos pela Rozini, além dos luthiers paulistas Luciano Queiroz e Levi Ramiro e o mineiro Gianelho Rodrigues.
Levi Ramiro, especialista e na verdade precursor das Violas de Cabaça, mesclou modelos ao criar desde 2017 uma Viola de Cabaça com 12 cordas, inclusive uma hoje incorporada a shows dos paulistas André Moraes e César Petená. O recente espetáculo didático lançado pelos dois últimos violeiros se tornou assim o primeiro na História a utilizar em cena, ao mesmo tempo, todos os modelos da Família de Violas Brasileiras, mas os violeiros, embora tendo formação acadêmica, não têm por hábito dar crédito a João Araújo por ser o primeiro a defender (desde 2015) e a contextualizar cientificamente (em 2021) a tal Família. Se eles desconhecem que sustentar ideias como estas num país que sempre superestimou o modelo Viola Caipira é caso até de ameaças de morte? Não sabemos. Sabemos que, ao serem cobrados, o argumento é que os modelos sempre teriam existido (o que é verdade) é que eles reverenciam os “mestres”. Educados, não comentaram conosco que João Araújo é muito chato (outra verdade) e que por isso preferem não praticar cortesia (na verdade, ética) científica. Na prática, fica parecendo ter sido ideia e desenvolvimento total e próprio deles. Já sobre o chato que quase literalmente se mata pela Ciência é fácil dizer que “é arrogante, pretencioso, megalomaníaco...”. Esta “pitanga chorada” é para lembrar quanto ainda é difícil defender a Ciência no meio violeiro, e, portanto, o quanto é importante darmos crédito a Júnior da Violla pela “picada” que abriu nesta verdadeira “selva”.
Voltando a detalhes que os “rejeitosos aos chatos” parecem nunca ter tido competência para desenvolver, a contextualização histórica do modelo Viola de 12 Cordas é bem vasta (bem maior que a do modelo Viola Caipira, por exemplo) e, em si, já é uma explanação resumida sobre a História das violas dedilhadas e cordofones correlatos. A mais remota referência de 12x6 viria dos alaúdes, estimada como desde o século XIV (para ser preciso, os alaúdes utilizariam como até hoje 11x6, ou seja, uma das ordens seria singela). A mesma armação de cordas continuaria, a partir daquele século até fins do século XVI, nas vihuelas espanholas, comprovada por vários métodos como os de Bermudo, Milan, Fuenllana e Amat. Este último, em catalão, não citou seis ordens para a vihuela, mas chamou de vandola, e ao método dele é creditado o início da caída de uso das vihuelas... Entretanto, na Itália, há registros no século XV (pelo musicólogo belga Johannes Tinctoris, no tratado De inventione et uso musicӕ) que “violas” seriam tanto dedilhadas quanto friccionadas por arco, exatamente como as vihuelas; no século XVI, seis ordens duplas (ou “geminadas”) seriam utilizadas em instrumentos chamados violone (segundo Lanfranco e Ganasi) e “viola, o mesmo que alaúde” (por Milano). Muito provavelmente (por causa destas últimas evidências na Itália), teriam sido também de seis ordens as “violas” portuguesas mais antigas que se tem registros, do século XV, pois ainda no século XVI, em Portugal, o Regimento dos Violeiros especificaria esta armação como “a oficial” para violas. Depois, durante a fase de transição que apontou o retorno do uso de seis ordens em cordofones europeus, historicamente mais justificável a partir da Espanha (entre 1760 e as primeiras décadas do século XIX, quando se consolidou o atual violão 6x6), as guitarras 12x6, também chamadas pelos portugueses de “violas”, teriam tido seu auge no ano de 1799 (apontado, entre outros, por Romão) e teria registros de uso pelo menos até o ano de 1826 (conforme método de Dionísio Aguado & Garcia, manuscrito apontado por Tyler & Sparks). Seis ordens duplas também surgiriam no XIX e ainda resistem nas chamadas guitarras portuguesas (inspiradas mais diretamente nas english guitterns, hoje extintas), embora estas seriam cistres, ou seja, de caixa arredondada e não cinturada como as violas e guitarras – mas aí já são outras prosas.
Todo este lastro histórico não deixa dúvidas de porque teria surgido (a partir de Portugal, naturalmente), e depois se consolidado no Brasil, o modelo Violas de 12 Cordas: violas que seriam ilustres desconhecidas se não fosse o teimoso talento científico e grande dedicação inicial de Júnior da Violla.
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
REFERÊNCIAS:
AMAT, Joan Carles. Guitarra española y vandola... Valência: Augustin Laborda, [1596].
BERMUDO, Juan. Declaracion de los Instrumentos Musicales. Madrid, s/n, 1555.
FUENLLANA, Miguel. Libro de Musica para Vihuela - Orphenica Lyra. s/l: s/n, 1554.
GANASI, Silvestro. Regola Rubertina. Veneza: s/n, 1542.
LANFRANCO, Giovani. - Scintille di musica. Brescia: Ludovido Britanico, 1533.
MILAN, Luis. El Maestro. [Valencia]: s/n, 1536.
MILANO, Francesco. Intavolatura de Viola o vero Lauto. Napoli: s/n, 1536
MORAIS, Manuel. A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789). Nassare Revista Aragonesa de Musicología XXII, Zaragoza [Espanha], v1, nº1, p. 393-492, jan./dez. 1985.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000 [1964].
ROMÃO, Paulo César Veríssimo. 1799 – O Ano dos Métodos para Guitarra de Seis Ordens. In: V Simpósio Acadêmico de Violão da Embap, 2011, Curitiba, Anais [...]. Curitiba: Embap, 2011.
TYLER, James; SPARKS, Paul. The Guitar and its Music:from the renaissance to the classical era. Nova Iorque: University Press, 2002.
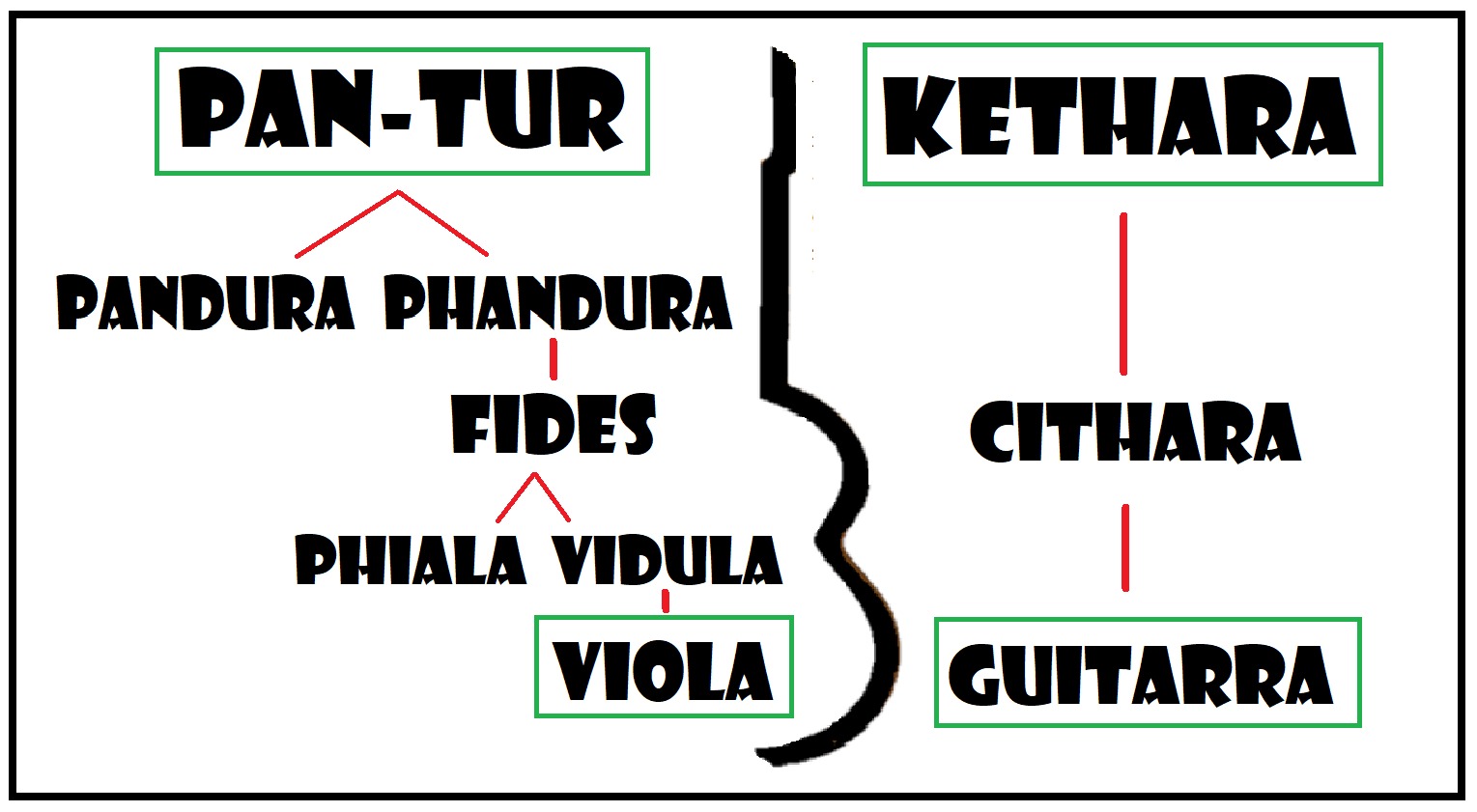 “GUITARRAS” x “VIOLAS”: uma disputa ancestral
“GUITARRAS” x “VIOLAS”: uma disputa ancestral
[...] The author has suggested a western Asiatic origin of the word: Ossetic fandir (related with pandur), Tawgy féandir, Jenissei dialect of Samojedic jedilo, Old Nordic fidlu, Anglo-Saxon fidele. Later on, the word lost its dental between the two vowels and became fele in Norwegian, viéle in Old French and viola in Italian.
“O autor [Sachs] sugeriu uma origem asiática para a palavra [viola]: fandir osseta [região do Cáucaso], (relativo a pandur), féandir doTawgy [samoiedo, Montes Urais russos], jedilo do dialeto samoiedo Jenissei, fidlu nórdico antigo, fidele anglo-saxão. Mais tarde, a palavra perderia o dental entre duas vogais e se tornaria fele em norueguês, viéle em francês antigo e viola em italiano”.
(Curt Sachs, The History of Musical Instruments, 1940, p. 274-275)
Viola, Saúde e Paz!
Já ouviu falar que é bom manter “um olho no gato, outro no peixe”? Em nossas pesquisas este se tornou um exercício constante. Neste tipo de “olhar” também conhecido como “de soslaio”, como na chamada “direção defensiva” de veículos, mantemos o foco nas violas, mas tentarmos não perder de vista o que aconteceu à volta, pela História, principalmente com outros cordofones similares. Já começando pelo próprio nome “viola”, na língua portuguesa aplicado para dois instrumentos bem diferentes: nós descobrimos porque isso acontece e vamos revelar aqui, mas é segredo... ou melhor: é “tesouro”!
Foi por estes olhares que nos deparamos com uma curiosa “disputa” ancestral, entre dois cordofones com caixa e braço que nos últimos séculos passaram a ser dos mais conhecidos e praticados em todo o mundo. Eles estão hoje consolidados em duas categorias distintas: “guitarra” (e nomes parecidos, nas diversas línguas) representa instrumentos dedilhados (tocados diretamente com os dedos, ou via plectros, que são pequenos objetos como dedeiras e palhetas); e “viola”, também com suas variações pelos idiomas, que na maior parte do mundo representa instrumentos friccionados (tocados por arco).
Como já descrevemos várias vezes, a partir do nosso livro A Chave do Baú, a única exceção conhecida desta “ordem ocidental” seriam as nossas violas dedilhadas (que na verdade deveriam ser chamadas “guitarras”, como praticamente no resto do mundo). Este fenômeno foi causado por uma ação nacionalista portuguesa, e que é a verdadeira origem das nossas queridas violas (só não espalhem muito isso, pois os estudiosos ainda não querem aceitar nossas descobertas... então, enquanto forem eles que “mandarem” nas violas, fica sendo segredo nosso também, ok?).
Separadas, pela nomenclatura e forma de tocar, estariam então “guitarras” e “violas”... Mas... desde quando? Como teria se dado isso?
Nosso ponto de partida passa pela visão destacada no início, do grande musicólogo alemão Curt Sachs (1881-1959), mas fomos muito além. O trabalho todo de Sachs é incontestável, embora não se encontre pela internet muitas fontes sobre sua biografia... Entendemos certo desprezo ao valor deste alemão por ele ter lançado, com o austríaco Erich Moritz von Hornbostel (1877-1935), em 1914, a proposta de classificação de instrumentos musicais mais famosa (e mais contestada) da História: a chamada “Hornbostel-Sachs”. A ousadia deles foi propor uma classificação organológica de todos os instrumentos musicais conhecidos em todo o mundo. Não encontramos tradução completa em português, mas fizemos questão de analisar o original completo em alemão e algumas traduções, versões e estudos a respeito em francês, inglês e espanhol. Realmente, a ideia foi boa, mas não a execução.
O mais importante é que o trabalho de Sachs vai muito além da Hornbostel-Sachs. Atestamos isso desde o livro Real-Lexikon der Musikinstrumente, de 1913, onde já propunha zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet (“ao mesmo tempo um poligrossário para instrumentos de todos os tipos”) e fomos até o livro “História dos Instrumentos Musicais”, de 1940, destacado aqui, na abertura. Foram, portanto, décadas em que Sachs pesquisou esculturas, desenhos e manuscritos deste a extinta língua suméria, passando por fontes e citações em aramaico, hebreu, egípcio, grego e latim até as línguas mais modernas. Não, não podemos deixar de louvar e elogiar seus esforços e descobertas. Se nos dá alguma “invejinha” do trabalho dele? Ah... pode colocar é “invejona” aí, por nossa conta!
Além da Hornbostel-Sachs, chegamos a Sachs por citação em interessante estudo da Dra. Julieta de Andrade, no livro Cocho Mato-grossense: um alaúde brasileiro, publicado em 1981. Nele, Andrade creditou Sachs junto a outros estudiosos: os franceses Albert Lavignac (1846-1916), Andre Schaeffner (1895-1980) e Lionel Laurencie (1861-1930), além do também alemão Hugo Riemann (1849-1919) e do português Mário de Sampayo Ribeiro (1898-1966).
Curiosamente publicado também em 1981, mas sem citação à Julieta de Andrade, a espanhola Rosário Martinez, em sua tese Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: los cordófonos apontou o que chamou de “teoria de Sachs” como la más acertada entre cerca de 15 apontamentos de linguistas, historiadores, filósofos e musicólogos que pesquisou. E, por fim, não o estudo de Sachs, mas análises similares foram observadas na tese A Guitarra na Galiza, da Dra. Isabel Rei-Samartim, depositada em 2020. Esta que, por sua vez, indicou fontes bem diferentes das duas anteriores: a italiana Ella B. Nagy e o galego Antonio Uxio Mallo.
Listamos estes estudos para denotar que diversos estudiosos apontaram a mesma visão a partir de fontes diferentes, sem que tenham apontado terem conhecido os trabalhos uns dos outros.
Todos estes estudiosos (Sachs, Andrade, Martinez, Rei-Samartim) e vários outros tentaram apontar possíveis origens das “violas”; todos eles buscaram ligações ou paralelos com a etimologia (a ciência que estuda a evolução histórica das palavras) que, como todos os estudos linguísticos atuais, ainda não aponta explicação de consenso para a origem do termo “viola”. Em nossa opinião, não solicitada, acrescentamos que dificilmente se consegue fazê-lo por este caminhos apenas.
Sim, acredite: nós buscamos nos aproximar de estudos linguísticos modernos, para tentar somá-los aos estudos musicológicos e até conseguimos boas descobertas, mas nossa conclusão é que aqueles estudos, assim como os sociológicos em geral, embasam-se por característica (e, talvez, por comodidade?) em teorias postuladas por estudiosos dos últimos séculos. Nada contra teorias, procuramos estudá-las também, mas nossa visão é que os dados ou registros existentes (ou “resistentes”) não precisam de muitas teorias para nos contar a História dos cordofones. Eles, por si, já nos apontam informações suficientes, só é necessário que se organize um número suficientemente grande e representativo (o que não vimos ter sido feito por nenhum entre centenas de estudiosos que checamos e exato por isso nos dedicamos a colecionar e organizar).
O que praticamente todos os estudiosos observaram é que os nomes dos instrumentos apresentam muitas variações, pelos séculos e pelas diversas culturas / línguas envolvidas, aparentemente sem nenhuma ligação lógica. Nomes diferentes para instrumentos similares, nomes iguais para instrumentos diferentes, nomes de uma língua utilizados em outras, às vezes para instrumentos similares, às vezes totalmente diferentes... Enfim, uma “bagunça”, parecendo ser aleatória, não é mesmo? Sim... Porém não quer dizer que, por parecer ser bagunçado, não tenha nenhuma “gerência”.
A “gerência”, a qual referimos de forma brincalhona, cientificamente se expressa por padrões observáveis a partir do citado banco de dados. Há coerências relativamente claras e que, ao nos apoiarmos em estudos históricos, sociais, estatísticos e outros (além dos musicológicos, obviamente), acreditamos sejam incontestáveis. Uma delas é que instrumentos musicais sempre estiveram em “evolução” (não apenas no sentido de “melhoras”, mas, sobretudo, de “mudanças, alterações”); daí, as variações de nomes se justificam não apenas por surgirem em línguas e contextos histórico-sociais diferentes, mas também pelas diferenças evolutivas dos instrumentos. É preciso ter olhar múltiplo, cientificamente.
Em nossa equação investigativa alguns fatores se destacam e entendemos que mereçam atenção mais aprofundada do que já teria sido indicado em outros estudos, entre eles: os ciclos evolutivos dos instrumentos levam muito tempo, não sendo exatamente correspondentes às variações de nomes; estes ciclos coincidem com mudanças histórico-sociais, ou seja, eventos de grande impacto social em significativo número de pessoas, ao mesmo tempo. Podemos afirmar que estes fatores são observáveis em toda a História dos cordofones europeus e, embora seja citado na História das Artes, estudos linguísticos não costumam considerá-los, assim como a outros fatores de múltiplas ciências e/ou visões.
Não, não estariam ligados diretamente à etimologia os registros que Sachs observou com tanta profundidade e que outros também tentaram relacionar: os registros apontam ter muito mais sentido em uma análise multidisplinar, uma ciência que ainda não teria nome e que brincamos de chamar de “Onomato-Organologia” (em homenagem à tradição de usar termos oriundos do grego para nomes de Ciências). Se algum dia viermos a ter apoio acadêmico-financeiro, poderemos aprofundar o estudo e até postular esta “nova ciência” (ou “ciência complementar à organologia”), mas não há problema: o que interessa é que nos baseamos em dados, em registros de época contextualizados histórico-socialmente, por todas as línguas envolvidas. Não é em “uma” ciência apenas, mas em verdades atestadas por várias delas. E preferimos não nos basear em nenhuma “teoria”.
Um dos padrões cuja profundidade teria escapado a Sachs e aos demais é que nomes de instrumentos similares (lembrando que estavam sempre em evolução de formatos e características organológicas) apontam tendência a se bifurcarem. As línguas envolvidas paralelamente também têm seu histórico próprio de evoluções, o que é observado pelas ciências linguísticas, mas no caso dos instrumentos musicais é preciso observar todos os tipos de evoluções em conjunto. Neste ponto, atrevidamente, propomos novas visões que podem ser úteis até para outros tipos de estudos, de outras Ciências.
Sachs teria observado a variação de nomes iniciados pela letra “f” e, posteriormente, o surgimento de vários nomes de instrumentos similares, porém iniciados pela letra “v” (ao que atribuiu a origem do termo “viola”, mas considerando-o, apenas como nome de friccionadas por arco). Esta evolução seria fato em algumas línguas chamadas “germânicas”, em especial nas variações de dialetos alemães, mas a Sachs faltou considerar que não só destas línguas dependia a História dos cordofones, mas ao ciclo evolutivo de várias línguas ao mesmo tempo (fato incontestavelmente atestado pela significativa influência social dos Trovadores, com auge entre os séculos XII e XIII, sequer citado pelo musicólogo). Os estudos também não teriam observado que sempre teria existido a possibilidade de violas dedilhadas, junto às friccionadas.
Também teria faltado ainda considerar que os termos em latim FIDES e seu diminutivo FIDICULA (ambos iniciados pela letra “f”), embora genéricos (ou seja, dos quais não se pode apontar a qual instrumento específico se referia, e sim a uma categoria geral, “cordofones”), também entraram no caminho histórico de nomes e com considerável importância, dado o longo histórico de influência do latim. O Império Romano tentou impor sua língua a todos os seus dominados e, depois, o latim teria continuado em uso por mais de mil anos, por todo o território europeu, a partir dos religiosos.
Sachs teria se fiado apenas no fato que, assim como em dialetos alemães, em latim a utilização da letra “v” é tardia, só vindo a existir para distinguir palavras com a letra “u” e que “f” e “v” tem, em algumas línguas, a mesma pronúncia. Mas isso não é suficiente e, principalmente, não é sustentado pelo amplo banco de dados de registros.
A evolução espontânea de “f” a “v” é uma teorização baseada em visões etimológicas, mas falta aos ilustres estudiosos aceitar o fato, comprovado pelos registros, de que nomes de instrumentos, diferente de outras palavras, historicamente não costumam seguir estas regras à risca... Para aceitar isso é preciso também aceitar que entre todas as artes, a música é a mais influenciada e mais influenciadora, e que reage muito diretamente às grandes mudanças sociais. Pelo visto, poucos no mundo “estariam preparados” para encarar este fato com a profundidade científica que merece, inclusive musicólogos. Uma das muitas evidências é que os instrumentos continuaram a ser chamados por nomes iniciados pela letra “f” em várias línguas, “desobedecendo” a regra de que teriam que ter migrado para iniciais em “v” até os dias atuais (que danadinhos!). Desta forma, nos apontaram o padrão, que é de bifurcações observáveis e atestáveis pelos registros históricos.
Como evidência de que estudiosos não teriam percebido a profundidade histórica contida em nomes de instrumentos, apontamos a utilização, tanto por Sachs quanto por vários outros estudiosos, de nomes que teriam sido de instrumentos específicos para apontar categorias de instrumentos. Sachs, por exemplo, escrevendo em inglês ou alemão, classificou os cordofones em categorias (ou “famílias”) denominadas zithers (“cítaras”), lutes (“alaúdes”), lyres (“liras”)eharpes (“harpas”). Consideramos esta prática, infelizmente ainda muito utilizada, bastante imprecisa e até prejudicial.
O raciocínio, em si, é coerente e fácil de entender: “harpas” seriam cordofones de tamanho maior, sem caixa de ressonância nem braço destacados para variações de notas musicais, onde a ressonância se dá por estruturas tubulares, como bambus e chifres, ao redor das cordas; “liras” seriam versões em tamanho menor das harpas, portáteis - que começaram depois a ser observadas com as primeiras caixas destacadas das cordas, como as de formato de tartaruga de instrumentos chamados CHELYS (em grego) e TESTUDO (em latim); “cítaras” estariam um pouco antes dos TESTUDOS na ordem histórico-evolutiva, por apontarem as primeiras caixas de ressonância, porém ainda ao longo (abaixo) das cordas; e “alaúdes” representariam a última fase, quando braços e caixas de ressonância se destacam no instrumento, como as atuais guitarras e violas. Sachs ainda apontaria divisão entre “alaúdes” (que para ele significaria “todos os dedilhados”) e fiddles, que seriam todos friccionados por arco até a década de 1940.
Apenas para o termo fiddle (e sua variação fidle, em alemão) não encontramos registros ancestrais. Encontramos, outrossim, fidula em latim, ancestral o suficiente para perceber que teria influenciado a criação de fiddle e fidle pelos estudiosos, o que consideramos um equívoco grave, pois fidula nem era friccionado por arco quando surgiu. Viu como inventar nomes pode ser problemático?
Há dúvidas sobre a origem mais remota, mas harfe (em alemão) e harpa (em latim) são bem antigos; lira é observado em latim a partir de λίρα (grego), assim como cithara, a partir de kithara (neste caso, a substituição da letra “k” por “c” é observada em várias palavras em latim). É importante observar que, portanto, cithara não deveria ser utilizado para nome de instrumento surgido antes do domínio do latim, posto que o nome nem existiria ainda e, claramente, se referia a instrumento com braço. Já lute (“alaúde”), a partir de al’ud (“bastão ou vara flexível, normalmente de madeira”, em árabe), é também bastante antigo.
A questão é que todos estes seriam nomes de instrumentos específicos, com características nem sempre similares em cada momento histórico e línguas onde teriam tido registros. E pior: ao utilizar fiddle (e variações) como genéricos para friccionados, perde-se, por exemplo, que teria havido na cadeia de registros o termo latino FIDES, utilizado para cordofones dedilhados de várias formas (fides, para instrumentos musicais, remete simplesmente a “cordas”).
É curioso (para não dizer lamentável) que tantos estudiosos, apesar de demonstrarem observação a evoluções etimológicas, não atentem para a utilização correta dos nomes em suas formas, épocas e línguas originais (ou mais remotas conhecidas), e entendam ser adequado utilizar traduções atualizadas, além de usar nomes de instrumentos pré-existentes como genéricos. É compreensível pela facilidade e faz sentido, conforme explicamos, mas à luz de estudos mais aprofundados se demonstra inacurado e até danoso a estudos posteriores. Em resumo: traduzir e “inventar” nomes de instrumentos atrapalha muito, há séculos, mas não a nós, por isso nos atrevemos a questionar a musicologia histórica até agora.
Todas estas análises críticas de fontes e estudos nos foram muito positivas, pois nos ajudaram a fortalecer o entendimento sobre os padrões observáveis e nos levaram a curiosa constatação de um “dueto” histórico que prevalece até os dias atuais, entre “guitarras” e “violas” (finalmente chegando ao tema proposto neste Brevis Articulus) ...
Pedimos desculpas por demorar, mas era preciso explicar, pois não se pode rebater e até desdizer levianamente tantos estudiosos respeitados. É preciso demonstrar que “temos garrafas vazias para vender”, como o diz o ditado popular, e que não estamos a brincar com registros históricos e com metodologia científica.
A origem do citado “dueto viola x guitarra” não se pode constatar antes dos escritos sumérios, os mais remotos que se tem notícia em todo o mundo: teria havido instrumentos com braço e poucas cordas por lá que, numa pronúncia em nossa língua, teriam sido chamados PAN-TUR. Depois, a mesopotâmica civilização Suméria teria sucumbido aproximadamente em 1900 aC., após sucessivas dominações por diversos outros povos, onde se destacam os Assírios: destes, se obtiveram registros de cordofones similares chamados KETHARA. A substituição do nome é bastante compreensível (substituição por nome na língua do dominador) e estabeleceria o mais remoto registro conhecido de bifurcação por nomes. A bifurcação seria atestada mais tarde, não muito longe dali, na região do Cáucaso: por termos ido além dos estudos e nomes levantados por Sachs (citados na abertura) e dos demais estudiosos, na busca por atestações, observamos na edição de 1897 da Armenische Grammatik (“Gramática Armênia”, do filólogo alemão Johann Hübschmann), que naquela região do Cáucaso outra bifurcação teria surgido, claramente influenciada pelo antigo PAN-TUR sumério: as variações PANDUR / PANDIR e FANDUR / FANDIR, assim como o nome ainda utilizado, PANTURI. Paralelamente, influenciado pela KETHARA assíria, haveria o nome armênio KIT’ARR (կիթառ), enquanto na Pérsia teriam sido observados vários registros de TÃR, como SETÃR, que significaria “três cordas” e PANTÃR (“cinco cordas”).
A bifurcação então surgida, liderada pelos sons das iniciais “p” e “f”, teria reflexos posteriores em textos dos gregos, exploradores do Cáucaso a partir do século VIII aC. Julieta de Andrade, Rosário Martinez e outros, por suas fontes e pesquisas, já teriam observado: παμντόρα (“PANDURA”) e φαντούρα (“PHANDURA”) teriam seus registros, além de também sobreviver uma variação da antiga KETHARA assíria: a KITHARA (κιθάρα) grega.
Dos gregos aos romanos, a partir do século II aC., ao invés de KITHARA seria observado CITHARA (também para cordofones com braço) e, algumas poucas vezes, GUITERNA / QUINTERNA. De CITHARA teria surgido mais tarde, ainda em latim, a bifurcação CISTRO / CEDRA, que algumas vezes dava a impressão de dividir os instrumentos entre os de caixa arredondada e os de caixa cinturada, mas as variações CETULA e CITOLA também apareceriam, estas utilizadas indistintamente quanto a formatos. A partir de PANDURA, teríamos PANDORION e alguns poucos registros de TAMBURA; só PHANDURA (“fandura”) não parece ter sido entendido assim pelos romanos, porém estes introduziriam os já citados genéricos FIDES e seu diminutivo FIDICULA, que entrariam para a lista das bifurcações iniciadas com som de “f” (e que temos motivos para indicar que não teria sido por coincidência). Já nos séculos IX e X, haveria apenas dois registros isolados de FIDULA (muito provavelmente uma redução de FIDICULA), até que no século XI teriam sido observados PHIALA e VIDULA, este último o mais remoto registro conhecido de uma nova bifurcação que nos traria, esta sim, até “VIOLA” ...
Entretanto, enganar-se-iam os estudiosos que apontam que inicial “v” anularia a outra vertente iniciada em “f” (que àquela altura já viria de mais de 15 séculos, não sumiria assim “do nada”!). O já citado “auge do Trovadorismo” (séculos XII e XIII) traria uma avalanche de nomes parecidos para cordofones também similares, em diversas línguas claramente em evolução pelo território europeu, onde podem ser observadas a bifurcação se consolidando (e não uma vertente suprimindo a outra). Depois da citada PHIALA, vê-se no século XII: FIDIL ou FIDLI (em anglo-saxão / irlandês), FIGHILE (em alemão) e FIGELLA (em texto em latim); no século XIII: FIÐELE, transcrito FIDELE ou FITHELE (em anglo-saxão); no século XV: FIGEL (em alemão), FIDELLA (em latim). A este caminho, juntar-se-iam a partir do século XVIII os já citados genéricos fiddle, fidel e fidula e finalmente FIOLA, observado em texto em latim no século XIII e que é nome ainda utilizado no País de Gales para as violas de arco. Como se demonstra, a bifurcação pela inicial “f” ainda segue representada, sem ter sido substituída, basta observar as diversas línguas relacionadas, pelos séculos.
E o caminho das iniciais em “v”? Pela ordem, após VIDULA teria sido observado também um grande caminho. No século XII: VIOLA e depois VIELLA (em latim), VIOLLE e VIELE (em francês), VIDELE (em alto-alemão médio), VIOLA (em catalão), VIHOLA, VIOLA, VIEULA (em occitano). No século XIII: VITULA (em latim), VIELLE (em francês), VIELLA e VIULA (em catalão); VIULHA (em occitano), VIHUELLA, VIOLA e variações (em espanhol), VIOEL (em texto em latim, por belgas). No século XIV só teriam sido observadas duas novas variações: VIOLE (em francês) e VIUOLA, depois finalmenteVIOLA (em italiano). No século XV: VIULE (em catalão), VIOLA, VIOLLA (em português). Já VIOL, VIALLE e variações bem próximas, em línguas inglesas antigas, só teriam sido observadas a partir do século XVI.
Este é o caminho que se consolidou e que, curiosamente, hoje aponta para um reverso, por causa do contexto histórico-social da globalização: o nome VIOLA tem passado a ser usado cada dia mais em diversas línguas, sem traduções, assim como “violino” (original italiano) e... “guitarra” (original espanhol).
Sim: o nome “guitarra”, o “concorrente mais antigo” das “violas”, também continuou seu caminho até os dias atuais, atestando que a tendência é de continuidade das bifurcações. Desde o mais remoto registro que se tem conhecimento, no século XIII (o Libro de Apolonio), seguiu no século XIV uma outra proposta de bifurcação, mas por procedência e formato, feita por Juan Ruiz (Libro de Buen Amor): GUITARRA MOURISCA / GUITARRA LATINA. Esta acabou culminando na preferência europeia pelo formato cinturado, diferente dos abaulados árabes, onde o nome “guitarra” prevaleceu. A partir do século XVII, quando GUITARRA continuou sendo nome preferido para dedilhados na Espanha, houve variações como GITTERN e GUITAR (em inglês); GUITERRE ou GUITARE (em francês) e GUITARRE ou GITARRE (em alemão) e a variação um pouco diferente, CHITARRA (em italiano).
A bifurcação que levou até o nome atual GUITARRA teve outra pequena bifurcação por curto período, não em termos de nomes, mas de formatos, antes da citada ascensão das guitarras espanholas: após os citados termos em latim CETULA e CITOLA, surgiriam em línguas não latinas as variações CITHERN / GUITTERN como nome de instrumentos de caixa arredondada (de onde depois teria vindo a Guitarra Portuguesa). Aquele formato arredondado de caixas acabou se normalizando, mas com outro nome: são chamados hoje de cistros ou cistres (bem próximo do que teria sido bem antes, em latim), menos em Portugal, que aproveitou a rivalidade com a Espanha para permanecer com a única “guitarra” não-cinturada que se tenha notícia.
A observação da coerência em toda a História dos cordofones europeus dá segurança para atestar anomalias específicas surgidas na língua portuguesa, justificadas pelo contexto histórico-social específico entre Portugal e Espanha, grandes concorrentes históricos – verdadeiras “exceções que comprovam a regra”.
As últimas bifurcações observadas teriam se originado a partir da língua italiana: nomes de violas em várias outras línguas passaram a apontar os grupos de letras “alt” e “brac”, relativos a ALTO (a partir de contralto) e BRACCIO (“braço”, em italiano). Tendo as violas de arco evoluído bastante a partir da Itália, estes dois nomes antigos teriam influenciado outras línguas, assim como nomes do mesmo naipe nas orquestras: violino e violoncello. Os primeiros nomes (com sobrenomes), observados na Itália a partir do século XV, seriam viola da braccio e viola da gamba. Gamba significa “perna”, em italiano e daí se constatam, por inúmeros registros, os tamanhos originais das violas de arco, influenciadores da hoje chamada “família dos violinos”.
Apesar de ter-se tornado então o mais famoso, VIOLINO só teria registros a partir do século XVI e só se consolidaria a partir do século XVIII... este é o tipo de constatação que também passa despercebido pela maioria dos estudos, mas não aos nossos: algumas vezes um nome de instrumento surge, mas demora algum tempo para se consolidar com as características organológicas depois consolidadas. Não se pode entender que registros escritos do termo “violino” existentes desde o século XVI já representassem o instrumento hoje consagrado e consolidado. Assim como, naturalmente, não teriam sido “violinos” as abauladas rababs (“rabecas”) árabes, que teriam chegado ao território europeu a partir do século VIII: antecessoras e influenciadoras, certamente, mas só muito tempo depois os violinos modernos chegariam ao que se tornaram.
Também sem se bifurcar pelo nome, VIHUELA significava tanto dedilhados quanto friccionados pelo menos desde o século XIV até o século XVI, na Espanha, assim como VIOLA, na Itália, no século XV e, em Portugal, do século XV até os dias atuais. Esta, inclusive, é a origem da bivalidade que ainda temos... mas aí já são outras prosas. Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers, onde as fontes não citadas estão disponíveis para consulta e conferência).
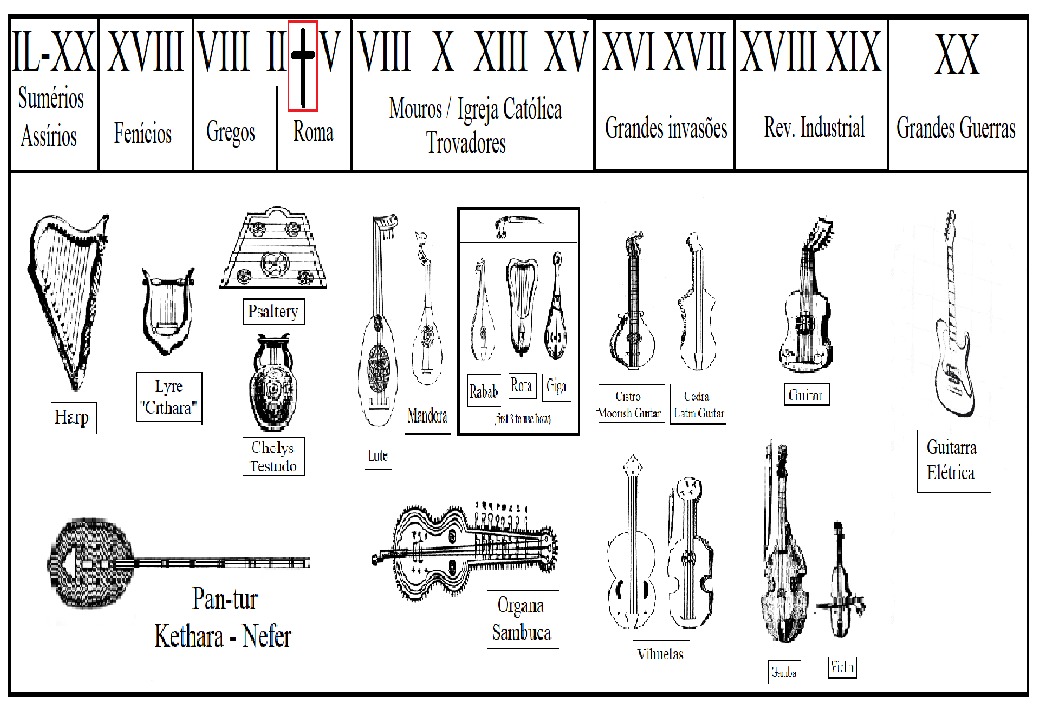 INSTRUMENTOS MUSICAIS, MEDIADORES SOCIAIS.
INSTRUMENTOS MUSICAIS, MEDIADORES SOCIAIS.
[...] os instrumentos musicais são artefatos mediadores de relações sociais e percorrem ao longo do tempo carreiras simultaneamente musicais e sociais. São os usos dos instrumentos e as crenças dos grupos sociais acerca do valor destes objetos que ora exigem sua presença, ora os dispensam ou repudiam. O recuo de um instrumento ou sua substituição por outro tem ligação imediata com os idiomas musicais aos quais servem; estes, por sua vez, ligam-se a contextos sociais determinados.
[Elizabeth Travassos, artigo “O destino dos artefatos musicais de origem ibérica e a modernização no Rio de Janeiro”, 2006]
Viola, Saúde e Paz!
O nome formal, para usar em textos acadêmicos, seria algo como “estratégia metodológico-científica” - mas, no popular, nada mais é do que um caminho seguido do início ao fim de um estudo. Ou seja: é demonstrar que não estamos a “reinventar a roda”, muito menos a falar da própria cabeça invenções ou corrupções. Não deixa de ser uma demonstração de humildade, honestidade e compromisso com a verdade que só os melhores estudiosos têm coragem de fazer, que é citar e realmente seguir uma metodologia em suas publicações. Infelizmente, observa-se muitos estudiosos se perderem da base metodológica, quando assumida, e afirmarem coisas sem citar de onde teriam tirado, nem apresentar desenvolvimentos.
Audazes, chegamos a citar o tal caminho também publicamente, mas de forma lúdica, fantasiosa: A Chave do Baú, título de nosso livro, num paralelo com uma caça ao tesouro (como nos filmes). Sim: a “chave” nada mais é do que a metodologia científica desenvolvida, seguida à risca e demonstrada em detalhes, com fartas referências listadas ao fim de cada capítulo - tudo totalmente às claras. Achamos que talvez pudesse ser atraente ao público em geral tratar de Ciência numa linguagem menos formal e alegórica, e enquanto também (e principalmente) artista, usar a fantasia e a leveza como facilitador das “prosas”. A mesma linguagem e entendimento utilizamos aqui, nos Brevis Articulus.
Como já citado, não estamos a inventar nada - apenas sugerindo um passo além do que vimos já ter sido feito para outros curiosos que possam vir a ler. Deixamos disponível à Humanidade também um banco de dados (estudos e fontes) bem maior do que encontramos nos estudos pesquisados. Estes dados, colhidos em centenas de fontes, foram checados, retraduzidos, organizados cronologicamente e reanalisados no contexto do novo e grande conjunto formado - pois foi assim que a estratégia (ou metodologia, ou “chave”) nos indicou claramente que precisaria ser feito. Não observamos que já tivesse sido feito assim antes e, principalmente por isso, assim o fizemos.
O principal ponto de partida foi o texto destacado no início, da antropóloga carioca Elizabeth Travassos - infelizmente falecida em 2013. O artigo, de rara lucidez, profundidade e honestidade científica sobre o assunto à época (2006), foi encontrado no livro Artifícios e Artefactos. Este livro nos foi presenteado por um dos grandíssimos colaboradores de nossa monografia - e de quem, num erro grave nosso, não nos lembramos quem tenha sido, para agradecer devida e nominalmente, mas que possa se sentir agradecido e aceitar nossas desculpas.
É uma pena que aquele artigo parece não ter influenciado os estudos sobre violas que vieram depois, pois a História das violas brasileiras talvez já tivesse sido vista de forma diferente... Observamos alguns autores que teriam entendido equivocadamente ou teriam distorcido propositalmente as colocações de Travassos (não temos como provar). Não sabemos também se, mesmo que tivessem tido acesso, os principais pesquisadores / “formadores de opinião” abririam mão de seu compromisso com o caipirismo - um entendimento coletivo sem fundamentação em registros de época, ou seja, totalmente contrário ao procedimento adotado e defendido no citado artigo.
Voltando à “vaca fria” (ou, antes que ela esfrie), o tal artigo de poucas páginas tem tantas referências quanto algumas teses acadêmicas que já tivemos o desprazer de ler, às vezes até mais referências que estas. A Dra. Travassos não facilitou nosso trabalho, pois escreveu pouco mais que o trecho destacado na abertura: como outros fazem às vezes, não citou as fontes de suas (para nós) importantíssimas afirmações naquele parágrafo. Fossem outros autores, consideraríamos (entre palavrões proferidos) que teria sido alguma “sacação”... Entretanto, após atestar a profundidade e coerência geral do artigo, e checar as dezenas de referências sem encontrar um equívoco ou inconsistência sequer, não restou qualquer dúvida: aquela jovem senhora saberia, e muito, sobre o que tinha escrito! Uma consulta rápida ao currículo dela, pela internet, indicou a mesma coisa: foi do tipo de estudioso que sabia muito sobre o que escrevia.
Por que ela, então, não teria indicado as referências? Talvez nunca saberemos com certeza, mas entendemos como maior possibilidade que o trecho seria um resumo sobre um emaranhado muito grande de fontes antropológicas. Não seria fácil listar todas sem apresentar junto um desenvolvimento - e este desenvolvimento precisaria talvez ser tão extenso quanto o próprio artigo curto que a Dra. estava a escrever, além de extrapolar o tema proposto. Isso acontece: veja quantas palavras precisamos utilizar aqui para tentar explicar nossa hipótese! Em minerês seria muito mais fácil: “o pobrema é que o trem era muito é dus cabeludo...”.
Por falar em não fugir ao tema, o que interessa é que mergulhamos nos conceitos apontados pela Dra. Travassos e, pesquisando e costurando bases científicas, concluímos que a Metodologia Dialética teria muitas similaridades. Os fundamentos desta Metodologia são creditados ao filósofo grego Platão (ca. 428 aC. - ca. 328 aC.) e desde o século XIX ela é aceita para aplicação em pesquisas científicas. Viu como funciona? Um grego teve uma ótima “sacada” (como se fosse no voley), alemães “mataram no peito, arredondaram a bola e colocaram no chão” (como fosse no futebol) e, a partir de então, outros vem “usando a mesma jogada” ... Quem é íntegro e elegante dá os créditos devidos e segue as regras básicas da tal “jogada” - podendo até inserir umas pitadas de talento a mais (em esportes e em ciências, por exemplo, brasileiros costumam dar show, pois somos reconhecidamente muito criativos).
Por isso, não apenas em estudos sociológicos (como os de Engels e Max) encontramos vestígios de aplicação da Metodologia Dialética: em vários outros tipos de estudos, incluindo os musicológicos (os que mais estudamos), pesquisar e citar os mais remotos registros encontrados é largamente utilizado como argumento de fundamentação - mesmo que alguns digníssimos pesquisadores não citem que isso faz parte de uma metodologia – pode conferir, é mesmo muito usado, até em textos livres, não acadêmicos, onde é apontado às vezes como “curiosidade”.
Ah, sim: caso a esta altura esteja a pensar que descrever a metodologia esteja fora do assunto “instrumentos musicais, mediadores sociais”, por favor, lembre-se que tudo aqui partiu de reestudos sobre as VIOLAS BRASILEIRAS (!) - que estariam, pela primeira vez, colocadas em mediação na História dos cordofones ocidentais, conforme vários contextos histórico-sociais. E que o início desta pesquisa inédita se deu por causa da pandemia, um evento de enorme impacto social no mundo todo... Entendeu ou precisa que desenhe?
A Metodologia Dialética aponta, em resumo, que “nenhum objeto de estudo deve ser analisado à parte de seus fenômenos circundantes”. Ora, para descobrir as tais “relações sociais” que a Dra. Travassos citou, entendemos ser necessário identificar e analisar a época e o local que os instrumentos teriam sido utilizados (relações sociais dependem disso, mas não apenas...). Somando as coisas, concluímos: “objeto de estudo? Instrumentos musicais, ok, tá fácil”; “fenômenos circundantes? hum...” (e pausa para pensar) ... Após muita reflexão, entendemos que os fenômenos circundantes seriam, entre outros: dados históricos, sociológicos, diferentes línguas utilizadas, análise de discurso de diferentes tipos de textos (tratados musicais, poesias, prosas, lendas...), estatística analítica (pela quantidade de textos não técnicos) e outros “fenômenos” ... vários outros... “Putz!...”
Neste ponto, deveríamos ter percebido que a tarefa era inglória; que talvez nunca teria sido feita por ser muito complexa e que, portanto, a tendência é que muitos não iriam entender e/ou dar valor. Certamente iriam pensar de nós: “Ninguém fez assim antes, de onde tirou isso?” ... Não percebemos isso a tempo e, também por sermos muito teimosos, seguimos pesquisando.
O que interessa é que os caminhos existem e já tinham sido intuídos e/ou indicados há séculos, por vários estudiosos, em várias culturas diferentes. Então, respondemos sobre quem vier desdenhar: “Pare de encher o saco e vá estudar; desminta as fontes e embasamentos apresentados, antes de vir criticar” (aqui, até para xingar usamos rima!). O que não falta na História são malucos que acrescentaram novas visões ao antes existente: que o tempo seja o juiz, e indique o quanto é válido (ou não).
Também nos ajudou a ter segurança alguns vestígios encontrados em estudos sobre as violas dedilhadas (nosso ponto de partida), um deles em particular: o capítulo “Cronologia”, encontrado entre as páginas 112 a 121 da dissertação de Mestrado em Música Viola – do sertão para as salas de concerto: a visão de quatro violeiros, de Andréa Carneiro de Souza, depositado em 2002. Por que? Porque àquela altura já tínhamos vislumbrado que a organização cronológica dos dados é fundamental para analisar bem as relações sociais e outros fenômenos circundantes: eles costumam se estender por grandes períodos, em fases de transição que ultrapassam, às vezes, séculos. Estudar apenas curtos períodos de maior citação de um instrumento seria pouco eficaz: o ideal é buscar o mais remoto registro conhecido e ir analisando pelos séculos o que foi acontecendo. Se possível, analisar também o antes e o depois da história daquele instrumento, e de outros aos quais possa estar relacionado.
Para tanto, portanto (e ainda rimando, “rimanto”), era preciso montar uma vasta cronologia de dados, de registros históricos fundamentados e também de estudos publicados - estes últimos, para observar como pesquisadores teriam analisado os dados antigos. Esta parte faz muita diferença, pois estudiosos costumam secundar-se em cadeia (um péssimo costume, diga-se de passagem): se um se equivoca (por exemplo, numa tradução ou interpretação), é grande o risco de outros virem se equivocando pelos tempos, se os seguidores não reconferirem as origens (as traduções e contextos, principalmente). De fato, a aplicação de cronologias já nos chamava a atenção antes que soubéssemos postular com total clareza sua importância: nossa monografia é uma “Linha do Tempo da Viola no Brasil”, depositada em 2021, mas que tem base em estudos começados em 2015!
Partimos, então, do citado capítulo “Cronologia” (e outros trabalhos que também listavam fontes em ordem cronológica) para checar tudo e incrementar mais dados - e foi muito grata a nossa surpresa ao descobrir que o tal capítulo havia sido, de certa forma, “exigido” pela orientadora da dissertação de Andréa Carneiro (violeira carioca, a quem agradecemos pelo atendimento a nossas consultas, por telefone). Quem foi a tal orientadora de Andréa? Ninguém menos que a nossa agora “ídola”, a Dra. Elizabeth Travassos...
Coincidências à parte, entendemos estar no caminho certo por vários outros indícios. O vasto estudo de contextos histórico-sociais está exemplificado (em resumo) nas primeiras páginas do livro A Chave do Baú, onde apontamos o paralelo: “Eventos de Grande Impacto Social” / “Reflexos em Instrumentos Musicais”. O assunto não é exatamente uma novidade, afinal, nos estudos sobre História da Arte já existe até a consolidada separação por períodos como “renascimento”, “barroco” e outros, que parte do mesmo princípio; nós apenas organizamos e buscamos nos aprofundar no que poderia ter tido reflexos diretos nos instrumentos musicais populares (como indicou Travassos), focando nos cordofones (só temos uma vida, não dá pra abraçar tudo!).
À luz do significativo banco de dados levantado, observamos evidências atestáveis: sempre que um número expressivo de pessoas sofria mudanças socioculturais (como guerras e dominações, por exemplo, mas não somente), instrumentos apontaram mudanças, principalmente organológicas e nos nomes - assim como outras mudanças são observáveis em outros segmentos, por outras Ciências.
As mais óbvias alterações talvez fossem as variações de nomes, posto haver diversas línguas envolvidas - mas aí vislumbramos uma complexidade que talvez não tenha sido bem observada antes (possivelmente, nem pela Dra. Elizabeth Travassos): a língua talvez seja a maior expressão cultural de um povo - quer seja por imposição de dominadores quanto por resistência de oprimidos. Não: concluímos que de forma alguma as variações de nomes por diversas línguas devem ser analisadas superficialmente, como por exemplo: “Ah... as vihuelas espanholas eram chamadas de violas pelos portugueses, um simples bilinguismo, uma tradução óbvia do espanhol para a língua portuguesa...”.
Além da (mais óbvia ainda) questão de que portugueses não citavam guitarras grandes e pequenas, quando estas coexistiam com as vihuelas (só citavam “violas”), há muito mais no embutido e embalado pelos séculos: a histórica disputa Espanha-Portugal é longa, inclusive com guerras que acarretaram consideráveis impactos sociais em ambos os povos. Além disso, abrindo-se o leque de observação (como proposto metodologicamente), um pouco mais a frente, entre os séculos XVII e XVIII, descrições de “violas” portuguesas apresentavam detalhes praticamente idênticos aos das guitarras espanholas daquela outra época. As guitarras então eram praticadas em quase todo o território europeu e chamadas por nomes bem similares, como guitare (em francês), Guitarre e/ou Gitarre (em alemão), e até chitarra (em italiano). Não se conhecem registros de vihuelas naquela época posterior (teriam caído em desuso), mas os portugueses continuavam a chamar apenas de “violas” seus dedilhados portáteis, desprezando termos como guitarras e até alaúdes (alaúdes também teriam estado presentes na sociedade europeia, com diversos registros em textos de outras línguas menos em português e espanhol, por todas as épocas até o século XVIII, pelo menos). Teria sido bilinguismo? Tradição portuguesa de se agarrar a um nome antigo e não perceber diferenças claras dos instrumentos? Invenção, bobagem ou loucura nossa?
Ou, quem sabe... talvez... a complicada relação histórica com mouros e espanhóis possa ter influenciado uma tácita reação patriótica / nacionalista dos portugueses, em não citar os nomes originais dos instrumentos?... Mais que apenas não citar: “fazer de conta” que eles seriam todos “violas” - um nome relacionado ao latim e, portanto, também ao italiano (línguas bem mais “simpáticas”, historicamente, aos portugueses). Esta opção seria, inclusive, válida desde o século XIV até os dias atuais... Quem sabe?
Para acrescentar à atestação, contextos histórico-sociais semelhantes foram observados em vários períodos históricos conturbados, como o da dominação grega, depois da romana, o de domínio da Igreja Católica, o da invasão moura na Ibéria, os da Revolução Industrial, entre outros – todos, sempre com reflexos verificáveis nos instrumentos musicais populares, incluindo seus nomes.
Com relação aos instrumentos musicais (especificamente aos cordofones), pudemos observar, em resumo e dando um passo a mais do que afirmou Travassos, dois comportamentos que entendemos ser importante apontar (ou “postular”):
1 - cordofones reagem historicamente a eventos sociais de significativo impacto social via alterações em seus formatos, nomes, surgimento e/ou caída em desuso e outras reações;
2 - apesar das mudanças, alguns resquícios históricos costumam permanecer por grandes períodos, quer seja nos nomes ou em outras características. Este fato torna bem complexo o estudo, mas ao mesmo tempo pode e deve ser atestado e pesquisado, até mesmo para melhor entendimento e confirmação das peculiaridades.
Sobre o primeiro comportamento, já demos exemplo aqui (os instrumentos chamados de “viola” só em língua portuguesa). Sobre o segundo comportamento, entendemos, por exemplo, que não seria por acaso que instrumentos europeus (como vihuelas, guitarras e as diversas violas) tenham surgido e/ou se consolidado com formatos cinturados e fundos paralelos de caixas, enquanto instrumentos árabes, surgidos antes, sempre apresentaram formatos sem cinturas e abaulados: uma reação em rejeição aos invasores árabes é notória, justificável e apontada por vários estudiosos – mas, apesar disso, a armação de cordas em seis ordens e até afinações em quartas (constatadas desde alaúdes mais antigos) sobrevivem em instrumentos de origem europeia até os dias atuais.
Ainda, para confirmar a regra mas sem ser exatamente um exceção (que por sua vez comprova que o tema é mesmo complexo), não seria por acaso que várias violas dedilhadas, tanto portuguesas quanto as nossas, hoje apresentem cinco (e não seis) ordens de cordas e, diferente do resto da Europa, nome igual ao das violas de arco: a disputa Portugal/Espanha contextualiza - e a peculiaridade de ser fato ocorrido apenas na língua portuguesa denuncia - uma quebra de padrão que só aconteceria em casos especiais... e este “caso especial” seria contexto histórico-social específico ao povo português. As regras postuladas ajudam muito a identificar e atestar até exceções - mas tudo sempre recai, afinal, em amplas análises sobre os fenômenos circundantes específicos de cada região (sempre eles).
Estes princípios dão margem a descobertas de tesouros – mas aí são outras prosas... Por enquanto, muito obrigado por ler até aqui - e vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro “A Chave do Baú” é fruto da monografia “Linha do Tempo da Viola no Brasil” e do artigo “Chronology of Violas according to Researchers”).
 BATUQUES, LUNDUS, MODINHAS, VIOLAS PRETAS.
BATUQUES, LUNDUS, MODINHAS, VIOLAS PRETAS.
“A pesquisa (quaerere, em latim) sempre foi e sempre será contínuo (re)questionar, (re)perguntar, ‘reduvidar’: olhar para o passado requer extremo cuidado e revisões ad infinitum, pois a influência do presente é forte e traiçoeira!”
(João Araújo)
Considerados por nós equívocos não pouco graves, o que mais observamos em pesquisas são tentativas de olhar o passado presas a conceitos modernos. A fim de minimizar o problema, que também pode nos enganar (pois somos todos seres humanos, mortais e falíveis), tentamos aplicar atentamente técnicas como:
- observar o máximo de “fenômenos circundantes” ao objeto de estudo (princípio atribuído originalmente ao grego Aristocles “Platão”) – em nosso caso, buscando informações em outras línguas e em Ciências além da musicologia;
- com a ampliação de conceitos e consequente ampliação do banco de dados para o estudo, aplicar nele estatísticas;
- procurar não afirmar quase nada - ou, no máximo, dizer “é o que se pode afirmar com base nos registros estudados até o momento” - pois entendemos que a Ciência séria e honesta sempre tenderá a “requestionar”, a reanalisar dados e acrescentar outros, a repensar e confrontar teorias.
Na busca por temperar e credibilizar a musicologia com aspectos históricos, sociológicos, linguísticos e de outras ciências, em fontes e estudos pelo menos das línguas europeias mais conhecidas, aplicamos (atrevidamente) esta metodologia inclusive em nomes de instrumentos e conceitos que os circundam pelos séculos. Atrevidamente porque não nos atemos apenas a teorias linguísticas e organológicas, por exemplo, se tivermos registros históricos que habilitem a questioná-las – “fatos sempre acima de teorias” é o que aplicamos. No caso da língua portuguesa, analisamos nomes desde raízes em grego (quando conseguimos traduções confiáveis, posto não lermos fluentemente), mas com bastante ênfase e segurança em latim, occitano, catalão e influências e paralelos históricos de/com outras línguas europeias (dependendo sempre da época atestada dos registros).
Dito isso, recentemente tivemos uma agradável e renovadora troca científica pelas redes sociais virtuais (sim, existe vida inteligente nas redes!); por já termos dissecado o excelente trabalho de doutoramento (cujas precisas fontes relacionadas a violas rastreamos todas, e por isso recomendamos a leitura), nos atrevemos a questionar (ou “requestionar”) publicamente uma postagem do professor Rubens Russomanno Ricciardi, da USP. Confessamos que não tínhamos muita esperança de ter dele muita atenção, pois somos nada, senão um curioso tarado por leitura, dados e reflexão. Inclusive, e sobretudo academicamente, somos nada.
Foi-nos, entretanto, gratíssima surpresa a generosidade deste grandíssimo pesquisador em trocar várias ideias e informações conosco. É fato notório que vários assim considerados “grandes pesquisadores” ligados às violas dedilhadas (muito mais comprometidos com o caipirismo que com as violas, entretanto) vem ignorando nossas descobertas e “requestionamentos” (se não existia, agora pedimos licença em inventarmos este termo, “requestionar”, pois está a nos perseguir enquanto escrevemos este texto).
O que não é inventado, nem novo, é que a afetividade pelo entendimento coletivo chamado “caipirismo” (ou outras motivações, talvez?) vem há cerca de meio século a tornar alguns olhares científicos “bastante seletivos” (por assim dizer, para não ser deselegante com pesquisadores aos quais admiramos e com os quais não podemos negar que sempre aprendemos muito). O requestionar, sobretudo por chatos como nós, embasados em citações de época e metodologias científicas é reprimido sistematicamente via bloqueios ou simplesmente ignorado.
Não foi o caso, de forma alguma, do professor Ricciardi: dele, a paciência (benevolência, magnitude, etc.) só podemos entender como fruto de um altíssimo compromisso com a ciência, possivelmente aliado a uma grande experiência no trato com alunos chatos, atrevidos, “que se acham” – neste último caso, ainda superlativa, pois sequer estamos à altura de sermos aluno dele. O que interessa é que ele nos motivou a dar “mais uma olhada”: um novo pequeno aprofundamento a mais nos estudos e dados sobre as modinhas, “lunduns” (como gosta de grafar o professor), batuques e similares; aprofundamento que é dos principais objetivos desta coluna, a partir das citações, como é o caso, apontadas em nosso livro A Chave do Baú.
Outra confissão precisamos fazer: é grande a nossa preguiça em reavaliar estudos sobre as modinhas e lundus... Há dezenas de publicações, porém a maioria feita por pessoas que, embora sérias e dedicadas, cometem equívocos básicos, como considerar cavaquinho ou violão o instrumento do grande e indubitavelmente VIOLEIRO Domingos Caldas Barbosa (ca.1738-1800). Quem comete tais tipos de equívocos, lamentamos dizer, não parece se preocupar nem um pouco em pensar o final do século XVIII como diferente do que só se constata possível bem depois - e são, como dissemos, dezenas deles. Já passamos por este martírio antes...
Constatamos, entretanto, que também não é (nem de longe) o caso do professor Ricciardi: muito mais motivador e generoso, entendemos tratar-se de um dos mais sérios e aprofundados estudiosos sobre este e outros assuntos musicológicos. Além da generosidade e compromisso com a Ciência, por exemplo aceitando sem problemas requestionamentos públicos até pelas redes sociais virtuais, destacamos uma característica que consideramos importantíssima (e, infelizmente, muito rara entre estudiosos): é nítido que o professor Ricciardi não se ancora para sempre em descobertas / estudos já feitos. A partir do seu citado doutoramento, do ano 2000 - Manuel Dias de Oliveira: um compositor brasileiro dos tempos coloniais – partituras e documentos -, vem fazendo aprimoramentos e aprofundamentos, compartilhados em várias publicações, das quais destacamos (como referência mínima de leitura) seu livro Música Popular Brasileira Antiga, volumes I e II, de 2015 (disponível gratuitamente pela internet): é uma seleção de estudos feitos até aquela época, mas o (realmente) grande pesquisador não parou (e parece, nunca vai parar). De fato, torcemos que não pare, pois é sem dúvida “dos imprescindíveis”, como diria Bertolt Brecht.
Embora acreditemos que pesquisadores são como goleiros e árbitros (do futebol) - só podemos elogiar após o apito final - ainda precisamos apontar outra qualidade importantíssima, que destaca o professor Ricciardi da maioria: é instrumentista, maestro e arranjador orquestral. Ah... como são desprezadas estas qualidades em avaliações de estudos musicológicos... e quanta diferença de visão somada elas fazem!
Mas... (e, naturalmente, este “mas” já era esperado), precisamos a este ponto vestir o personagem memento mori (saudação de antigos padres) ou hominem te memento (de uso atribuído a antigos escravos romanos) - ambas as expressões que serviam para lembrar que, apesar de tudo, eram (e continuamos, todos) a ser humanos, mortais. Naturalmente, não nos atrevemos a desmentir o (agora) ídolo nosso, que esperamos que continue a ser paciente conosco após esta publicação - mas nos atrevemos, sim, a questionar algumas de suas colocações.
Não cabe aqui, nem estamos a fim de ir muito a fundo: tivéssemos onde publicar artigos científicos a serem antes revisados por cientistas, até poderíamos tentar fazê-lo. Abordaremos apenas alguns detalhes, especificamente quanto ao capítulo “Grande Lundum editado por Edward Laemmert no Rio de Janeiro – o gênero popular brasileiro entre o batuque e o samba”, do citado livro do professor Ricciardi, de 2015. Neste capítulo há desenvolvimento muito bem detalhado e embasado sobre diferenças entre batuque, lundum e modinha - ao qual, entretanto, apontamos aqui alguns requestionamentos (seguimos não conseguindo evitar este nosso termo inventado).
A primeira e mais importante questão vem de nossas principais descobertas e defesas: questionamos apontamentos de alguma possível “viola caipira” antes da década de 1970, como se fosse o único - e até o predecessor - de todos os demais modelos atuais da Família das Violas Brasileiras (postulação inédita nossa, baseada em centenas de fontes que apresentamos em nossa monografia). Não entendemos que possam ser consideradas nem citadas como “violas caipiras” as “violas” registradas nos primeiros séculos por aqui. Entendemos ser este um grave equívoco: olhar o modelo mais famoso e conhecido modernamente como se já existisse na antiguidade - principalmente antes do caipirismo, proposto só a partir do século XX, sendo que o termo “caipira” já existiria desde o início do século XIX, sem nunca antes ter significado, nem de longe, uma “cultura” como é interpretado por muitos desde 1910. Este entendimento coletivo hoje replicado, por influência principalmente de teorias sociológicas, não tem comprovação por registros de época. E ninguém tem o poder de “inventar uma cultura”: para se afirmar é possível provar que ela teria existido, não apenas imaginar e acreditar.
Sobre a utilização de “guitarras” (chamadas de “violas” por portugueses e brasileiros) em batuques, pelo menos no início do século XIX pudemos observar (sempre em tradução nossa), entre outros registros:
- em 1806, o comerciante inglês Thomas Lindley (ca. 1772-?), à página 127 de seu Narrative of a Voyage to Brasil descreveu guitars na Bahia, em uma dança com movimentos sensuais a qual chamou negro dance e que seria, para ele, [...] a mixture of the dances of Africa, and the fandangoes of Spain and Portugal (“uma mistura de danças africanas e fandangos espanhois e portugueses”);
- entre 1809 e 1815, o português Henry Koster – “Henrique da Costa” (1793-1820), à página 241 de seu livro Travels in Brazil (pela edição em inglês que conseguimos acesso), detalhes de uma dança de “escravos de cor”, no nordeste do Brasil, com lascivious attitudes (atitudes lascivas) e cantos que conteriam indecent allusions (“alusões indecentes”), conduzidos por um guitar player (“guitarrista”);
- entre 1814 e 1815, o naturalista alemão Georg Wilhelm Freyreiss (1789-1825), à página 542 de seu Reisen in Brasilien (“Viagem ao Brasil”) citou Guitarre (em alemão) para instrumentos usados na dança que chamou de Batuca, em Minas Gerais;
- entre 1815 e 1817, o etnólogo alemão Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied (1782-1867), à página 91 de seu livro Travels in Brazil (novamente, só conseguimos a edição em inglês), chegou a registrar literalmente o termo “viola” ao lado de guitar, em duas descrições de baduccas, reuniões presenciadas no Rio de Janeiro;
- em 1819, o botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), à página 60 do segundo volume de seu Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans la province de Goyaz também registrou o nome “viola” ao lado de guitare (em francês), que teriam sido vistas em Minas Gerais - além da interessante narrativa de uso do mesmo tipo de instrumento para a complainte (“lamentosa”) modinha e em seguida para o obscene batuque (os dois últimos termos sublinhados, grafados em bom português na edição que checamos);
- em 1823, o militar português Raimundo José da Cunha Mattos (1776-1839), à página 37 de seu Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas províncias de Minas Gerais e Goiaz, apontaria excelente noção sobre instrumentos tocados por vadios em batuques em Minas Gerais, ao chamar os instrumentos de “[...] machete, bandurra ou viola”.
Como se observa pela pequena amostragem acima (há muitas mais em nossa monografia), pessoas de diversas nacionalidades e tipos de conhecimento narraram, com detalhes bastante similares, fatos observados em diversas regiões do Brasil. A nós se torna difícil entender, portanto, que nos batuques houvesse apenas kalimbas, como afirma o professor Ricciardi (sequer citadas nestas e várias outras fontes) - pelo menos, naquele período, do qual há bom número de registros.
Sobre instrumentos utilizados por pretos à época, já destacamos antes aqui, em outro Brevis Articulus, a narrativa do pintor francês Jean Baptiste Debret (1768-1848), às páginas 128 e 129 do segundo volume de seu livro Voyage Pittoresque et Historique au Brésil. Debret descreveu quatro instrumentos: marimba (hoje conhecida também como kalimba, onde a música é feita a partir do friccionar de dedos em segmentos metálicos presos à borda de cabaças grandes); viole d'Angola, espèce de lyre à quatre cordes ("Viola de Angola, espécie de lira de quatro cordas"); violon ("violino" de uma corda, cujo corpo seria um côco atravessado por uma vara, tocado por um pequeno arco) e oricongo (que pelas descrições e imagens seria o berimbau). Estes instrumentos, citados também por outros exploradores estrangeiros à época, infelizmente não teriam sido todos registrados via pinturas / desenhos - praticamente só Rugendas teria feito desenhos de batuques que apontam mais kalimbas / marimbas - talvez daí o equívoco em pensar que aqueles instrumentos desenhados (e não as violas) predominassem nos batuques. Rugendas entretanto, em narrativas de seu livro Malerisch Reise in Brasilien deixou claro que as danças eram acompanhadas por instrumentos que ele chamou de mandoline (“bandolim”, em alemão), certamente a referência mais próxima que ele teria de pequenos cordofones.
Aos dados muito bem apontados pelo professor e maestro Ricciardi, consideramos importante acrescentar que os mais remotos registros que encontramos de “modinhas” transcritas em pauta, no Brasil, foram:
- em 1806, o médico e naturalista alemão Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852), Cônsul da Rússia, durante expedição pela Vila de Nossa Senhora do Desterro da Ilha de Santa Catarina, fez o registro em pauta musical de uma Brasiliaansche Aria (“ária brasileira”, em holandês), à página 54 do livro Reis rondom de Wereld, in de Jaren 1803 tot 1807 (“Viagem ao Redor do Mundo de 1803 a 1807”). O viajante grafou em português, no alto da partitura, a palavra “modinha”, assim como a letra completa da música, mas sem apontar autor. Em 6/8, no tom de Fá maior ou Ré menor (clave de sol com um bemol), a pauta aponta, abaixo da parte da linha melódica do canto, uma parte de acompanhamento simples que poderia ser para piano (claves de Sol e de Dó). Em termos de descrição, a afirmação “[...] Talvez uma ária brasileira seja mais agradável aos meus leitores do que uma simples descrição: portanto, não hesito em acrescentar uma aqui” (tradução nossa, *1) e a informação “[...] Os instrumentos musicais mais usados são a guitarra e o dulcimer” (também em tradução nossa, *2). É possível que Langsdorff tenha visto similaridade das tais kalimbas ao “dulcimer” (uma espécie de saltério cujas cordas seriam tocadas via palhetas). Esta informação, entretanto, vem logo após apontamento de que os instrumentos eram utilizados em reuniões onde também se dançava e se contavam anedotas, que seriam os batuques (termo que, no caso, este alemão não citou explicitamente).
- entre 1820 e 1822, coleção de vinte peças que teriam sido compostas pelo VIOLEIRO Joaquim Manoel Gago da Câmara (ca.1771-ca.1738), transcritas para piano pelo compositor e pianista austríaco Sigismund von Neukomm (1778-1858), trazidas a conhecimento público pelo Dr. Marcelo Fagerlande (segundo seu artigo “Joaquim Manoel, improvisador de modinhas”, de 2005).
Sobre a não utilização dos nomes “batuque” e “lundum” (e/ou similares) antes do século XVIII, extremamente bem pontuada pelo professor Ricciardi, nos chama a atenção, entretanto, citações de “embigadas”, em poema sem título atribuído ao VIOLEIRO Gregório de Mattos (1636-1695) - livro Obras Poéticas, 1992 - numa dança que ele denominou, à época, “cãozinho”. “Cãozinho” seria um dos nomes de “danças à viola” (assim como “arromba”, “canário” e “guandu”), todas coincidentes às de Portugal no século XVIII, segundo o dicionarista inglês Rafael Bluteau (1638-1734) em seu Vocabulario Portuguez e Latino.
Ou seja, embora sem os nomes mais “modernos”, descrições evidenciam similaridade das danças com viola desde o século XVII. Aliás, o que não faltam em poesias atribuídas a Gregório “Boca do Inferno” são narrativas sensuais sobre várias situações, incluindo diversas danças - mas o também sonetista, quando queria ser sério, teria aplicado também em cantigas dolentes a sua “viola” (citada nas poesias também como “bandurra” e “guitarrilha”, mas nunca “viola de cabaça”, é sempre bom lembrar!).
O nosso último “ponto” aqui é que, segundo a metodologia que aplicamos, nomes variam de significado com o passar dos anos, por vários fatores (sobretudo em intercâmbios de línguas diferentes como as africanas e o português). Não estar atento aos contextos históricos (tanto de nomes quanto significados) pode talvez confundir entendimentos. É muito importante também considerar que a África é um continente, da qual habitantes de várias nações diferentes foram sequestrados (fato muito bem observado, por exemplo, no trecho de Debret que citamos). Foram, portanto, vários dialetos africanos misturados: é bastante plausível surgir mais de um nome para coisas semelhantes.
São fenômenos circundantes aos nomes de instrumentos musicais (sobre os quais já apresentamos desenvolvimentos algumas vezes), os nomes de ritmos, danças e outros. Nomenclaturas claramente diferentes como calundu, lundu (ou lundum e similares), festejo, batuque, fandango, cantiga, moda e modinha - entre outras, pelos séculos, podem ser oriundas de diversas línguas diferentes (nossa pesquisa não abrange línguas africanas). À parte delas, num resumo analítico-científico baseado na somatória de grande número de dados e olhares científicos, evidências são apontadas que todos estes termos tem relação com atividades musicais típicas de pretos, presentes por praticamente todo o Brasil e que tocavam cordofones, entre outros instrumentos, mas não apenas instrumentos “de batucada” (de percussão) para acompanhar cantos e danças.
A posterior ligação do termo “batuque” às batucadas, consolidada hoje, também ajuda a interpretar equivocadamente que os pretos só tocassem instrumentos percussivos nos antigos (e originais) batuques. Debret teria observado em detalhes as variações de tipo de acompanhamento (bater de palmas, sons com a boca, canto improvisado, percussão com diversos tipos de peças, entre outras), tendo inclusive ensaiado uma possível identificação das nações africanas diferentes representadas, segundo ele, por estas características musicais. O mais importante é que não existiria ainda o samba, nem as modinhas, conceituados só algumas décadas depois. Não se pode interpretar daquele “batuque” como o moderno “batuque do samba” (apesar da semelhança dos nomes): é preciso observar com muito cuidado o maior número possível de descrições em cada época, para contextualizar.
Há que se considerar que a partir dos registros mais remotos que se tem conhecimento, nomes hoje consolidados, oriundos de diversas línguas diferentes, teriam passado por várias fases de amadurecimento: fases de transição, com mistura entre várias línguas, e muita transmissão oral envolvida, até atingirem os mais modernos significados a eles atribuídos. É muito provável, por exemplo, que o que se citava como “modinha” em meados do século XVIII não fosse ainda, exatamente, o que veio a se tornar a partir do início do século XIX (quando, inclusive, a sociedade europeia passava por significativas mudanças sociais, por causa da Revolução Industrial).
Nenhuma teoria ou entendimento, entretanto, é capaz de mudar o fato de que Domingos Caldas Barbosa, em 1798 ou 1799, no seu Viola de Lereno, não usou os termos “modinha” nem “lundum” para suas CANTIGAS (os dois termos são observados apenas na edição póstuma, de 1826) - e que durante todo o mesmo século XVIII, em diversas e abrangentes publicações, o já citado dicionarista Bluteau (considerado um dos mais importantes da época, em Lisboa) não citou “modinha” - apenas “moda”, porém como genérico a “qualquer canção tocada à viola ou ao cravo”. Pela cronologia dos registros, “moda” teria sido usado bem antes de “modinha”: “moda” continua tendo o mesmo significado popular genérico até hoje, mas “modinha” é aplicado como o nome de um estilo, mais especificamente ligado a canções dolentes, lentas, melancólicas. Nem no passado, nem atualmente, “moda” e “modinha” seriam “a mesma coisa”. Naturalmente, teorias podem tentar explicar/justificar estes fatos, é lícito - só não se pode é negar, ir contra os fatos, se não seria “teoria furada”.
Entre outras questões, acrescentamos: mas afinal, onde raios Domingos Barbosa terá aprendido a tocar viola e a improvisar / criar versos como os de suas cantigas publicadas? Terá um preto, nascido no Rio de Janeiro aproximadamente entre 1738 e 1740, presenciado atividades similares em número suficiente para se inspirar? Ou seja, terá havido muitos outros pretos bons de viola e bons versadores na época dele? Partes desta mesma pergunta múltipla também caberiam sobre Joaquim Manoel Gago da Câmara, sobre Gregório e seu irmão Euzébio, e sobre o Padre Mestre Maurício Nunes, mas destes últimos três há registros (que nós descobrimos, mas são pouco divulgados) de quem os teria ensinado a tocar instrumentos chamados “viola”, todos professores “mulatos” como eles mesmo. Será coincidência ou amostra estatística terem existido e sobrevivido até hoje registros sobre estes pretos tão bons de viola, de música, de versos? Por que não teriam sobrevivido registros assim de tocadores expressivos de kalimba / marimba, nem “batuqueiros” (percussionistas)?
Sobre variedade de significados de nomes, apontamos como exemplo os atuais entendimentos a respeito do termo “pagode”: sem contar fora do Brasil (como na Índia e outros países, onde seria nome de templos), "pagode" referia-se desde pelo menos o início do século XX (registros em Minas Gerais e na Bahia), a uma reunião para se tocar, cantar e dançar (exatamente como os batuques, por isso citamos como exemplo). Hoje, “pagode” é alcunha também de ritmos: primeiro, um ritmo de viola, que teria sido criado por Tião Carreiro em 1959 e que alguns anos depois passou a ser usado também como nome do samba mais comercial, do qual se diz ser possível “dançar um pagode, pagodear”, que seria o mesmo que “sambar”. Portanto, vê-se que “pagode” também se desenvolveu popularmente tanto como nome de reuniões para “folguedos”, quanto nome de ritmos e nome de dança.
Pelas evidências em dezenas de registros, “batuque” e “lundum” (entre outros nomes) também teriam tido entendimentos semelhantes, confundíveis e confundidos pelos tempos: tanto nome das reuniões (para cantar, dançar, “folguedear”), quanto dos ritmos tocados e ainda das respectivas danças. E, apesar da posterior utilização (e desenvolvimento) também pelos brancos, tudo teria se originado (ou “sido criado”, ou “executado antes”) a partir dos afrodescendentes.
Pode-se dizer que não seria “música brasileira popular” porque seria oriunda da África, se há registros de pretos, como os chamados “barbeiros”, entre outros, adaptando-se para tentar sobreviver um pouco melhor no Brasil a demandas musicais dos brancos, tanto dentro quanto fora das igrejas? Pode-se alegar (e provar) que o temperamento musical não estaria presente nas “violas” dos batuques do início do século XIX? Sim, pode-se teorizar. Tudo pode. Só afirmamos (com as devidas ressalvas) que o assunto parece estar ainda longe de ser bem pesquisado, e que ainda poderia haver crédito histórico público a ser concedido aos geniais VIOLEIROS pretos brasileiros - que seriam nossa verdadeira raiz musical, com as que chamamos, atrevida e arbitrariamente, de “violas pretas”.
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
As principais fontes foram todas citadas durante o próprio texto.
No original:
*1: Misschien zal voor mijne lezers eene Brasiliaansche aria aangenamer zijn, dan eene kale beschrijving: ik aarzel daarom niet, er eene hiernevens te voegen.
*2: De gebruikelijkſte ſpeeltuigen zijn de guitar em het hakkebord.
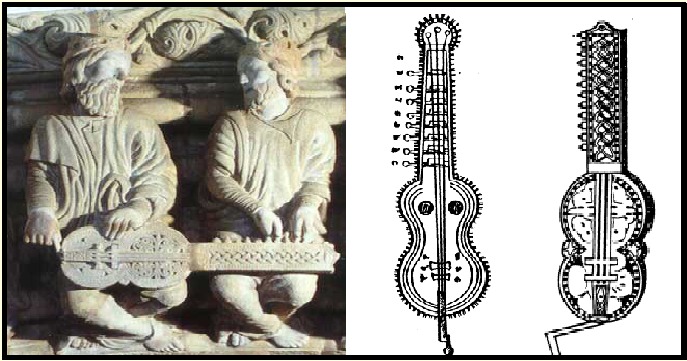 "ORGANA: o pouco conhecido ancestral do nome e do formato das VIOLAS"
"ORGANA: o pouco conhecido ancestral do nome e do formato das VIOLAS"
Organum vocabulum est generale vasorum omnium musicorum
“Organum é um nome geral para todos os instrumentos musicais”
(Isidoro de Sevilha, Etymologiae, século VI)
Viola, Saúde e Paz!
Relutamos, a princípio, em tratar das organas em um Brevis Articulus como este, que se destina a um público geral, mas interessado principalmente em violas dedilhadas - assim como citamos este nome apenas superficialmente em nosso livro A Chave do Baú. Entretanto, o formato cinturado das organas e o nome “viola de roda” (em francês, vielle a roue), ambos constatados pelo menos a partir do século XI, são evidências de ligações ancestrais com nossas violas, tanto as dedilhadas quanto as friccionadas por arco. Então, o tema é pertinente – mas é bem “cabeludo”...
Sem dúvida não é simples estudar ao mesmo tempo ancestralidade de nomes (linguística) e de características de instrumentos (organologia). Muitos pesquisadores, inclusive, optam por estudar instrumentos musicais só a partir de registros mais seguros: instrumentos remanescentes, partituras / tablaturas, descrições claras feitas por antigos entendedores em música. Estes olhares de bons pesquisadores, entretanto, revelam visões que consideramos incompletas – assim como estudos propagados em escolas de música sobre o organum (singular de organa, tanto em grego quanto em latim). Este sistema organum, considerado como dos mais remotos estudos sobre harmonia, costuma ser visto apenas pela visão do canto harmonizado – mas descobrimos e atestamos que o histórico do termo aponta, além do uso em cantos, registros de uso anterior em instrumentos musicais muito interessantes.
Nossa metodologia, que inclui seguir variações do histórico dos nomes dos instrumentos nas diversas línguas pertinentes, revela que muitas vezes é possível entender o âmago, o mais profundo elo do desenvolvimento histórico dos instrumentos. Mesmo que só se conheçam poucos registros escritos, de nomes que variam muito e de alguns instrumentos dos quais não se possa saber mais nada além de um nome citado há séculos atrás – [até para descrever a situação é complicado, percebeu?] - várias das antigas características sobrevivem aos séculos, tanto nos nomes quanto em detalhes físicos dos instrumentos, chamados “organológicos”. Estas características podem ser rastreadas, indicando as mais prováveis origens dos instrumentos, e o histórico de impactos sociais que teriam testemunhado. Pense um pouco sobre isso: instrumentos musicais muitas vezes confirmam e são confirmados por eventos e fatores histórico-sociais que teriam presenciado: é disso, também, que tratamos com nossa metodologia, com nossos atrevidos e revolucionários estudos...
Não é fácil - mas se somarmos olhares de múltiplas ciências (História, linguística, musicologia, sociologia, estatística e outras), alguns tesouros ainda podem ser descobertos! E cada tesouro descoberto, em si é uma aula, que pode ajudar a descobrir e a estudar outros. Dizemos, testamos e podemos provar: há muitas coerências observáveis!
Tentaremos apresentar aqui um resumo coerente - mas a partir deste aprofundamento, talvez tenhamos que nos dedicar à publicação também de um artigo científico, mais amplo, onde a abordagem acadêmica se mostrará talvez mais eficaz para esclarecimento de detalhes. Não vamos negar que é complexo e que talvez seja o caso de ler mais de uma vez o conteúdo que se segue.
O instrumento é "complicadão" - talvez o mais complexo e menos estudado dos cordofones, a começar do nome ORGANA: vindo do Grego (όργανα, plural de όργανο), significaria apenas "instrumentos musicais" - por isso, quando aparece em alguns textos antigos, só podemos dizer que fosse um "genérico", porque há detalhes muito diferentes ligados a este nome, aqui e ali pelos séculos, em diferentes textos... Para complicar ainda um pouco mais, organa (que é plural) surgiu algumas vezes também no singular, quando nome de um instrumento musical específico...
Entretanto, preste atenção na curiosa sina que este termo genérico acabou trilhando pelos séculos! É uma aula, uma pista de como se pode estudar origens de instrumentos também pelos nomes, que não são aleatórios como parece que a maioria pensa...
A partir do latim dos romanos, um mergulho rápido no histórico do nome é muito importante para entendermos o tamanho do “novelo” que veio se formando, então, não perca o “fio” (da meada): fora dos significados relacionados a música, organum também seria utilizado com o significado de “órgão do corpo humano” - e organon é como ficou conhecido, por convenção, um conjunto de obras sobre lógica creditados ao filósofo grego Aristóteles (384-322 aC.). Observa-se que em todas as utilizações, o termo seria genérico, ou seja, um nome coletivo, capaz de substituir sozinho vários outros nomes.
Já com significados relacionados à música, entre os mais badalados estudos antigos, temos: Anisio Boethius (ca.480-ca.525), considerado grande intérprete de fontes gregas, teria utilizado apenas duas vezes organum (nas flexões organis e organo), e como genérico (“instrumentos musicais”), em seu De institutione musica. Além dele, no texto de autor desconhecido Musica Enchiriadis (estimado ao ano de 900), aparece o conceito mais conhecido hoje em dia, que seria a chamada “abertura de vozes”: “[...] vozes, distantes umas das outras, reproduzem sinfonias sucessivas, sendo chamadas corretamente de sinfonias, isto é, como as mesmas vozes devem se unir no canto. Pois é isso que chamamos de diaphonia de uma música, ou o que costumamos chamar de organum” (as traduções são sempre nossas, ver no fim os originais – esta é a *1). Perceba que neste último só se fala de “vozes”, e que o conceito de “sinfonia” é bem explicado.
Nas universidades de música, estudos atuais baseados em livros como História da Música Ocidental, de Donald Grout e Claude Palisca(na edição traduzida em Lisboa em 1994, ver páginas 97 a 120) trazem interessante histórico sobre o organum do século IX ao XIII, porém com algumas ressalvas, posto que fixam-se apenas no aspecto do canto. Ressalvas porque no próprio Musica Enchiriadis já haveria a citação, que Grout & Palisca (e a maioria) parecem não ter considerado: “[...] Para vozes humanas, e em alguns instrumentos musicais, não apenas duas e duas, mas também três e três podem ser misturadas dessa maneira” (tradução e grifo nossos, *2).
De fato, a ligação do nome organa a instrumentos musicais pode ter sido bem anterior. Conseguimos identificar no século VI um interessante estudo a respeito, por sua vez apontando ligações ainda mais anteriores (desde os textos bíblicos). Preste muita atenção: sem citar o nome organa, o profeta Daniel (que se estima teria vivido no século VII aC.), teria narrado algumas vezes a seguinte lista de instrumentos “[...] tuba, fistula, citara, sambuca, saltério e sinfonia” (Daniel, capítulo 3, versículos 5, 7, 10 e 12, em latim, segundo a Bíblia Vulgata Online - tradução e grifos nossos, *3).
Infelizmente não temos competência para traduzir a partir dos originais (que teriam sido em hebraico ou aramaico), mas observamos que o musicólogo alemão Curt Sachs (1881-1959), no livro The History of Musical Instruments, fez o seguinte apontamento, com o que seriam os tais nomes originais: “[...] Assim que ouvir o som da qarnã, masroqitâ, quatros, sabka, psantrin, sumponiah e todos os tipos de zmãrâ vocês devem se prostar” (na edição de 1940, ver página 83 – tradução nossa, *4). Veja que são seis instrumentos, e que a versão bíblica apresenta “latinizações” do que seriam os nomes originais, ou seja, apresenta nomes em latim bem próximos.
Entendemos que teria sido algo similar o que Santo Isidoro de Sevilha fez muito antes de Sachs, ainda no século VI (ca.560-ca.636) - e apesar de algumas ressalvas, creditamos àquele religioso possivelmente o primeiro estudo sobre o nome ORGANA. Em seus textos hoje conhecidos como Etymologiae, sobre a tal lista bíblica de instrumentos da orquestra de Nabucodonosor, feita pelo profeta Daniel, Isidoro chamou a atenção para “modulações entre cantos e instrumentos musicais” (estes últimos, então, que ele teria chamado genericamente de organum). Estas mesmas modulações, que como já citamos, constariam séculos depois no Musica Enchiriadis, foram descritas assim por Isidoro: “[...] Num salmo cantado, após as modulações dos instrumentos é que a voz do cantor segue; quando o canto precede, a arte de modulação dos instrumentos é imitada” (tradução nossa, *5). Desde Isidoro, portanto, os instrumentos musicais é que dariam “a guia” para os cantos, e seriam deles que teria vindo o nome organum– um detalhe que, infelizmente, estudos atuais de origens a partir do canto precisam rever, mas que a nós não passou despercebido... [Sim, não escondemos: adoramos descobrir essas lacunas deixadas por tantos estudiosos, por tanto tempo! Desculpa aí...].
Voltando do momento de megalomania: a lista de instrumentos sonum vocis animantur (“animados pela voz”), segundo Isidoro, teria sido um pouco diferente do citado na Bíblia, e os complementos que introduziu, seriam muito interessantes para nossas atentas reanálises. Observe como ele discorreu lista e comentários:
“[...] tuba, calamus, fistula, organa, pandoria e instrumentos similares. Organum é um nome geral para todos os instrumentos musicais. Os gregos também usavam outro nome, para instrumentos que usavam folles [bolsas], mas chamar de organum é o costume mais popular [...] Calamus é o nome de uma árvore [planta] que aquece [acalanta?], como as vozes ao se somarem [...] Sambuca na música é uma espécie de sinfonia - é uma madeira quebradiça, da qual são feitos os canos. Pandoria, assim chamado pelo inventor [Pan], que primeiro adaptou as palhetas díspares para a música e as compôs [fabricou] com arte estudiosa” (tradução e grifos nossos, *6).
Observa-se que ele relacionou ao organum (ou “às organas”), em sua lista, só instrumentos de sopro - mas citou sambuca, que tem ligação também com liras e saltérios, cordofones dedilhados cujas partes estruturais teriam sido feitas do mesmo tipo de árvore. Não comprovadamente por nenhum deus ou personagem “Pan”, esta parte precisamos analisar com cuidado.
Isidoro, religioso que chegaria a ser canonizado pela Igreja Católica, foi bastante secundado nos séculos seguintes, por seus inegáveis méritos. Seu trabalho teria sido dos primeiros de carácter “etimológico”, por assim dizer, pois tentava analisar origens das palavras desde textos mais antigos que o latim. Embora farto de citações a fontes que teria lido, Isidoro algumas vezes aplicava algumas teorias próprias das quais não apontava fontes nem desenvolvimentos - e também citava às vezes mitos antigos nas análises, como se fossem verdades. Mesmo com estas ressalvas, podemos confiar em muita coisa que ele apontou – afinal, muita gente boa confia até hoje.
Conseguimos atestar organa antes de Isidoro (apenas o nome, sem muitos detalhamentos), por exemplo, em versos do Apotheosis, do poeta romano Aurelius Prudentius (ca.348-ca.413): [...] organa, sambucas, citharas calamosque tubasque (lista onde se observam cordofones junto a sopros); e, no mesmo século VI de Boethius e de Isidoro, em verso da Carmina do bispo italiano Venantius Fortunatus (ca. 530-ca.609): [...] hinc puer exiguis attemperat organa cannis (“Então o garotinho temperava [Afinava? Polia?] os tubos da organa”). Observamos também mais algumas citações semelhantes indicadas posteriormente no livro De Cantu et Musica Sacra, do musicólogo alemão Martino Gerberto (1720-1793). A ideia é a tudo observar e somar, com olhares atentos, múltiplos conhecimentos e possibilidades.
No séc. X, outro religioso e musicólogo - Odo de Clúnia (ca.818-942) - ainda citaria Boethius, Isidoro e outros. Finalmente, só a partir do século XI se conhecem esculturas e desenhos sobre organas - já como um cordofone de caixa cinturada (como as atuais violas e guitarras): nas mais antigas esculturas, organas grandes (ao colo de duas pessoas assentadas), com uma manivela numa extremidade, para acionamento de uma roda. Esta roda friccionava cordas, enquanto o outro músico acionaria teclas para alterar as notas de apenas uma das três cordas (as demais soariam soltas, acionadas pela roda mas sem serem alteradas pelas teclas).
O detalhe de execução de notas alteradas em uma corda, enquanto as demais soariam soltas (portanto, em suas notas originais), é importante para entendermos outros instrumentos executados de maneira semelhante, cujos nomes manteriam ligação com as organas - porém, remetendo a antigos instrumentos de sopro, como citou Isidoro. É o caso, entre os séculos XI e XII, da mais remota citação a um complexo instrumento nominado musa pelo musicólogo Johannes Afflighemensis - “John Cotton” (ca.1053-ca.1121), em De Musica cun Tonario : “[...] é soprado pela respiração humana como a tíbia [instrumento de sopro], regulado [coordenado] pela mão como a phiala [viola?] e animado por um folle [bolsa] como a organa (tradução e grifos nossos, *7). Alegando que in musa multimoda conveniunt instrumenta (“na musa muitos instrumentos se misturam”), John Cotton teria descrito, portanto, algo bem próximo às atuais gaitas-de-fole, dando destaque que o folle viria das organas “dos gregos” – este último detalhe, exatamente como Santo Isidoro teria citado cerca de 500 anos antes. Nas gaitas-de-fole, assim como nas flautas múltiplas, observa-se que só um dos sons soprados tem variações de notas.
[Parada para respirar e refletir: é complexo, não? Mais nomes vão se juntando e parece ser tudo aleatório - inclusive, é assim que a maioria dos estudiosos parecem entender, pois não encontramos estudo similar ao nosso em profundidade. Entretanto, percebemos muito claramente que haveria um “esqueleto lógico” ligando tantas possibilidades, que ainda vamos esclarecer... portanto, calma e perseverança!].
A mais antiga escultura de uma organa teria sido observada na Igreja de Saint Georges de Bocherville, na França - segundo o livro Mémoire sur Hucbald et sur ses Traités de Musique (edição de 1841, ver páginas 168-169), do musicólogo e etnólogo francês Edmond de Coussemaker (1805-1876). À época daquele livro, ainda se acreditava, equivocadamente, que o musicólogo francês Hucbald (ca.840-ca.930) teria sido o autor do Musica Enchiriadis e Coussemaker apontou vasto desenvolvimento de que a escultura representaria um instrumento que usaria a técnica descrita como organum ou diaphonia no Enchiriadis. Ele teria tido a visão correta, mas citando a origem equivocada, conforme já demonstramos, pois os instrumentos antecederiam a técnica de canto. E não apenas Coussemaker: entre vários outros estudiosos, a pesquisadora espanhola Rosário Martinez, em sua tese de doutoramento Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media, apresentou um vasto banco de dados de esculturas, desenhos e até várias versões diferentes de manuscritos onde há citações de organas (cinfonias, em espanhol) e algumas de suas peculiaridades, como nomes relacionados em várias línguas, por séculos. Ou seja: os dados foram observados, a ligação lógica entre eles é que faltou ser desenvolvida, o que conseguimos apontar somando conhecimentos e olhares de outras ciências a conceitos até às vezes básicos de música, de musicologia.
Vejamos, pois: a começar pelos nomes latinos, os mais observados teriam sido organa, symphonia e sambuca rotata:
- "sinfonia", assim como hoje, já remeteria à execução de mais de uma nota musical ao mesmo tempo; isso gera confusão para estudiosos não-músicos, por poder às vezes se referir à organa (instrumento) e, outras vezes, se referir a um conjunto de vozes e/ou de instrumentos a executar música – pois em ambos os casos, afinal, pode haver várias notas tocadas simultaneamente, “sinfonias”;
- sambucus (e calamus) se referem a árvores ou plantas das quais se fabricavam partes de cordofones como liras e saltérios, mas com as quais também se fabricariam alguns tipos de "flautas" (chamadas em latim cannis, fistula, tibia e outros nomes);
- rotata (ou "de roda"), porque cordas eram friccionadas por uma roda (conforme já citamos).
Neste ponto, os nomes já dizem muito, concorda? E desenhos e esculturas vieram depois a ajudar nos entendimentos. Após os primeiros instrumentos (que precisariam de duas pessoas para serem tocados), o tamanho teria gradativamente diminuído até próximo ao dos cordofones portáteis atuais - mas as organas acabariam por influenciar bem mais que só os cordofones...
A principal característica do nome organa, genérico, é poder ser usado para instrumentos bem diferentes, dos quais alguns resquícios de características físicas e dos nomes antigos às vezes sobreviveriam por séculos. É muito curioso, além de complicado - mas é uma grande aula, que a nós serve para entender muito da História de vários instrumentos musicais.
Os antigos nomes latinos teriam sido substituídos (ou traduzidos) pelos séculos em várias outras línguas. Uma série de nomes que parecem aleatórios, mas, agora que vimos as origens mais remotas, fazem muito sentido:
- viola de roda, sanfonia -em catalão;
- syphonie, cyfonie, chifonie, vielle à roue - em francês;
- simfonia, cinfonia, zanfonia, viola de ruedas, zarrabete - em espanhol;
- sinfonia, sanfona, zanfoña, zanfonia – em galês antigo da Galicia;
- ghironda, lyra rustica, lira d'orbo, lyra mendicorum, stampella - em italiano;
- syphonie e depois hurdy-gurdy (“gaita-de-fole”) - em inglês;
- Drehleier (“gaita-de-fole” ou “sanfona”), Radleier ("lira de roda”), Bauernleier (“lira camponesa ou rústica”), Bettlerleier ("lira de mendigo”), Weiber-Leier (“lira de mulheres”), Uroblaufende (?) - em diversas variações da língua alemã, pelos tempos.
Este levantamento de nomes foi iniciado pela já citada Dra. Martinez: nós checamos os nomes um a um e acrescentamos mais alguns, a partir de outros estudos e fontes, de várias outras línguas além do espanhol. No caso, a pesquisadora pouco fugiu às citações relacionadas a cordofones, que eram o tema de seu doutoramento. Percebe-se que as mais antigas "violas" (nomenclatura que teria surgido só a partir do século XII), parecem ter tido seu nome influenciado por aquelas primeiras "violas de roda": cordofones já com caixas cinturadas, formato então no mínimo raro. Até aí estaria ótimo para nossos estudos específicos sobre violas, mas na verdade teria sido muito mais que só cordofones a terem sido influenciados pelas organas...
Do sambucus (a tal árvore, hoje chamada sabugueiro), também teriam sido feitos instrumentos de sopro - cannis, “cano”, “tubo”... daí, várias flautas múltiplas (que, portanto, poderiam executar "sinfonias", ou seja, emitir mais de uma nota ao mesmo tempo) como o sheng chinês, a suégala ou swegilbeine alemã e a launedda italiana /sarda. A launedda, citada também como bidula, vidula ou zampgone em dialetos antigos, confundiu até alguns linguistas experientes, que chegaram a listá-la equivocadamente junto a outros nomes ligados a ancestralidade de “viola” (mas era uma flauta). Como repetimos sempre, é confuso - até para grandes estudiosos de línguas! Por isso somamos outros conhecimentos, como os diretamente relacionados a instrumentos musicais (organologia, musicologia), e que naturalmente não podem deixar de prevalecer em estudos sobre instrumentos musicais.
E “gaita”, da “gaita de foles”? De onde teria vindo este nome? Teria alguma coisa a ver? Observando atentamente o histórico, por séculos, já comentamos que a atual “gaita-de-foles” teria sido chamada antes de cornomusa (por causa de musa, a mais remota citação, lembra?); com a invasão moura em território europeu surgiria o nome alghaita, em árabe, que remete à “palheta” - assim como paleo (“palha”, em latim). Estes nomes remetem aos caules secos das plantas (sambucas e outras), utilizadas para construção de instrumentos e também de acessórios destes. As palhetas, que conhecemos bem dos cordofones dedilhados como as atuais guitarras elétricas, são conhecidas de maneira geral como plectros - e estão presentes também nos instrumentos de sopro. Nos sopros, são pequenas peças que alteram a sonoridade, sendo às vezes móveis, às vezes fixas. Ou seja, plectros são, coerentemente, objetos pequenos que intermediam e auxiliam órgãos humanos na execução de instrumentos musicais. Há ainda outros tipos, como pinças e “martelinhos”. Hoje, além de feitos por “palhas”, há os feitos de ossos, de madeira e até de plástico.
Interessante é que outras gaitas - as “gaitas-de-boca” - também são chamadas de “harmônicas” – nome que remete ao conceito antigo de “sinfonia”, já que também emitem mais de uma nota ao mesmo tempo. Seria o mesmo preceito que teria levado de simphonya a “sanfona” e similares. Já a evolução de organa, organum até “órgão” seria o mais fácil de entender, e teria sido utilizado até como nome de antigos órgãos de igrejas, com grandes tubos também movidos a ar como as gaitas, sanfonas e outros “sopros”.
Por isso é preciso ter olhar múltiplo, olha aí nomes muito diferentes tendo alguma coerência, a partir da ancestralidade: podem ser ligados a "viola", mas ao mesmo tempo também a sanfona, gaita, flauta e outros instrumentos...
Há, entretanto, um ponto principal, nefrálgico e lógico: são sempre instrumentos capazes de emitir mais de uma nota ao mesmo tempo, ou seja, de emitir "sinfonias" no mais antigo significado deste nome, com registros em hebraico, grego, latim e diversos outros idiomas, por séculos...
Percebeu?
Agora, analisando por grupos algumas reminiscências das organas:
- tirando a manivela, a roda e as teclas (que foi o que acabou acontecendo), as organas do século XIainda podiam executar músicas, via dedilhar de suas cordas; e, um pouco depois, as mesmas cordas também poderiam ser tocadas por arco, de onde teria surgido a intermediária nickelharpa: tocada por arco, porém ainda com as antigas teclas. Naturalmente, um pouco depois, e enfim sem as teclas, também teríamos as atuais violas, que já citamos, tanto as dedilhadas quanto friccionadas – embora quase todos estudiosos estrangeiros desconheçam violas dedilhadas (estamos a tentar ajudá-los nisso com nossos estudos!).
- de cordas cujas notas acionadas via pinças e “martelinhos” (que também são plectros, como dissemos), já teriam existido antigos saltérios tipo dulcimer, antes das organas – e depois delas, com teclas, teríamos cravos (“pinçados”) e pianos (“martelados”);
- instrumentos ainda hoje acionados por manivela, temos o realengo (ou realejo);
- "órgãos" antigos acionados por água e/ou por ar (hydraulos) influenciariam até o nome dos chamados “órgãos eletrônicos” de hoje - mas é importante observar: apesar de poderem ter sido chamados organas (por ser nome genérico), não se observam tais registros; a tendência então é de hydraulos antiquíssimos terem passado a ser chamados “órgãos” bem mais tarde. É um pequeno equívoco dos estudiosos, que não aprovamos (não se entende que nomes de instrumentos possam retroagir na História, é básico que o tempo só segue em frente) mas é possível entender porque tantos se equivocam: organa não é fácil de entender plenamente e não teria sido estudado antes como pode ser.
Conseguiu entender agora as minúcias, os resquícios nos nomes e/ou características físicas (“organológicas”), rompendo séculos? Se não entendeu, sugerimos dar mais algumas lidas - são muitos dados, em várias línguas: talvez algo tenha escapado e/ou não tenhamos sido capazes de descrever claramente a apenas uma primeira lida.
Se e quando entender, parabéns: você pode então estudar a história dos instrumentos musicais a partir das mais profundas raízes: os registros escritos de seus nomes! Pelo que percebemos, poucos teriam tido coragem de mergulhar tão fundo antes...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro A Chave do Baú é fruto da monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil e do artigo Chronology of Violas according to Researchers).
No original:
*1: quod proprie simphoniæ dicuntur et sunt, id est qualiter eaedem voces sese in unum canendo habeant. Haec namque est, quam diaphoniam cantilenam vel assuete organum nuncupamus.
*2: Possunt enim et humanæ voces et in aliquibus instrumentis musicis non modo binæ et binæ, sed et ternæ ac ternæ hac sibi collatione misceri
*3: tubæ, et fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
*4: As soon as you hear the sound of the qarnã the masroqitâ the qatros the sabka the psantrin the sumponiah and all kinds of zmãrâ (instruments?) you shall prostrate yourselves.
*5: Nam canticum Psalmi est, cum id quod organum modulatur, vox postea cantantis eloquitur. Psalmus vero cantici, cum quod humana vox praeloquitur, ars organi modulantis imitatur.
*6: quae spiritu reflante conpleta in sonum vocis animantur, ut sunt tubæ, calami, fistulæ, organa, pandoria, et his similia instrumenta. Organum vocabulum est generale vasorum omnium musicorum. Hoc autem, cui folles adhibentur, alio Graeci nomine appellant. Ut autem organum dicatur, magis ea vulgaris est Graecorum consuetudo. [...] Calamus nomen est proprium arboris a calendo, id est fundendo voces vocatus [...] Sambuca in musicis species est symphoniarum. Est enim genus ligni fragilis, unde tibiæ conponuntur. Pandorius ab inventore vocatus [...] qui primus dispares calamos ad cantum aptavit, et studiosa arte conposuit.
*7:humano siquidem inflatur spiritu ut tibia, manu temperatur ut phiala, folle excitatur ut organa.
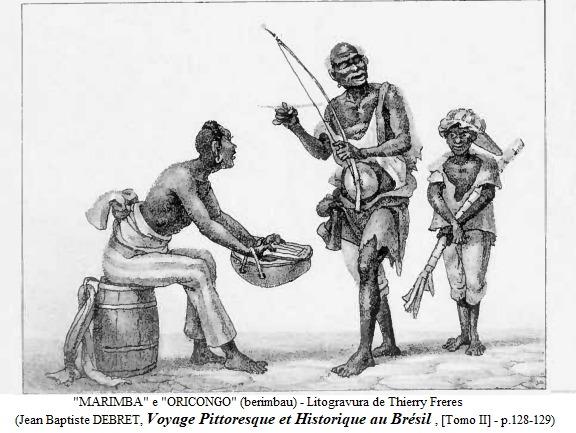 DEBRET E AS VERDADEIRAS RAÍZES DA MÚSICA BRASILEIRA
DEBRET E AS VERDADEIRAS RAÍZES DA MÚSICA BRASILEIRA
“Mais la chanson finie, le charme cesse; et chacun se sépare froidement, en repensant au fouet du maître et à achever la commission qu'avait interrompue cet intermède délicieux”.
("Mas quando a música termina, o encanto cessa; e cada um se separa friamente, pensando nas chicotadas do mestre e em completar a missão que esse delicioso interlúdio havia interrompido").
[Jean-Baptiste Debret, sobre músicas de rua no Rio de Janeiro].
Viola, Saúde e Paz!
Embora com uma visão particular sobre diferentes nações africanas que seriam representadas nas ruas do Rio de Janeiro, entre 1816 e 1831, são consideráveis registros de época as descrições do pintor francês Jean Baptiste Debret, em três volumes de seu livro Voyage Pittoresque et Historique au Brésil (“Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”). Destacaremos na abertura as páginas 128 e 129 do volume 2, edição de 1835.
É importante frisar: teria sido "música de rua", ou seja, todos que passavam ouviriam e seriam influenciados, de certa forma. Esta narrativa teria sido na capital do Império, mas há também registros semelhantes por várias outras localidades brasileiras da época. Registros que já citamos em nosso livro A Chave do Baú, e que agora aproveitamos para aprofundar um pouco mais, como sempre fazemos aqui nos Brevis Articulus semanais.
Segundo Debret, algumas nações africanas, representadas por pretos que ele observou nas ruas do Rio de Janeiro, teriam características diferentes:
Uma nação usaria muito o canto improvisado, apoiado por um coro do grupo que ia se formando em volta. Este apoio do grupo seria pelo que chamou em francês de ritournelles (que interpretamos como “refrãos”), por pantomimes (“gestos, movimentos”) e por batidas de objetos que servissem de percussão também improvisada - objetos feitos de ferro, conchas, caixas, latas, madeiras, etc.
Outro grupo (ou “nação”) não seria cantante, só usaria um expressivo bater de palmas bem sincronizado. Eles os indicou como "mais bárbaros", mas nos parece conjectural, pois o não uso da voz em alguma das execuções não prova nada, e a musicalidade africana em si é bem complexa, ou seja, mesmo um “bater palmas” não significa que seriam pouco evoluídos.
O francês descreveu àqueles dois primeiros grupos como ensemble parfait (“conjunto perfeito”): se observarmos bem, uma soma das execuções listadas (a cantoria e percussões improvisadas, as respostas em coro, o bater de palmas sincronizado) ainda pode ser observada hoje em dia em rodas de samba, em pagodes, siriris, cururus, calangos e outras manifestações regionais pelo Brasil.
Outras nações - que Debret apontou como Benguehs et Angolais (“Benguelas e Angolanos”) - seriam mais musicais, segundo ele, sendo também “notáveis construtores de seus próprios instrumentos”, que ele listou por quatro tipos:
- marimba (que hoje é conhecido também como kalimba);
- viole d'Angola, espèce de lyre à quatre cordes ("Viola de Angola, espécie de lira de quatro cordas");
- violon (espécie de "violino"), de uma só corda tocada por um pequeno arco, cujo corpo seria um côco atravessado por uma vara;
- oricongo (que pelas descrições e imagens seria um berimbau).
Alguns destes quatro tipos de instrumentos também teriam sido vistos por outros visitantes estrangeiros: a ilustradora britânica Maria Graham, em 1821, conforme seu livro Journal of a voyage to Brazil (na publicação de 1824, ver página 199); e, em 1829, pelo padre Robert Walsh, segundo o livro Notices of Brazil in 1828 1829 (na publicação de 1830, volume 2, ver página 186). Infelizmente, nestes livros todos, quando havia, só foram observadas ilustrações de marimbas e berimbaus. Debret chegou a registrar desenhos de cordofones arredondados e abaulados, mas muito bem acabados, que não seriam jamais os rústicos, dos escravizados (era costume incrementar alguns desenhos depois, para inserir nos livros - quando então eram utilizados modelos de instrumentos europeus).
Curiosamente, outro explorador francês - identificado apenas como “M. de la Flotte” - um pouco antes, em 1757, teria visto tanto no Brasil quanto na Índia instrumentos que descreveu como mauvaise guitarre (“guitarra rústica”) ou “uma espécie de guitarra”. Apenas nas narrativas do que teria visto na Ìndia, Flotte descreveu que os instrumentos seriam como “cabaças grandes com cabo [braço] comprido onde se prendem uma, duas ou três cordas” e que acompanhariam cantos. Lá na Índia, outra coincidência seria que o que ele chamou de indiens (sem citação sobre cor da pele nem se seriam escravizados) também executariam danças com movimentos lascivos, como observado por dezenas de narrativas de nossos batuques por aqui. Estas descrições de Flotte observamos no livro Essais historiques sur l’ude précédés d’um journal devoyages (emedição de 1769, ver páginas 211 a 216).
Em inglês, traduzimos destas fontes por “cabaça” os termos gourd e calabash; e em francês, o termo calebasse. Estas pouquíssimas citações encontradas são as únicas entre uma banza (citada uma vez em um poema de Gregório de Mattos, do século XVII) e as Violas de Cabaça construídas pelo luthier e violeiro paulista Levi Ramiro a partir da década de 1980. Banzas realmente teriam sido instrumentos africanos feitos com cabaças, famosos em Portugal (onde Gregório teria estudado) e que teriam influenciado o surgimento do banjo estadunidense, que também teria sido feito com cabaças, no início. Consideramos, entretanto, o número de citações muito pequeno, indicando que não teriam sido “Violas de Cabaça” as utilizadas por Gregório de Mattos (nos poemas também foram citadas guitarrilhas, bandurilhas e, várias vezes, “violas”). E também concluído que Violas de Cabaça não teriam existido nos primeiros séculos - mas o boato (ou equívoco histórico) teria sido forte o suficiente para seu surgimento no Brasil séculos depois, estando o modelo hoje consolidado.
Voltando a Debret, em uma ilustração (Planche 41), indicada no próprio texto que citamos aqui, observam-se três pretos: uma mulher adulta assentada, tocando marimba; um senhor mais idoso, em pé, de olhos fechados, tocando um berimbau; e um jovem, em pé, carregando uma cana de açúcar. Debret legendou esta ilustração:
"[...] representa a desgraça de um velho escravo negro reduzido à mendicância. A cegueira trouxe sua emancipação: generosidade bárbara muitas vezes repetida no Brasil pela avareza. Seu pequeno guia carrega uma cana de açúcar, esmola destinada à alimentação comum. A musicista toca marimba e, pela atração da harmonia musical, aproxima seu instrumento do companheiro, sobre quem lança um olhar fixo e delirante”.
Debret ainda acrescentou: “A marimba, espèce d'harmonica, é constituída por lâminas de ferro fixadas a uma tábua de madeira, e apoiadas por um cavalete. Cada uma dessas lâminas vibra ao ser pressionada pelos polegares do tocador, que as forçava à flexão que produzia um som harmônico. Uma grande parte de uma cabaça, montada como fundo deste instrumento, lhe daria som mais profundo, quase como o de uma harpa...".
Esta última descrição, da marimba, é perfeita - mas outros entendimentos de Debret foram curiosos e deram trabalho: quanto ao berimbau, teria citado que a corda seria similar a de um tympanon - que em latim e em francês se parece com “tímpano” (caixa de percussão). Estranho, né? Então pesquisamos até descobrir que tympanon também seria utilizado como nome de cordofones sem braço, de caixas trapezoidais - mais citados como “cítara”, mas também como saltério, dulcimer e até cimbalo (de cymbalum, em latim). Cimbalo é outro termorelacionado a instrumentos de percussão, em outras línguas... Sim: quem pesquisa nomes antigos às vezes encontra estas encruzilhadas!
Já o entendimento do francês de que talvez a marimba se parecesse com uma harmonica (que hoje para nós significaria uma gaita de boca, instrumento de sopro), deixou ainda mais “pano para manga”:
Uma possibilidade (apenas por causa do nome) seriam as chamadas “harmônicas de vidro”, já existentes e bem famosas na Europa da época - mas cujo som seria emitido pelo contato das mãos com copos de vidro, sem a emissão de notas “pinicadas”, como nas harpas (que foi a comparação sonora de Debret). Não podendo então ser “harmônicas de vidro”, as pianolas (pianos automáticos) seriam talvez similares na mecânica de funcionamento, mas não teriam sido inventadas ainda, só havendo registros a partir do final daquele século. Por fim, encontramos um ancestral dos xilofones (classificação popular da família das marimbas), também africano e com ressonância ligada a cabaças, porém pelo nome de balafon.
Sobre a harmonica de Debret então, por enquanto, para nós é um mistério - até porque talvez ele tenha querido dizer apenas “um instrumento de harmonia”. Desconfiamos de alguma possível ligação à organa - ancestral de vários tipos de instrumentos, inclusive das nossas violas, que particularmente nos dedicamos a estudar e descobrimos detalhes que poucos teriam observado... Mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado pela atenção até aqui... E vamos proseando!
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro “A Chave do Baú” é fruto da monografia “Linha do Tempo da Viola no Brasil” e do artigo “Chronology of Violas according to Researchers”).
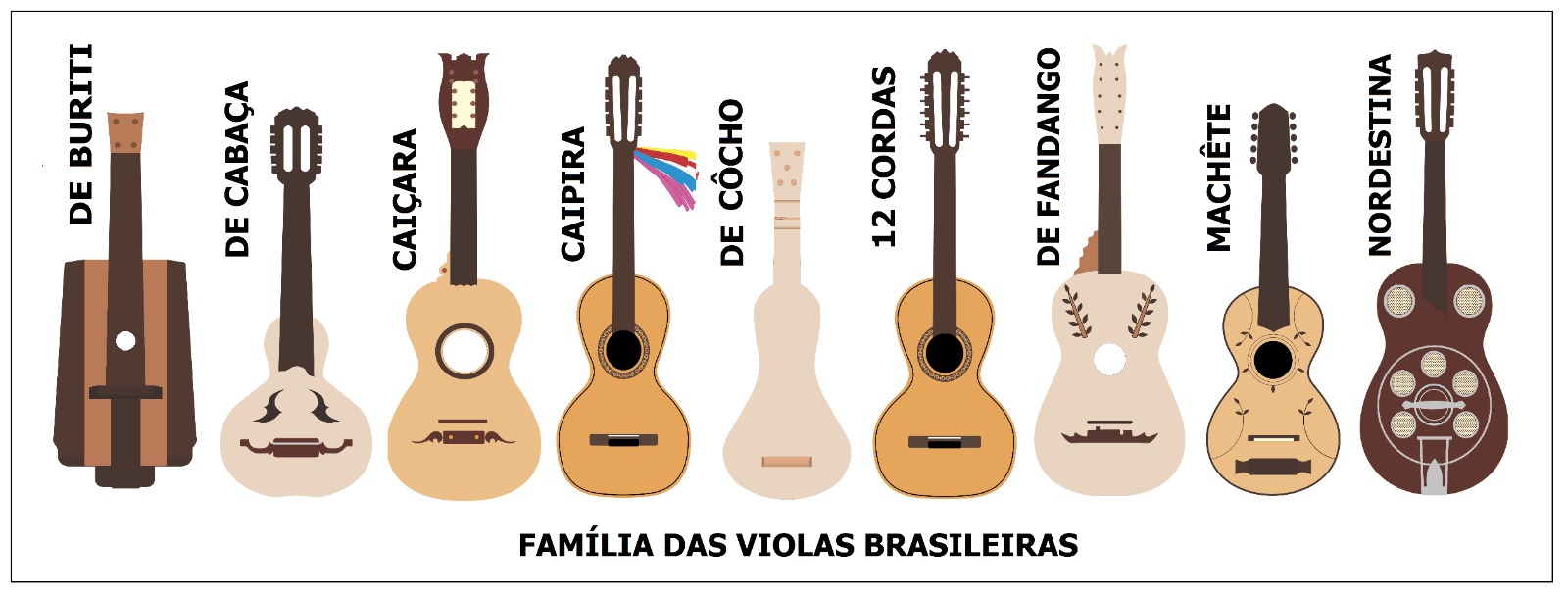 Uma Família de Violas dedilhadas
Uma Família de Violas dedilhadas
Viola, Saúde e Paz!
Entre as principais novidades científicas do livro A Chave do Baú é que o Brasil está muito longe de ter apenas "uma viola dedilhada" como a maioria entende...
Atrevemo-nos a contextualizar, muito provavelmente pela primeira vez, a existência e desenvolvimento histórico de uma Família de Violas Brasileiras dedilhadas, consolidada atualmente. No caso, consideramos “consolidados” os modelos que hoje teriam comprovada incidência além de suas regiões/Estados de origem, via praticantes, citações em estudos e outras publicações, eventos e outras evidências similares.
Nossa base científica parte da História europeia dos cordofones, à qual o Brasil e todas as Américas devem suas origens. Os modelos de viola consolidados hoje, bastante diferentes entre sí, estariam de acordo com dados histórico-sociais-organológicos em comum que, assim como em Portugal, são ligados pela nomenclatura "viola". Deste “nome forte”, evidências indicam ter vindo a verdadeira origem dos atuais instrumentos dedilhados, numa ação nacionalista portuguesa contra nomes utilizados por culturas dissidentes como alaúde, vihuela eguitarra.
Desenvolvemos cientificamente, em outra postulação inédita e com base em diversos registros e contextos de época, que o nome “viola” para dedilhados teria surgido em Portugal antes de o instrumento existir de maneira distinguível, tendo se consolidado a partir de um modelo antecessor das guitarras espanholas. Em fase de transição de aproximadamente 70 anos, as guitarras teriam migrado da formação 10x5 (dez cordas em cinco ordens) para 6x6 - o atual “violão”. Já as “violas” dedilhadas seguiriam e depois se consolidaram em 10x5, entre alguns registros de modelos 12x5 e até 12x6, que também teriam surgido durante a citada fase de transição. As “violas”, antes deste período não existiriam de fato: seriam apenas “outro nome” dado pelos portugueses às mesmas guitarras, assim como antes também o faziam quanto àsvihuelas, também espanholas. Descobrimos inclusive que no mesmo século XV de se conhecem os mais remotos registros de “violas” em Portugal haveriam “violas” na península Itálica, que assim com as vihuelas espanholas seriam nome de instrumentos tanto dedilhados quanto friccionados por arco (pouquíssimos estudiosos pelo Ocidente teriam percebido este detalhe).
Resquícios históricos de todas estas fases se comprovam em instrumentos remanescentes, registros de época e contextos históricos sociais como os da disputa histórica entre Espanha e Portugal e as fases da Revolução Industrial (que trouxeram grandes mudanças sociais, exatamente durante o mesmo citado período de transição).
O nome "Viola" acabou por se tornar um elo, uma base comum, por causa da preferência nacionalista portuguesa - e contextualiza até os dias atuais a classificação mais plausível deste conjunto de cordofones, em coerência com a história brasileira cuja principal característica é a diversidade: diferente, portanto, da família das violas portuguesas, que apresentam desenvolvimento relativamente mais padronizado.
Descartando nomenclaturas genéricas e/ ou afetivas como "viola cabocla", "viola divina" e outras - além de modelos que (ainda?) não se consolidaram totalmente pelo território brasileiro (como as “Violas de Queluz”, ainda radicadas em Minas Gerais) - formariam hoje a FAMÍLIA DAS VIOLAS BRASILEIRAS pela ordem cronológica dos resquícios históricos:
VIOLA DE COCHO (Incidência: MT, MS, SP, DF, MG)
Armação de cordas: 5x5, de nylon (substituto das antigas tripas de animais).
Registro mais remoto: [entre 1851 e 1868] - livro de Joaquim Moutinho, Notícia sobre a Província de MT, publicação de 1869.
Violas de Cocho remetem, pela curiosa forma de construção da caixa de ressonância a partir de peça única, diretamente aos chamados “alaúdes curtos”, que se estima terem surgido a partir do século VIII na Península Ibérica. Um desenvolvimento importante foi apresentado por Julieta Andrade, livro Cocho Mato-grossense: um alaúde brasileiro, em 1981.
VIOLAS NORDESTINAS
(sub família: repentistas, machetes, 10x5 e outros).
Armações: 7x5, aço (dinâmicas e comuns) e 10x5, aço (principal dos demais modelos).
Registro mais remoto: ca.1580 - numa peça de teatro em Olinda - PE, citada em autos de Heitor Furtado de Mendonça e apresentada por José Antônio Gonsalves de Mello no livro Primeira visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil – Denunciações e Confissões de Pernambuco 1593-1595. Já o registro mais remoto da nomenclatura “Violas Nordestinas” foi observado no jornal Diário de Pernambuco, edição de 15 de novembro de 1945.
As escalas musicais e as narrativas típicas dos repentes remetem à cultura árabe (“moura”), muito difundida durante o Trovadorismo, que teve auge nos séculos XII-XIII; estas violas são, na maioria das vezes, do modelo de caixa chamado “dinâmico”, com cones metálicos, criado na década de 1930. A ordem tripla de cordas remete a violas portuguesas desde o sec. XVIII e dedilhados italianos desde o século XVII. Estes dedilhados eram chamados por lá também de “viola” pelo menos entre os séculos XV (Tinctoris, ca.1486) e XVI (Milano, 1536) - mas, ao contrário do que aconteceu em Portugal, a partir do século XVII migrariam de nome para chitarras (uma variação do nome guitarra, espanhol).
VIOLA DE BURITI (TO)
Armação: 4x4, nylon.
Registro mais remoto: 1949 - instrumento rústico remanescente, pesquisado por Marcus Bonilla, tese Minha Viola é de Buriti, de 2019.
As Violas de Buriti remetem diretamente às vihuelas espanholas, que teriam sido instrumentos tanto de arco quando dedilhados pelo menos desde o sec. XIV (antes das italianas e das portuguesas, portanto). O curioso fato de não ter cintura, mas ter se consolidado popularmente como "viola", confirma que a nomenclatura é fundamental na classificação destes cordofones, suplantando inclusive diferenças organológicas claras. Teria sido, de certa forma, similar ao acontecido em Portugal (o nome prevalecer sobre diferenças organológicas), porém com lá por questões nacionalistas e aqui pela consolidação popular. Esta visão não foi ainda levantada por nenhum outro estudo, sendo desenvolvimento científico inédito nosso.
VIOLA MACHETE (BA)
Armação: 10x5, aço - que substituiu antigas armações em 4 ordens.
Registro mais remoto: 1744, com nome de “machinho”, segundo registros alfandegários pesquisados por Mayra Cristina Pereira, tese A Circulação De Instrumentos Musicais No Rio De Janeiro, 2013.
Violas “Machêtes” (destaque na pronúncia com circunflexo), também chamadas “machinhos”, “machetes de tocar” e similares, eram típicas dos batuques, tendo sido portanto as mais citadas por todo o Brasil até início do século XIX. Sem citação ao nome “batuque”, mas com descrições similares (inclusive de umbigadas) já teriam sido referenciadas no século XVII, por poesias atribuídas a Gregório de Mattos, via nomes como guitarrilha e bandurra. Remetem às pequenas guitarras espanholas de 4 ordens, que cairiam em desuso a partir do século XVII - com o curioso fato que, a partir da consolidação do cavaquinho (no início do sec. XIX), as machetes passaram para a armação 10x5 conservando o nome “viola”, diferente de Portugal onde se consolidaram machetes, cavaquinhos, rajões, braguinhas e outros cordofones similares, de 4 ordens.
VIOLAS BRANCAS - [“Caiçara” (SP) e “Viola de Fandango” (PR)]
Armação: (7ou6)x5, aço.
Registro mais remoto: o termo “Viola Caiçara” foi observado no jornal A Tribuna (SP), edição de 01/11/1980, em referência de uso a partir de pelo menos 1974. Entretanto, já teriam sido observadas como “violas do litoral” por Mainard Araújo, na década de 1950, sem contar citações de “violas utilizadas em fandangos” no Rio Grande do Sul, até cerca de 1840.
As Violas Brancas (cujo nome seria referência à madeira chamada “caixeta”) remetem às violas beiroas portuguesas (sec. XIX), sobretudo pelo cravelhal extra, chamado "benjamim" - mas apresentam vários resquícios históricos coincidentes com outros modelos: a armação mista de ordens simples com duplas (ou triplas) coincide com violas repentistas nordestinas; a fabricação de caixas em peças únicas, remanescente em algumas regiões, coincide com as Violas de Cocho, além do uso também da nomenclatura “machete” para suas versões menores, de quatro ordens.
VIOLA DE CABAÇA (SP, RJ, MG)
Armação:10x5, aço.
Registro mais remoto: ca.1981.
Por alegações infundadas de terem sido como banzas as violas de Gregório de Mattos (séc. XVII), o boato de uso de cabaça como caixa de ressonância rompeu séculos mesmo com pouquíssimas citações até o século XX, quando passou a ser construída pelo luthier paulista Levi Ramiro e hoje se encontra consolidada pelo Brasil. Este é mais um exemplo da força da nomenclatura para a história da Família das Violas Brasileiras.
VIOLA 12 CORDAS (incidências nos Estados SP, RJ, MG, NE).
Armação de cordas:12x6, aço.
Registro mais remoto: ca.1929 (instrumento remanescente).
As Violas de 12 Cordas remetem às chamadas "guitarras clássico-românticas", de registro na Espanha no já citado período de transição (entre fins do sec. XVIII e início do século XIX) - mas, naturalmente, também remetem mais remotamente às vihuelas espanholas que dominaram do sec. XV ao XVII, por usarem a mesma armação de cordas daquelas. Um aspecto que teria passado despercebido a muitos, menos ao atento violeiro e pesquisador paulista Júnior da Violla, é que “doze cordas” também teriam tido as já citadas violas portuguesas 12x5, com registros desde o século XVIII - portanto, registros escritos que não tivessem detalhamentos não deixariam clara a existência de Violas 12x6. Outro fator a prejudicar o entendimento deste modelo são violões também com armação 12x6, cuja principal diferença está nas dimensões (além, naturalmente, da não consolidação do nome como “viola”, que vemos em todos os modelos consolidados e que é fundamental).
Apesar de todas as distrações das fontes, fotos como as do citado instrumento (da dupla Mandy & Sorocabinha, uma dupla caipira, portanto equivocadamente presumida por muitos que usariam “violas caipiras 10x5”) e a presença em catálogos Gianinni na década de 1950 (sob o nome de “viola portuguesa”) não deixam dúvida da atestação do modelo, hoje consolidado no Brasil - mas infelizmente ainda negado até por estudiosos. Este tipo de negação, entretanto, vem da preferência (comercial, afetiva, etc.) pelo modelo Viola Caipira e se aplica a todos os demais modelos da Família, que nunca antes teria sido contextualizada cientificamente como agora.
VIOLA CAIPIRA (praticamente em todo o Brasil)
Armação de cordas:10x5, aço.
Registro mais remoto: a nomenclatura surgiu algumas vezes a partir de 1901, quando o modelo também teria começado a ser desenvolvido, mas só se consolida a partir de meados da década de 1970.
Remete às guitarras espanholas que dominaram a Europa entre os séculos XVII e XVIII, tendo vindo a se consolidar como "violas de fato” a partir da migração das guitarras para o novo modelo, 6x6 (o violão moderno), acontecido nas primeiras décadas do sec. XIX. No Brasil, a consolidação do violão como principal cordofone é observada a partir da década de 1840 - exatamente quando surgem registros da variedade de modelos diferentes chamados de viola.
Um fator de destaque na consideração dos modelos como consolidados foi o evento Sesc Sonora Brasil, que em 2015 e 2016 levou quase todos os modelos a todas as regiões brasileiras, num expressivo número de mais de 500 apresentações.
No livro A Chave do Baú, toda a História dos cordofones europeus é utilizada como contexto, até culminar nas violas brasileiras, com fartas listas das referências pesquisadas em diversos idiomas e até quadros organológicos / etnográficos de cada modelo. Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro “A Chave do Baú” é fruto da monografia “Linha do Tempo da Viola no Brasil” e do artigo “Chronology of Violas according to Researchers”).
Principais Referências:
ANDRADE, Julieta de. Cocho Mato-Grossense: um alaúde brasileiro. São Paulo: Escola de Folclore, 1981.
BALBI, Adrien. Essai Statistique sur le Royane de Portugal et D’algarve. 2ª ed. Paris: Chez Rey et Gravier, 1822.
BALLESTÉ, Adriana Olinto. Viola? Violão? Guitarra?: proposta de organização conceitual de instrumentos musicais de cordas dedilhadas luso-brasileiras do século XIX. 2009. Tese (Doutorado em Música) – UNIRIO, Rio de Janeiro, 2009.
BONILLA, Marcus Facchin. Minha Viola é de Buriti: uma etnomusicologia aplicada-participativa-engajada sobre a musicalidade do quilombo Mumbuca, no Jalapão (TO). 2019. Tese (Doutorado em Artes) – Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.
CASTAGNA, Paulo [criador]. Viola Brasileira. [artigo de discussão coletiva]. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco, CA: Wikimedia Foundation. 2017.
CASTAGNA, Paulo. Fontes bibliográficas para a pesquisa da prática musical no Brasil nos séculos XVI e XVII. 1991. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Artes) – Universidade de São Paulo, 1991.
CORRÊA, Roberto Nunes. A Arte de Pontear Viola. Brasília (DF): ed. do autor, 2002.
CORRÊA, Roberto. Cinco ordens de cordas dedilhadas: a presença da viola do Brasil. In: SESC - Serviço Social do Comércio. Violas Brasileiras: Circuito 2015 - 2016. Rio de Janeiro: SESC DN, 2015.
CORRÊA, Roberto. Viola Caipira: das práticas populares à escritura da arte. 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicação e Artes da USP, 2014.
CORRÊA, Roberto. As Violas do Brasil. In: Partituras Brasileiras on line – brazilian songbook international on line. Brasília (DF), FUNARTE MINC, 2017.
FERRERO, Cíntia Bisconsin. Na Trilha da Viola Branca: aspectos sócio-culturais e técnico-musicais do seu uso no fandango de Iguape e Cananéia SP. 2007. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes da UNESP, São Paulo, 2007.
GRIFFITHS, John. Las vihuelas en la época de Isabel la Católica. Cuadernos De Música Iberoamericana, Madri, v.20, p. 7-36, jul./dez. 2010.
GRIFFITHS, John. At Court and at Home with the Vihuela De Mano:Current Perspective of the Instruments, its Music and its World. JLSA 22, 28 páginas, Universidade de Melbourne, 1989.
HORNBOSTEL, Erich M. Von; SACHS, Curt. Systematik der Musikinstrumente, Zeitschrift Fur Etnologie, p. 553-590. Berlin: Behrend & Company, 1914.
MARTIN, Darryl. The early wire-strung guitar. The Galpin Society Journal, United Kindom, nº 59, p. 123-137, maio 2006.
MILANO, Francesco. Intavolatura de Viola o vero Lauto. Napolis: s/n, 1536
MOUTINHO, Joaquim. Notícia sobre a Província de Matto Grosso. São Paulo: Typographia de Henrique Schroder, 1869.
MEEÚS Nicolas (org.). Classification Hornbostel-Sachs des instruments de musique. In: Patrimoines Et Langages Musicaux. Paris: Musique et Musicologie de Paris-Sorbonne, 2009.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
PEREIRA, Mayra Cristina. A Circulação de Instrumentos Musicais no Rio de Janeiro: do período colonial ao final do primeiro reinado. 2013. Tese (Doutorado em Música) - Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2013.
REBELLO, Manuel Pereira. CABRAL, Alfredo do Valle (pref.). Obras Poéticas de Gregorio de Mattos. Tomo I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1882.
REI-SAMARTIM, Isabel. A Guitarra Na Galiza. 2020. Tese (Doutoramento em História da Arte) – Universidade de Santiago de Compostela (Galícia), 2020.
RIBEIRO, Manoel da Paixão. Nova Arte de Viola. Coimbra [Portugal]: Universidade de Coimbra, 1789.
ROCHA, João Leite Pita da. Dona Policarpia Mestra de Viola. Lisboa: Oficina de Francisco Silva, 1752.
RODGER, Norman. H-S Classification. In: Musical Instrument Museunms Online (MIMO) [portal eletrônico]: s/l, International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments - ICOM, 2011.
SOUZA LIMA, Cássio Leonardo Nobre de. Viola nos Sambas do Recôncavo Baiano. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música da UFBA, Salvador, 2008.
TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998.
TINCTORIS, Johanes. De inventione et uso musicӕ. Napolis, s/n, [1486].
VIOLLA, Júnior da. Viola de Doze Cordas: as seis ordens de uma ilustre desconhecida [revisão de monografia]. São Paulo: ed. do autor, 2020.
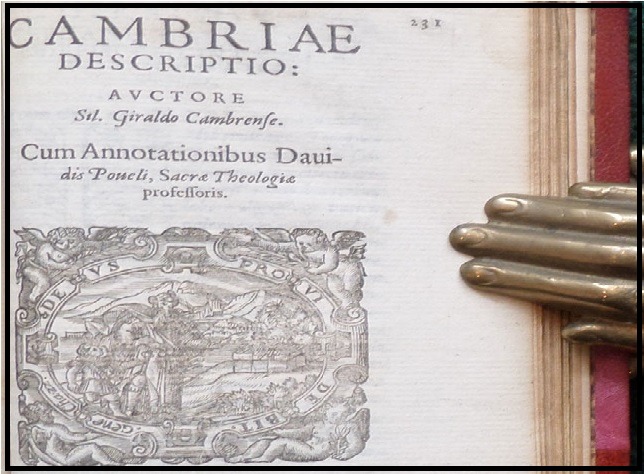
A origem histórica das modas-de-viola
fidicinem praevium habens, et praecentorem, cantilenae notulis alternatim in fidicula respondentem.
“Havendo execução de cordofones e instrução prévia, as notas cantadas alternam em correspondência com as da fidicula [pequeno cordofone]”.
[Giraldi Cambrensis (ca.1146-ca.1223), in Descriptio Kambriae, tradução nossa *1].
Viola, Saúde e Paz!
Dos maiores desafios a quem pesquisa a sério e a fundo musicologia, com olhar muito atento às variações de nomes e características organológicas pela História, é pegar o “joio” (os entendimentos populares de termos que passam de boca em boca) e separar do “trigo” (que seria o que se pode afirmar com base em registros de época e contextos fundamentados em metodologias). Neste Brevis Articulus trazemos descobertas possivelmente inéditas para a musicologia ocidental, graças à aplicação de nossa metodologia, que inclui nossos estudos e experiência com música.
Atentos ao nome “viola” para instrumentos musicais e seus ancestrais desde os mais remotos registros em latim (século II aC.) até os dias atuais, deparamo-nos com a curiosa e crescente incidência do termo “moda-de-viola”, em centenas de fontes pesquisadas, a partir do início do século XX, aqui no Brasil - incidência que creditamos à dedicação do genial empresário cultural paulista Cornélio Pires (1884-1958), conforme citamos no nosso livro A Chave do Baú.
É importante frisar: Cornélio Pires teria batizado de “moda-de-viola” uma maneira específica de tocar viola e cantar em duetos simultâneos - duetos que, nas músicas que ele observou e até hoje, seriam principalmente duetos terçados paralelos (ou seja, cada nota musical da melodia, tanto da viola quanto dos cantos, é acompanhada de um par, que seriam outras notas em intervalos de terça maior ou menor).
Embora o inteligente empresário tenha sido capaz de observar e, se tiver criado, pelo menos divulgou com grande ênfase um interessante nome para o fenômeno (ou “técnica”), no entendimento popular, até os dias atuais, utiliza-se o termo “moda-de-viola” sem muito critério, muitas vezes para qualquer tipo de execução de viola dedilhada. Em nossa observação, possivelmente única, esta generalização teria acontecido por curiosa coincidência de “legado” dos dois termos originais: “moda”, pelo menos desde o século XVIII, seria utilizada por portugueses como genérico para qualquer tipo de canção - e “viola”, que do século XIV ao XIX, foi muito utilizado como genérico para qualquer tipo de cordofone portátil, como alaúdes, guitarras e vihuelas. Afirmamos que nossa observação pode ser pioneira porque um dos nossos generosos consultores, o Dr. Rafael Garcia, que fez inclusive dissertação de Mestrado sobre “moda-de-viola” (a grafia ligada por dois hífens aprendemos com ele), nos disse nunca ter ouvido falar de análises sobre esta coincidência antes de nós.
É curioso... mas não é lenda nem invenção: são atestáveis por vários registros de época e por contextos histórico-sociais: chamar pelo genérico “moda” simplesmente “qualquer música” tocada por “violas”, ou seja, “por qualquer cordofone portátil”, faz sentido a portugueses que não nunca gostaram de chamar seus cordofones portáteis por nomes que remetessem a culturas dissidentes (moura e espanhola).
A junção de dois genéricos teria gerado um terceiro termo, composto, que, parecendo sina ou castigo, depois viria igualmente um genérico na boca do povo. Isso aponta como são passíveis de serem “joios” os entendimentos que não se baseiam em registros, os famosos “boca a boca” - que parecem acontecer “só nas bocas” mesmo, sem passar pelos cérebros... (naturalmente, este último comentário incluimos só como provocação, contando e já pedindo que ninguém nos leve a mal pela brincadeira).
A existência daquele determinado tipo de execução (ou técnica) de “voz e canto em duetos paralelos, simultâneos”, mesmo com um nome específico, não comprova que tenha sido inventado no Brasil - como vários caipiristas e outros curiosos defendem. No máximo, do nome composto há evidência estatística de que teria surgido na época de Cornélio Pires - mas só o nome. E para desdizer o enganoso entendimento, basta apontar existência anterior da técnica.
A quem estudar pelo menos um pouco de História da Música Tonal (ocidental) não é difícil constatar que as modas-de-viola refletem um período antigo, que teria acontecido entre as já muito estudadas fases evolutivas chamadas MONOFONIA e POLIFONIA: a monofonia (“um som”, a partir do grego), teria ocorrido em tempos de predominância de cantos em uníssono, como os chamados solos “à Capella” - e a polifonia (“vários sons”), a última fase evolutiva observada e que é a praticada até hoje, quando variações de melodias se intercalam e se completam em acordes, contracantos e outras técnicas, por exemplo, e com destaque, nas execuções orquestrais. Pelas linhas melódicas ainda serem chamadas de “vozes”, mesmo quando executadas por instrumentos musicais, evidencia-se que a origem teria vindo de cantos.
O desenvolvimento tem origem nos estudos dos intervalos musicais, que teriam sido enfatizados no território europeu pelo monge italiano Guido D’Arezzo (992-1050), autor de livros como o Micrologus, publicado em 1026. Alguns estudiosos apontam, com certa razão, que notações em pauta com intervalos musicais já seriam estudados desde Boethius, no século VI (De Institutione Musica), mas é importante observar que estudos anteriores aos de D’Arezzo ainda não utilizariam sete notas, que inclusive se credita a ele ter dado nomes (Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá-Si). Sobretudo, entende-se que por serem estudos oriundos da Igreja Católica, presente e influente por todo o território europeu, a difusão teria sido bem mais significativa que de outros estudos.
Já execuções de solos de instrumento de corda com canto em paralelo, com aplicação de intervalos musicais (chamados “duetos”), como as modas-de-viola, apontam características típicas do Trovadorismo, antecessor da polifonia e até da utilização de acordes como base para cantos - uma fase chamada HOMOFONIA (“mesmo som”, em grego); ou seja, não era mais apenas uma voz, seriam várias, mas ainda em paralelo, acompanhamento e solo. Homofonias seriam inclusive as notações do citado Boethius. Com isso podemos localizar práticas como as modas-de-viola aproximadamente entre os séculos XI (quando já seriam divulgos pela Igreja estudos sobre intervalos) e o século XII, quando localizamos estudos sobre acordes, por exemplo, no tratado Quӕstiones in musica, atribuído ao padre francês Rudolf of St. Trond (1070-1138). É bom lembrar que a música original dos menestréis mouros, invasores da Península Ibérica, chamada de “atonal”, não aponta o uso de acordes. Deles teria vindo a liberdade de fazer música fora da Igreja, à qual não estavam subordinados por serem muçulmanos. Acordes teriam sido inseridos, portanto, pelos europeus e evidenciam-se mais remotamente pelos chamados toques “rasgados” (rasgueados, em occitano, catalão e espanhol), quando todas as cordas são tocadas ao mesmo tempo - e depois, já em época de polifonias, observam-se narrativas de toques “ponteados” (punteados).
Esta reflexão teórica, com apontamento de alguns registros, já seria, talvez, suficiente - e, entre outros, a musicóloga espanhola Rosário Martinez também teria observado, segundo sua embasada pesquisa de doutoramento Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media, de 1981; mas o bom mesmo é encontrar registros de época para sustentar mais claramente, concorda?
Pois recentemente encontramos talvez o mais remoto registro - e foi por pura sorte, enquando estávamos a “dar mais uma olhada” em fontes sobre os termos fides e fidicula. Estes dois termos, em coincidência já um pouco assustadora, teriam sido utilizados exatamente como genéricos (!) pelos romanos, para designar cordofones e, até hoje, são erroneamente traduzidos como “lira”, “cithara” ou outros instrumentos - mas é pura superficialidade, puro “joio”: só se pode afirmar, com base nos registros, que teriam sido “cordofones”, ou seja, instrumentos musicais de corda - e não liras, citaras e outros instrumentos já existentes, inclusive citados em textos romanos junto a fides (portanto, não poderiam ser a mesma coisa).
Não podemos deixar de dar crédito ao musicólogo estadunidense William Smythe Babcock Mathews - “W.S.B. Matheus” (1837-1912), que na página 46 de publicação de 1891 do livro A Popular History of the Art of Music (“Uma História Popular da Arte da Música”) nos chamou a atenção pelo uso do termo fidicula - embora ali com grafia incorreta “fidiculare” e com apontamento de data também equivocado, eleventh century (“século XI”).
Os pequenos equívocos (sejam gráficos ou do autor) não fariam muita diferença, pois nossa metodogia aponta para a checagem de originais - e foi assim que chegamos ao texto original, destacado no início, que teria sido escrito em latim pelo religioso e historiador britânico Giraldi Cambrensis - citado às vezes como “Geraldus Cambrensi”, “Gerald Barry”, “Gerald of Wales” - e que, conforme também já destacamos, teria nascido no século XII (ano 1146) e não no XI.
Então observamos também mais alguns equívocos de transcrição (como o termo “tibicinem” na versão em inglês e não o correto, fidicinem, do início do trecho) e, principalmente, um fundamental equívoco de interpretação: para Mathews, segundo a narrativa de Cambrensi, o Rei Richard de Clare, em deslocamento entre a Inglaterra e o País de Gales, “[...] dispensou seus assistentes e perseguiu indefeso sua jornada, precedido por um menestrel e um cantor, um acompanhando o outro com um fiddle” (tradução nossa *2); fiddle, no caso, é um genérico (!) muito usado em textos em inglês para cordofones friccionados por arco (em alemão costuma-se usar fidel, em textos em espanhol e português, fidula).
Estes últimos três genéricos são outros exemplos de “interpretações superficiais populares” (“joio”), por sua vez mais prejudiciais por serem largamente utilizados até por estudiosos: ao tempo das fidiculas ainda não haveria registro de utilização de arcos em território europeu, tendo sido, portanto, instrumentos dedilhados. Cada vez mais espantoso, portanto, se mostra o uso de nomes sem fundamentação correta, se pensarmos nas fidiculas como possíveis “tataravós” das atuais violas, estas que séculos mais tarde sofreriam o mesmo problema de confusão de nomes, por poderem ser tocadas de duas maneiras diferentes (dedilhadas ou friccionadas), o que acabou por se consolidar no nome bivalente “viola” em italiano (até o século XVI) e em português (até os dias atuais). Sim, esta é a origem da nossa atual bivalência, ou “um mesmo nome para dois instrumentos diferentes”, que detalhamos em nosso livro A Chave do Baú e até em um Brevis Articulus específico aqui.
Voltando a Mathews, este teria se enganado na tradução/interpretação porque, na verdade, pelo contexto original em latim, se observa que Cambrensis teria utilizado uma figura de linguagem, não tendo se referido à presença física de músicos. Todo o trecho descreveu a insensatez do monarca ao entrar numa floresta com poucos homens, desarmados: estes homens teriam seguido o lider deles “como as notas do cordofone seguiam as do canto” (conforme já destacado e traduzido). O equívoco, que também observamos em outras traduções convencionais, é de considerar que em todo e qualquer texto o termo fidicinem significaria “tocador de cordofone”: neste caso, como em outros, nossa experiência como instrumentista (em especial, tocador de viola) faz uma diferença rara entre estudiosos (ver nossos apontamentos sobre as traduções, ao fim deste Brevis Articulus).
Esta descoberta já seria, em si, bastante interessante - porém mais se descobriu nos relatos do religioso Cambresis, que teria viajado bastante pelo então território europeu da época e, para nossa sorte, teria bom conhecimento musical e atenção a detalhes. No capítulo “Canções Sinfônicas e Cantilenis Organicis” (este último, que traduzimos como “Cantorias Populares”), descreveu que entre povos ancestrais do hoje chamado Reino Unido haveria cantos coletivos “diferentões”, por não serem em uníssono, mas com muita vocum varia (“variação de vozes”). Cambresis ainda destacou que mais ao Norte, “além da Humbria, nos limites de York”, haveria ainda outro tipo de canto harmonizado similar, mas com uma particularidade: seria “a duas vozes, diferentes apenas pelos tons e modulações variadas: uma abaixo, mais murmurante, e outra, acima, ambas ao mesmo tempo emocionantes e deliciantes” (tradução nossa, *3). Este trecho checamos também a partir de transcrições de vários manuscritos, que teriam sido feitas pelo clérigo e historiador inglês James F. Dimock (1810-1876), livro Giraldi Cambrensis Descriptio Kambriae da compilação Chronicles And Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages (“Crônicas e Memórias da Grã Bretanha e Irlanda durante a Idade Média”), publicada em 1868. Normalmente cruzamos informações de no mínimo duas fontes.
Cambrensis ainda teria acrescentado, sobre aquele curioso tipo de canto, que praticamente todos, inclusive as crianças, pela prática por longa data não cantavam em uníssono ou múltiplas vozes, mas só saltem dupliciter (“em duetos”); e que, por ser apenas das populações mais ao Norte, poderia ter sido herdado de dinamarqueses e/ou noruegueses, que teriam tido mais influência naquela região (o que realmente é confirmado por vários historiadores atuais).
Dos registros de Cambrensis - portanto, do século XII - temos notas musicais emitidas por cordofones em correspondência com notas cantadas e cantos em duas vozes, não tendo sido infelizmente apontado quais os intervalos musicais utilizados nos duetos, apenas que uma das “vozes” (entenda-se “linha melódica”) era bem mais grave e com menos volume que a outra, o seu par direto - exatamente o que ainda acontece nas modas-de-viola e outros duetos terçados, hoje chamados “terça abaixo” e “terça acima” (mesmo quando outros intervalos são utilizados), ou “primeira” e “segunda” vozes.
Para situar como aquele costume pode ter chegado a Portugal (onde a partir do século XVIII já observamos registros de modinhas cantadas em dueto terçado) e, de lá, para as modas-de-viola brasileiras, acrescentamos que a língua e a cultura celta (de povos de regiões chamadas “Galia” pelos romanos), ter-se-ia espalhado por grande parte do território europeu, incluindo a “Ibéria” (ou “Península Hyspanica”). Outro fator de expansão do tipo de cantoria, já citado, teriam sido os Trovadores, que, com poesias cantadas ao som de cordofones, teriam surgido a partir do século VIII pela chamada Invasão Moura da mesma Península (que inclui a região chamada Lusitânia, hoje, Portugal), atingindo auge nos séculos XII e XIII também por praticamente todo território europeu.
Trovadores teriam influenciado na mescla de costumes e de línguas em evolução, não sendo coincidência que exatamente no citado auge do Trovadorismo se tem registros do surgimento do termo “viola” em latim, occitano e catalão - além de mais de uma dezena de variações próximas em outras línguas em evolução à época... mas aí já são outras prosas...
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro “A Chave do Baú” é fruto da monografia “Linha do Tempo da Viola no Brasil” e do artigo “Chronology of Violas according to Researchers”).
*1 - fidicen (na flexão fidicinem) é habitualmente traduzido como “tocador de cordofone”, porém, como em outras fontes observadas desde Cicero (ca.106-ca. 46 aC.), entende-se que neste caso o autor não teria se referido ao tocador, mas ao toque de cordas - mais provavelmente, pela sequência do texto, ao “tocar fides (cordas) acompanhado de canto (cano, na flexão cine)”. Já sobre praecentorem, palavra hoje não apontada em dicionários, entende-se como relativa a praeceptor (“instrutor, professor”).
*2: no original: he dismissed his attendants and pursued his journey undefended, preceded by a minstrel and a singer, the one accompanying the other on the fiddle.
*3: [...] binis tamen solummodo tonorum differentiis, et vocum modulando varietatibus; una inferius submurmurante, altera vero superne demuleente pariter et delectante.

Violas dedilhadas e o eruditismo
Viola, Saúde e Paz!
O lançamento do livro de partituras J. S Bach - Viola Brasileira, do violeiro Vinícius Muniz (brasileiro radicado em Barcelona, na Cataluña), vem trazer à memória uma interessante conexão histórica das violas brasileiras. O músico, que informa estar a aprimorar a técnica específica de escrita há cerca de 10 anos, já havia lançado um primoroso disco, com este mesmo nome, em 2017.
No livro A Chave do Baú listamos ações de aproximação histórica das populares violas dedilhadas com a música mais estudada, chamada “erudita”. Estas ações, organizadas cronologicamente, apontam um caminho que teria começado (ao que pudemos apurar) com o Padre Mestre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) - grande músico, compositor e arranjador, que chegou a Mestre de Capella no início do século XIX. Embora pouquíssimo citado, Padre Mestre tanto teria aprendido quanto ensinado teoria musical com “violas de arame”. Há vários registros, a começar por Manoel Porto-Alegre, que teria convivido com o Padre em seus últimos anos de vida.
O caminho passou por citações de violas dedilhadas em peças do maestro carioca Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - como “A Viola”, com Sílvio Romero, em 1912, “Viola Quebrada”, em 1919 e outras - e atingiu um interessante capítulo na década de 1960, quando (apesar de pouco citado e até distorcido por estudos famosos) houve uma clara dúvida pública entre as nomenclaturas “viola caipira”, “viola sertaneja” e “viola brasileira”, só terminada a partir de meados da década seguinte, 1970, com a ascensão do atual nome do modelo Viola Caipira (é sempre bom lembrar que este é apenas um entre os vários modelos da Família das Violas Brasileiras).
Em nossa monografia, entre as mais de 1200 referências que checamos e organizamos de citações do termo “viola” para dedilhados desde o século XVI, está no setor “Remotices” uma relação especial com cada citação ao termo “viola caipira” de 1900 até 1980, onde se atesta, entre outros pontos, que na verdade teria havido uma dúvida pública sobre o nome das violas na década de 1960, com o nome “viola brasileira” tendo tido até mais citações que “viola caipira”.
Embora apresentado como tese de doutoramento aprovada por uma grande universidade paulista, a década não teria sido de “avivamento da viola caipira” (vez que esta nomenclatura ainda nem estaria consolidada), mas de um avivamento das violas enquanto instrumentos musicais capazes de executar qualquer estilo, dos quais se estava a começar a discutir publicamente qual o nome mais adequado e a estudar as origens do instrumento. O autor da tese, compromissado publicamente com o caipirismo, grande formador de opinião no meio da viola e secundado por centenas, ainda não veio a público explicar-se sobre a discrepância entre sua tese e os dados históricos comprováveis (na verdade, ignora ou até bloqueia quem refute seus apontamentos). Entretanto, apesar disso, vem desde o ano de 2016 citando em publicações detalhes de outros modelos de violas e atualmente apresenta espetáculo onde reune em cena quase todos os modelos (o pesquisador ainda parece desconhecer os dados históricos sobre o modelo Viola 12 Cordas, que realmente requer mais profundidade e especialização na análise). Ou seja, a tendência é que em breve se renda de vez à realidade histórica - só esperamos que não queira anunciar a descoberta como de sua autoria, vez que ignora nossos apontamentos, descobertas e esforços.
Voltando ao tema (embora “eruditismo” tenha a ver também com pesquisas), em 1971 - e especificamente sobre a obra do grande compositor alemão Johan Sebastian Bach (1985-1750) - havia sido lançado o disco Bach na Viola Brasileira, pelo maestro paulista Theodoro Nogueira (1913-2002). À maneira que conseguiu, Theodoro havia escrito em partitura as peças para viola dedilhada, que originalmente tinham sido criadas para outros tipos de instrumentos, como violinos. As transcrições foram interpretadas e gravadas pelo violonista Geraldo Ribeiro.
Haveria algum motivo para peças de Bach serem transcritas para um instrumento popular como a viola dedilhada? Entendemos que sim, pois entre as décadas de 1920 e 1930 o guitarrista espanhol Andrés Segovia (1893-1987) tinha encantado boa parte do mundo ao traduzir para violão peças de Bach, colaborando muito para que aquele “irmão mais novo das violas e guitarras” (chamado pelos portugueses de “violão” ou “viola francesa” desde o início do século XIX) seja hoje muito bem aceito em salas de concerto e, principalmente, em escolas de música. Não temos dúvida que a intenção de Theodoro Nogueira teria sido atingir algo semelhante para as violas brasileiras, que então ele estava a descobrir e pesquisar desde pelo menos 1963 - e que ele sabia não serem bem conhecidas sequer no Brasil, muito menos pela comunidade erudita musical ocidental. Chegamos a localizar versão original (não divulgada antes em outros estudos) do artigo Anotações para um estudo sobre a viola, de Theodoro, publicado em 24 de Agosto de 1963 no jornal A Gazeta - que traz interessantes apontamentos sobre a nomenclatura do instrumento, além de fartas referências. Transcrevemos o artigo e o deixamos à disposição, em arquivo PDF, especialmente para os leitores de nossos Brevis Articulus.
Este teria sido o caminho que as violas estariam a traçar, naturalmente, até serem engolidas pela ação de mercado, que atrelou às vendas a nomenclatura “caipira” e todo um contexto de caipirismo, como se fosse “defesa de tradição ancestral” - um grande entendimento coletivo, não comprovável historicamente, que leva muitos a quererem cercear o instrumento a determinados estilos e toques de público fiel e pouco dado a leituras, pesquisas, verdades históricas comprováveis.
Por um lado, se o resto do mundo levasse a sério, talvez pudéssemos apresentar como “ineditismo” atrelar um instrumento musical somente a um determinado estilo - e seu nome, a um entendimento dito “folclórico ancestral”, porém consolidado apenas desde a década de 1970... Ou seja: seria o primeiro “folclore com valor retroativo” da História Mundial...
Não deixaria de ser ousado querer que o mundo considerasse uma interpretação assim, pois, pelo menos em nossas profundas pesquisas sobre a história dos cordofones ocidentais, desde o século II aC. não encontramos nada sequer semelhante... Mas, naturalmente, o mundo não cairia facilmente nesta história agradável e conveniente: só em lugares onde se tivesse uma população de DNA religioso histórico, com pouquíssimo hábito de leitura e que aprecie histórias que levantem o moral, independente de confirmações por registros de época. Não podemos negar que seria uma espécie de “inclusão social”, embora inventada - e, sem dúvida, uma estratégia comercial genial. Quem pouco lê jamais buscaria pesquisar dados históricos para comprovar nada, ainda mais sendo agradável a egos e outros interesses - por exemplo, agradável aos bolsos de quem lucra com o caipirismo de alguma forma: se vende bem, que mal tem?
De fato, o que constatamos e contextualizamos cientificamente, e pela primeira vez, é que no Brasil, assim como em Portugal, as violas dedilhadas teriam evoluído como uma Família de modelos de instrumentos dedilhados similares, unida pelo forte e curioso nome “viola”, e cujas diferenças correspondem a contextos histórico-sociais com resquícios de todas as fases históricas dos cordofones ocidentais - um tesouro histórico, portanto, não um representante de culturas imaginadas e ações interesseiras (sejam comerciais, acadêmicas e/ou de defesa de egos).
O século XXI, na verdade e felizmente, aponta para um retorno ao que estava a surgir e crescer na década de 1960 e que, graças aos novos estudos, não deverá ser novamente apagado por entendimentos coletivos e interesses sem base histórica real. Desde 2005, ações espontâneas vêm aproximando cada vez mais as violas dedilhadas do mundo musical normal e suas aplicações múltiplas - em especial, também junto a verdadeiras orquestras.
“Verdadeiras” porque faz parte do entendimento coletivo chamar grupos formados por apenas um tipo de instrumento de “orquestras de violas”... O mais preciso seria chamar estes grupos de “naipes” ou ensembles (termo francês), vez que a principal característica das orquestras (conhecidas, talvez, no mundo todo) seja a multiplicidade de instrumentos, para prover variadas texturas à música executada. Para aplicar o entendimento correto, entretanto, é necessário ter conhecimento mínimo de música de verdade (um mínimo de leitura e pesquisa, hoje disponível gratuitamente até na grande rede chamada internet).
Não parece curioso que “orquestra” - a nomenclatura erudita convencional - chame a atenção e a querência, mesmo de quem não parece estar interessado em ler para se inteirar sobre a verdadeira música pelo mundo afora? Este empréstimo do nome “orquestra” - de certa forma, arrogante e pretensioso - pode nos deixar curiosos se teria alguma ligação com a aproximação natural das violas (e outros instrumentos) com o eruditismo, com a prática estudada... mas, certamente, será apenas coincidência. Ou não?
Presente nas grades como instrumento digno de bacharelados, mas infelizmente ainda em pouquíssimas universidades, só aos poucos as fundamentações científicas e as práticas vão apontando recuperação do lugar normal de qualquer instrumento musical com a capacidade que as violas dedilhadas também têm.
Uma das ações mais diretas quanto a esta recuperação do processo normal seria o Reconhecimento Oficial do instrumento como Forma de Expressão digna de registro junto aos Livros de Patrimônio Imaterial - que pode levar até ao reconhecimento mundial pela UNESCO. Quando conseguido, as escolas, a mídia e a opinião pública tenderão a voltar olhos para as curiosas (e exclusivas) violas dedilhadas brasileiras e portuguesas - e trabalhamos para que fundamentações e exemplos não faltem para atender tais curiosidades. Já tentamos a ação pelo Reconhecimento oficial em 2017 - tendo sido conseguido no âmbito Estadual, em Minas Gerais, em 2018 - mas para o Reconhecimento Nacional ainda falta muita conscientização, interesse e engajamento pela classe envolvida. Lerem um pouco mais sempre ajuda, e é por isso que nos dedicamos, até voluntariamente, à disponibilização gratuita de textos fundamentados. O tempo certo há de vir e já está a apontar - só que aí já são outras prosas...
Por hora, parabéns e sucesso ao Vinícius Muniz - indicamos o estudo e a aquisição (quem sabe, até como presente?) de seu belo trabalho.
Muito obrigado por ler até aqui... E vamos proseando...
(João Araújo escreve na coluna “Viola Brasileira em Pesquisa” às terças e quintas feiras. Músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor, seu livro “A Chave do Baú” é fruto da monografia “Linha do Tempo da Viola no Brasil” e do artigo “Chronology of Violas according to Researchers”).
[Na foto, cena final do espetáculo “Concertos para Viola Urbana e Orquestra”, de 2015 - idealizado e coordenado por João Araújo].
Referências:
AZEVEDO, Manuel Duarte Moreira de. Biographia do Padre José Maurício Nunes Garcia. Revista do Instituto de História e Geografia Brasileiro, v.34, p.293-304. Rio de Janeiro, 1861.
BURNEY, Charles. A General History of Music. v. 2. London: Paternoster-Row, 1782
CORRÊA, Roberto. Viola Caipira: das práticas populares à escritura da arte. 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2014.
CORRÊA, Roberto. As Violas do Brasil. In: Partituras Brasileiras on line – brazilian songbook international on line. Brasília (DF), FUNARTE MINC, 2017.
LIMA, Rossini Tavares de. Estudo sobre a Viola. Revista Brasileira de Folclore, Brasília, DF, n. 08, p. 29-38, jan./dez. 1964.
PORTO ALEGRE, Manoel de Araújo. Apontamentos sobre o Padre José Maurício. Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil. Rio de Janeiro, [terceira série, tomo XIX], p. 354-369, 1856.
PEREIRA, Vinícius Muniz. Entre o Sertão e a Sala de Concerto: um estudo da obra de Renato Andrade. 2011. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2011.
SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionário Bibliographico Portuguez. [Tomo segundo]. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859.
WEBER, Francis J. A Popular History of Music from the Earliest Times. London: Simpkin, Marshall, Hamilton , Kent & Co., 1891
Artigos postados no Canal de Notícias:
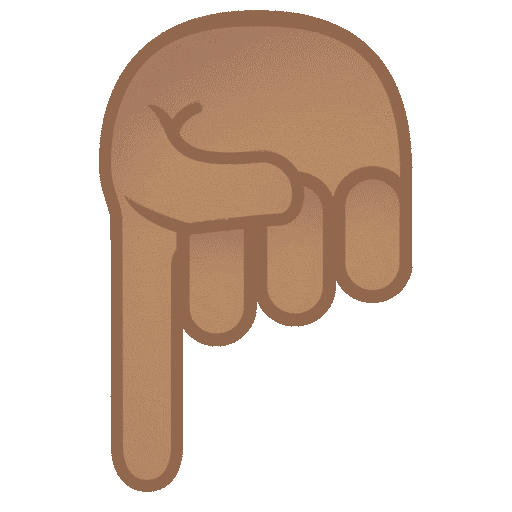

Beaurepaire-Rohan e a distorção do significado de “caipira”
On doit s'honorer des critiques, mepriser la satire, profiter de ses fautes et faire mieuax.
Leia mais em: Canal de Noticias.
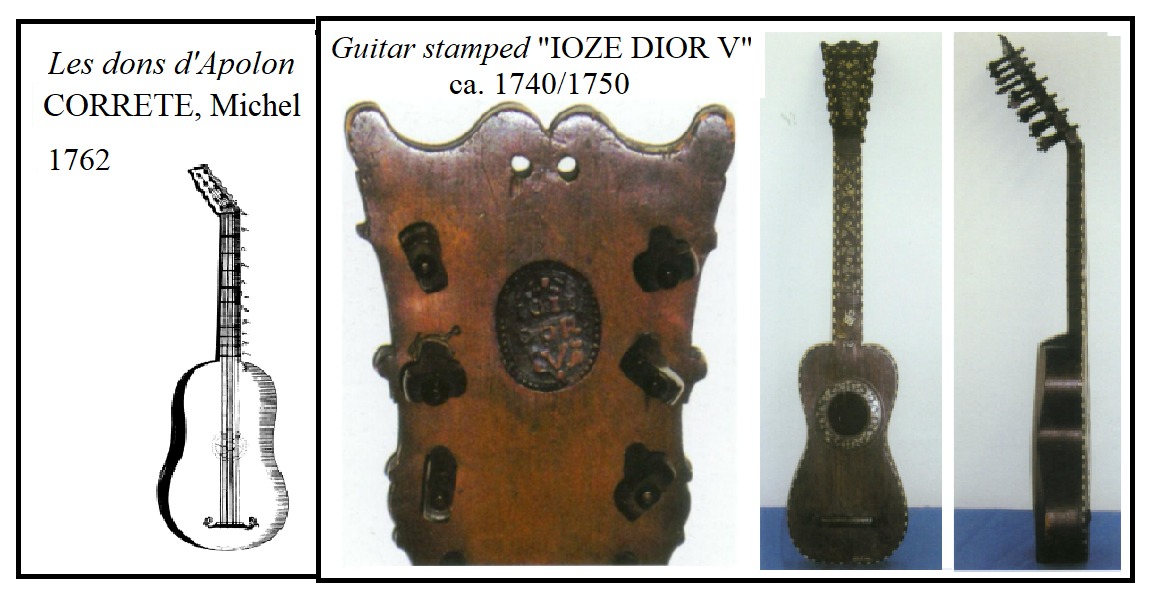
“À la Rodrigo”: uma armação quase ilimitada
On nomme Guitarres à la Rodrigo, celles qui sont montees avec douze cordes; pour les trois premiers rangs deux cordes à l'unisson, et pour les deux derniers rangs trois cordes dont il y en a deux à l'unisson et une a L'octave.
Leia mais em: Canal de Noticias.

Um Juiz Violeiro
[...] magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum
“O magistrado é a lei que fala; a lei, é o magistrado mudo”
[Marco Túlio Cicero (106 aC.- 43 aC.), em De Legibus III].
Leia mais em: Canal de Noticias.

Quando um modelo se tornou “Viola Caipira”
“[...] Mas também o que nos dirão da monotonia e insipidez dessas intérminas e uniformes modulações da viola caipira seguindo o sapateado do fandango, obrigada sempre às improvisações poéticas e desafios que formam a fama e o goso [sic] ...
Leia mais em: Canal de Noticias.
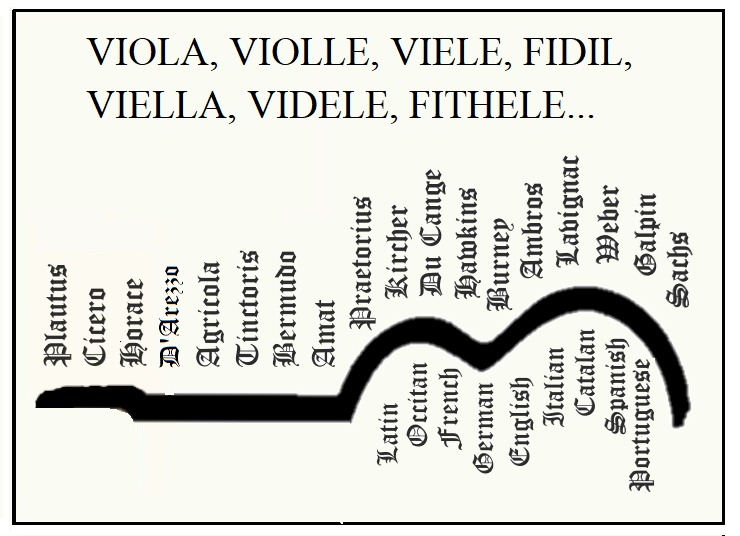
Origens ainda pouco conhecidas do termo VIOLA
[...] alii fistulis, alii sambucis, alii violis [...] psalunt
(“Eram tocados algumas fistulas, sambucas, violas”)
Leia mais em: Canal de Noticias.

QUATRO VIOLEIROS ESQUECIDOS PELA HISTÓRIA
Viola, Saúde e Paz!
Quem já leu sobre a história da música popular brasileira deve ter reparado que as narrativas costumam começar a partir do surgimento do choro, ali por meados do século XIX...
Leia mais em: Canal de Noticias.

CHORA, VIOLA: a mais remota citação
“[...] Algumas vezes, [Nóbrega] estando em Piratininga com poucos Irmãos, mais afastado de negócios, se metia na sacristia com um devoto amigo, que lhe tangia uma viola...
Leia mais em: Canal de Noticias.

SERIA O CAIPIRISMO “FAKE NEWS”?
“[...] Uma sociedade que não estuda história"...i.”
(Laurentino Gomes, no livro 1808).
Leia mais em: Canal de Noticias.

O CURIOSO CASO DA VIOLETTA
[...] Viola propter vim odoris nomen accepit.
Huius genera sunt tria: purpureum, album, melinum.
Leia mais em: Canal de Noticias.

LENDAS E TRADIÇÕES:
(haveria problema em acreditar e repetir cegamente?)
[...] Unde arbitror quod fila chordarum citharae ideo fides dicantur, quoniam et mortua sonum reddant
[Aurelius Ambrosius - De Obitu Theodosii - (ca.340-ca.397)].
Leia mais em: Canal de Noticias.
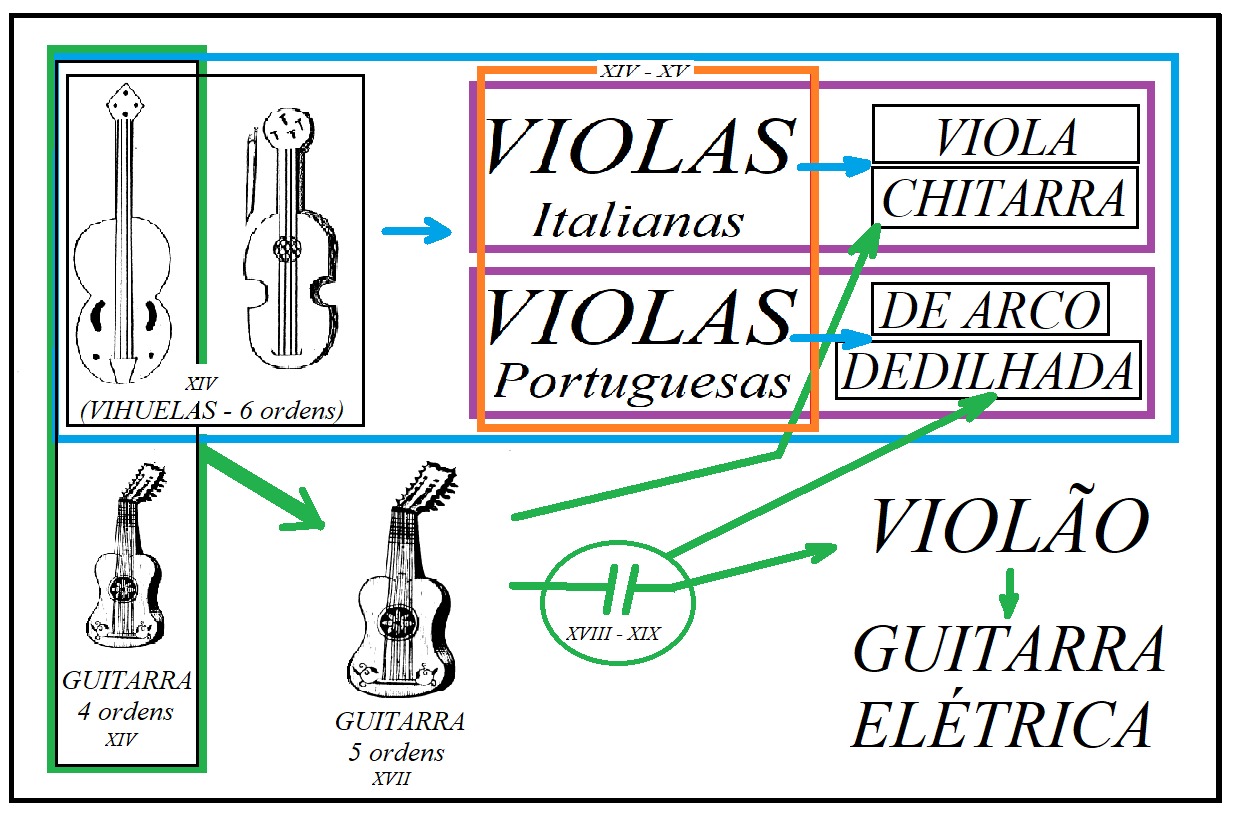
A Importância das Violas
[…] Noch dan quinterna gyge videle lyra rubeba
(“... e ainda aquinterna, giga,videle, lira, rabeca”)
Leia mais em: Canal de Noticias
.jpeg)
VIOLAS EXISTIRAM ANTES DE EXISTIREM
“[...] e outros instrumentos de corda dedilhadaque, na terminologia portuguesa do tempo,também eram compreendidas na designação genérica de *violas de mão*”.[João de Freitas Branco, História da Música Portuguesa, 1959]“[...] para uns é uma “vihuela”, para outros uma “guitarra”.
Para um português esta contenda não faz qualquer sentido,
Leia mais em: Canal de Noticias.

Violas Pretas: antes do SAMBA, das MODINHAS e do CHORO.
(Será que “deu um branco” na História?).“[...] a viola, sendo um excelente instrumento, bastava agora....”
Leia mais em: Canal de Noticias.

QUEM FOI O MAIOR: TIÃO, RENATO OU BAMBICO?
Fazendo um pequeno exercício, conforme o método descrito no livro “A Chave do Baú”, é curiosa a utilização do termo “rei” ...
Leia mais em: Canal de Noticias.
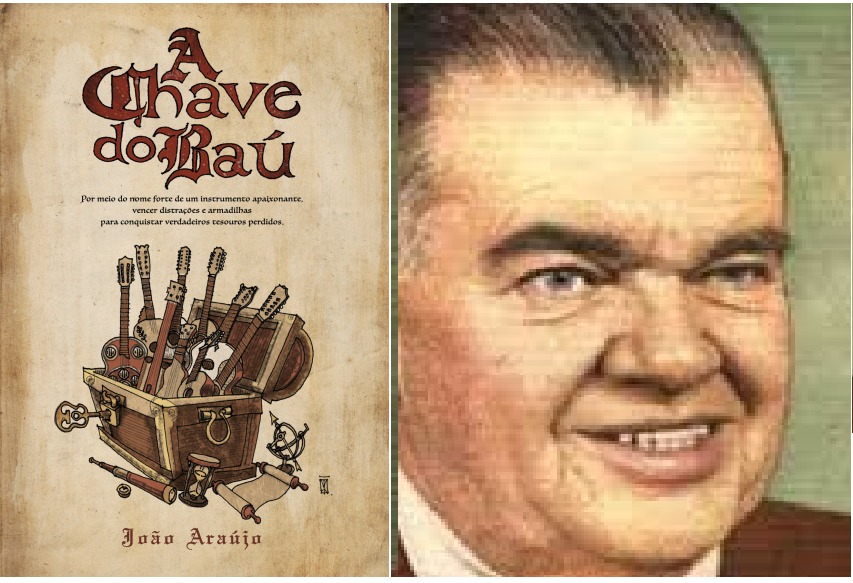
CORNÉLIO PIRES e a MODA-DE-VIOLA
“[...] A pretesto [sic] de narrar casos e mentiras, registro o linguajar do roceiro, expendo considerações ligeiras sobre as necessidades dos nossos caipiras e procuro dar uma pallida ideia da nossa gente... ”. (Cornélio Pires...)
Para o livro "A Chave do Baú", apesar das centenas de textos que existem sobre o caipirismo, um dos vários "tesouros perdidos" que descobrimos é que Cornélio Pires...
Leia mais em: Canal de Noticias.

VIOLA OU VIOLA?
“[...] nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido quando encarado isoladamente, fora dos seus fenômenos circundantes”. [princípios filosóficos do filósofo grego Platão (ca.428 aC.-328 aC.), base da Metodologia Dialética...
Leia mais em: Canal de Noticias.

“SÃO GONÇALO”:
O BEATO ALÉM DAS LENDAS
“São Gonçalo de Amaranto, Fazei-me este pedido
Para o Anno que vier, De vir eu com meu marido”
[jornal O Cearense, 06/08/1871, nº 90, p. 1]
Leia mais em: Canal de Noticias.